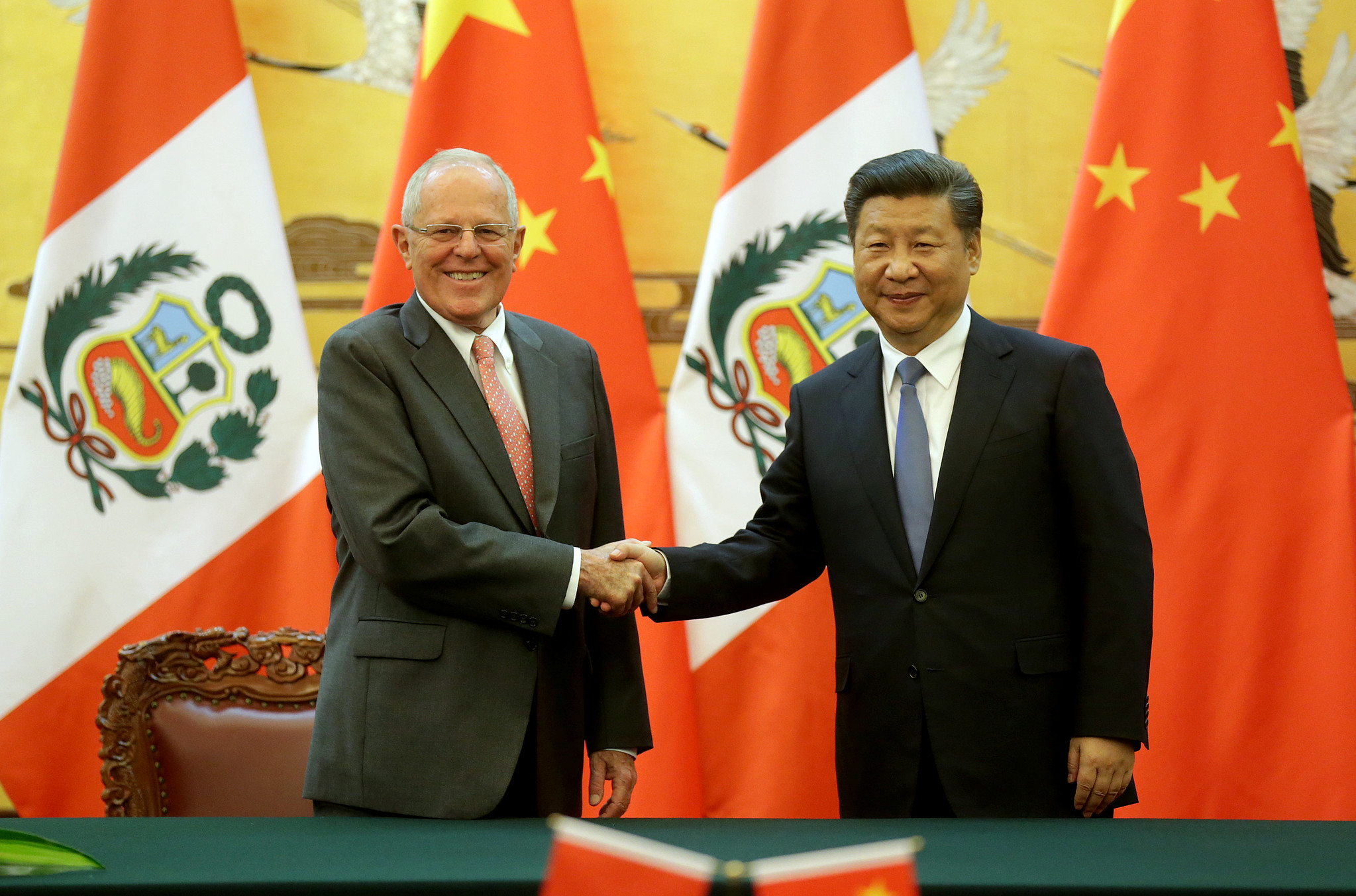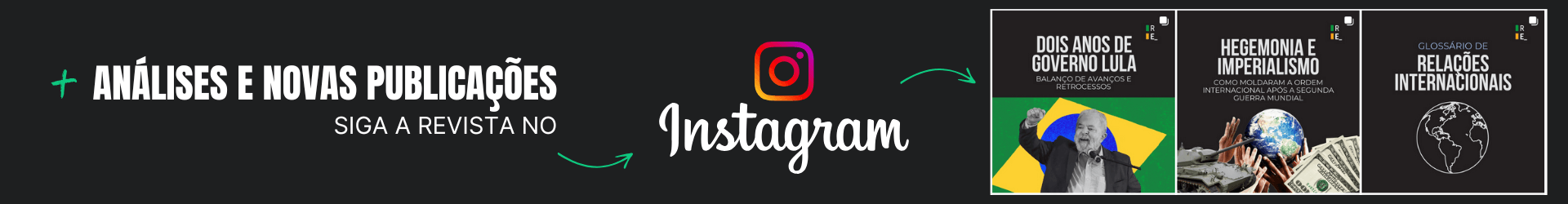A América do Sul no século XXI foi marcada por mudanças políticas significativas, desde a maré rosa (ou guinada à esquerda) na primeira década, passando pela ascensão da direita na segunda década e o retorno da esquerda na terceira década.
As mudanças políticas nos governos sul-americanos influenciam diretamente na política externa dos Estados e, consequentemente, o posicionamento destes acerca da integração regional.
A UNASUL e o PROSUL são iniciativas de integração regional que representam bem cada momento político e permitem visualizar como as trocas de governos e as mudanças nas políticas externas refletem no posicionamento dos países em relação à integração regional e aos processos de integração.
Tendo por metodologia o estudo de caso, analisaremos as mudanças políticas na América do Sul e como elas afetam os processos de integração regional – UNASUL e PROSUL. Para identificar a posição de cada governo no espectro político esquerda-direita, observou-se somente a auto identificação do partido político do presidente em exercício, sem aprofundar nas políticas adotadas de fato a cada momento.
A partir dessa classificação, buscar-se-á compreender quais mudanças ocorreram entre esses processos de integração regional – UNASUL e PROSUL – e como elas se relacionam com as mudanças políticas desses períodos.
Para isso, inicialmente será abordado o cenário político regional neste século, apontando as características de esquerda e da direita sul-americanas, a tendência ao chamado “pêndulo político” e as mudanças ocorridas nos governos dos países da região. Em seguida, serão identificados alguns pontos chave da UNASUL e do PROSUL, estabelecendo um comparativo e identificando semelhanças e diferenças. Por fim, serão apresentadas as características da integração regional sul-americana, que constituem uma dinâmica de integração própria da região.
Política Latinoamericana
A literatura acadêmica afirma que, na América Latina do século XXI, pode-se identificar dois períodos políticos: um giro à esquerda entre 1998 e 2014 (aproximadamente); e um retorno à direita a partir de 2015 (Terán; Delgadillo, 2020).
Randig (2008) indica que a aprovação popular de um governante está relacionada ao crescimento econômico e social do país, e a como esses fatores afetam a população, ou seja, as mudanças de governo ocorrem em períodos de descontentamento com as instituições políticas e econômicas, como explicam Terán e Delgadillo (2020):
O que ocasionou os giros à esquerda e à direita na América Latina? A má imagem dos Estados Unidos na década passada sem dúvida contribuiu para o auge da esquerda na região, e a crescente opinião favorável a esse país, que se produziu a partir de 2008, também pesou para que as forças de direita começassem a se recuperar.
A crise econômica do início da década passada parece ter tido, em boa medida, um papel indireto sobre esse aspecto, já que propiciou um declínio social (observado na diminuição da porcentagem de pessoas com automóvel particular, na redução da média dos anos de escolaridade e no aumento da desigualdade) que favoreceu quem não estava governando nesse momento: a esquerda. Ademais, seu novo status como governo em atuação possibilitou que em muitos casos conservassem o poder por mais de uma década. Porém a posterior ascensão social impulsionada por condições econômicas prósperas tendeu a beneficiar candidatos de direita, que não defendem a redistribuição econômica (ou que a atacam abertamente).
Assim, percebe-se que a alternância de poder na América Latina se dá por elementos factuais, como a situação econômica do país e como essa economia afeta a realidade do eleitorado. Como se verá mais adiante, nisso consiste o chamado “pêndulo político latino-americano”: a alternância de poder entre esquerda e direita, não a partir de ideologias, mas a partir da realidade enfrentada em cada período.
Não obstante, antes de mencionar as mudanças de governos de fato, é necessário esclarecer o que se entende por “esquerda” e “direita” na América Latina (e, portanto, na América do Sul).
Direita e esquerda latino-americanas
Bobbio, Matteucci e Pasquino (1998) definem o Espaço Político como a “área de conflito que constitui a base da relação entre eleitores e partidos, num dado sistema político e num certo momento histórico”. O que os autores chamam de “área do conflito” são, por exemplo, questões sobre a intervenção do Estado na economia, sobre relações entre Igreja e Estado, e outras questões econômicas e sociais que são centrais para o posicionamento do eleitorado (Bobbio; Matteucci; Pasquino, 1998).
O espaço político se define, então, pelo contexto em que se apresentam debates sobre a economia e a sociedade, a partir dos quais os partidos e o eleitorado expressam seus posicionamentos. Para avaliar o espaço político, os autores explicam que o espectro esquerda-direita é a dimensão mais utilizada, tanto na pesquisa científica quanto no debate político, de forma que se torna uma maneira simples de comunicação entre os partidos e os eleitores e, portanto, de identificação entre eles.
Esta dimensão [esquerda-direita] ou continuum tem sido variadamente interpretada. Anthony Dows, o primeiro politólogo que usou de maneira sistemática a noção de Espaço político neste sentido, a interpreta como grau de intervenção do Estado na economia, quando uma posição de esquerda se identifica com uma maior propensão a favor de políticas de intervenção. Para Lipset e muitos outros, o divisor de águas entre esquerda e direita está na atitude favorável ou não às políticas de mudança no status quo. (Bobbio; Matteucci; Pasquino, 1998).
Como visto, o espaço político e as áreas de conflito correspondem ao sistema político e ao momento histórico, ou seja, a análise do espaço político deve levar em consideração o contexto de que se fala. Dessa forma, a América Latina e a América do Sul terão uma forma própria de se identificar e se posicionar no continuum esquerda-direita, já que apresentam um contexto regional – histórico, econômico, social e cultural – particular.
Randig (2008) observa os governos sul-americanos do início do século XXI (Hugo Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador, Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, Michelle Bachelet no Chile, Tabaré Vasquez no Uruguai, Cristina Kirchner na Argentina e Fernando Lugo no Paraguai) e aponta as semelhanças que caracterizariam esses governos como de esquerda:
[…] os oito governantes supracitados possuem de fato algumas semelhanças essenciais: primeiramente, um grande apelo popular, especialmente entre as classes economicamente menos privilegiadas; um programa de governo que atenta para a melhor distribuição de renda, obtida por meio de intervenção ativa do estado na economia; e, finalmente, seu afastamento em algum grau da zona de influência estadunidense em favor de uma maior integração regional. (Randig, 2008).
Assim sendo, identifica-se então tais governos como de esquerda, visto que optam pela intervenção estatal na economia. Vale ressaltar também, considerando o escopo deste estudo, o posicionamento desses governos em relação à política externa, posto que priorizam uma maior integração regional e afastamento da influência estadunidense.
Pêndulo político latino-americano
Conforme mencionado, as mudanças políticas e a alternância de poder na América Latina – e, portanto, na América do Sul – se dão mais por elementos pragmáticos (questões práticas) que ideológicos, ou seja, mais pela realidade social e econômica vivenciada e percebida pela população do que por posicionamentos ideológicos de partidos, políticos e eleitores.
Uma análise mais profunda das atuais tendências da América Latina, portanto, não indica necessariamente um fenômeno ideologizado de uma “virada à esquerda” das populações do continente. O que se vê é, de fato, um processo e busca por mudanças por parte do eleitorado, após os insucessos quase generalizados dos governos latino-americanos do final do século XX. O caráter neoliberal e de direita da maioria desses governos de fato fortaleceu o discurso das esquerdas locais no início deste século.
Em vez de um “giro à esquerda”, o que de fato observa-se atualmente na América Latina é uma canalização dos desejos populares por reformas sociais, e o entendimento dos governantes de que isso só se faz possível com reformas estruturais dos próprios Estados. (Randig, 2008).
No momento em que se inicia o giro à direita, o cenário internacional (e regional) apresenta crises políticas que levam à busca por uma nova alternância do poder (Carné, 2016). As eleições de governos de direita na região, e mesmo em outras regiões, refletem as desconfianças e inseguranças dos eleitores sobre as instituições e governos em exercício.
Essa alternância de poder é observada na América Latina e nomeada “efeito pêndulo”, com mudanças de governo oscilando entre esquerda e direita, correspondendo, no que diz respeito à integração regional, à integração político-institucional e à desintegração regional, respectivamente (Maldonado; López-López, 2022).
Governos sul-americanos no século XXI
A chamada “maré rosa” se refere aos governos à esquerda do espectro político eleitos no início do século XXI na América Latina. Na América do Sul, formam o “giro à esquerda” os seguintes governos: Hugo Chávez na Venezuela a partir de 1999; Lula da Silva no Brasil em 2003 e Dilma Rousseff a partir de 2011; Néstor Kirchner na Argentina em 2003 e Cristina Kirchner a partir de 2007; Fernando Lugo no Paraguai em 2008; Evo Morales na Bolívia em 2005; Rafael Correa no Equador em 2007; Fernando Lugo no Paraguai em 2008; e, no Uruguai, Tabaré Vázquez em 2005, José Mujica em 2009 e novamente Tabaré Vázquez a partir de 2014 (Mazzina; Leiras, 2021).
O fim do ciclo da maré rosa é observada nos anos 2015 e 2016, com novos governos que apresentam elementos conservadores e “tendência divisiva” — com relação à integração (Saltalamacchia, 2020, apud Maldonado; López-López, 2022), marcando um retorno do neoliberalismo (Maldonado; López-López, 2022).
Com uma economia mais liberal, os governos de direita priorizam o regionalismo aberto, que engloba não só a integração econômica regional, mas também a integração extrarregional (Flórez, 2020).
Marcam o giro à direita os seguintes governos: Jair Bolsonaro no Brasil em 2018, Maurício Macri na Argentina em 2015, Mario Benítez no Paraguai em 2018, Lenin Moreno no Equador em 2017, Sebastián Piñera no Chile em 2017, Iván Duque na Colômbia em 2018 e Martin Vizcarra no Peru em 2018 (Flórez, 2020).
Monestier e Vommaro (2024) afirmam que, assim como o giro à esquerda, o giro à direita não implica necessariamente uma mudança ideológica por parte dos eleitores, mas sim uma manifestação do pêndulo político frente a governos desgastados por problemas econômicos e crises políticas.
Nos últimos anos, entretanto, o pêndulo político volta a bascular, de forma que a América do Sul conta com novos presidentes à esquerda do espectro político. Os atuais governos de esquerda são maioria: Luis Arce na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Gabriel Boric no Chile, Gustavo Petro na Colômbia, Irfaan Ali na Guiana, Chan Santokhi no Suriname e Nicolás Maduro na Venezuela. Os demais países seguem representados por governos de direita: Javier Milei na Argentina, Guillermo Lasso no Equador, Mario Benítez no Paraguai, Luis Lacalle Pou no Uruguai e Daniel Noboa no Equador (Maia, 2023; CNN Brasil, 2023).
Esse novo cenário proporciona uma mudança nos posicionamentos sobre a integração regional, de forma que a UNASUL volta a aparecer nos debates políticos tanto em âmbito interno quanto em âmbito internacional, principalmente a partir da eleição de Lula da Silva no Brasil em 2022.
UNASUL vs PROSUL
Com o giro à esquerda, criou-se em 2008 a União das Nações Sul-americanas (UNASUL), com a participação de todos os 12 países da região, incluindo novos temas na agenda regional como soberania e autonomia frente ao sistema internacional. Onze anos depois, a ascensão da direita na região trouxe novos posicionamentos, criando-se uma nova iniciativa por parte de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana e Paraguai: o Foro para o Progresso da América do Sul (PROSUL) que foi criado em 2019 e substituiu a UNASUL com uma proposta mais simplista e genérica de integração regional (Cruz, 2020).
Quadro comparativo
Apresenta-se abaixo um quadro comparativo a partir dos respectivos documentos constitutivos da UNASUL e do PROSUL.
QUADRO 1 – COMPARATIVOS ENTRE UNASUL E PROSUL
| UNASUL | PROSUL | |
| Data de criação | 23 de maio de 2008 | 22 de março de 2019 |
| Países participantes | Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela | Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru |
| Documento constitutivo | Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas | Declaração Presidencial sobre a Renovação e o Fortalecimento da Integração da América do Sul |
| Institucionalização | Organização Internacional com personalidade jurídica de direito internacional público | Fórum de diálogo e colaboração sem personalidade jurídica de direito internacional público |
| Preâmbulo | Ênfase na construção de uma identidade sul-americana | Ênfase na inserção internacional no contexto do multilateralismo |
| Centralidade do Estado | Não há supranacionalidade | |
| Em relação a direitos | Respeito aos direitos humanos, ao direito internacional e à democracia | |
| Eixos temáticos | Integração e união no cultural, social, econômico e político; Prioridade ao diálogo político, às políticas sociais, à educação, à energia, à infraestrutura, ao financiamento e ao meio ambiente, entre outros. | Infraestrutura, energia, saúde, defesa, segurança e combate ao crime, prevenção e manejo de desastres naturais; Democracia, respeito, promoção e proteção dos direitos humanos, a soberania e integridade territorial. |
A criação da UNASUL se dá em um momento em que os posicionamentos políticos convergem em favor do fortalecimento da integração, de maneira que se cria a UNASUL como uma organização internacional. Dessa forma, os países fortalecem seu posicionamento internacional uma vez que os interesses deixam de ser apenas nacionais e passam a ser regionais.
Entretanto, a institucionalização pressupõe maior profundidade do processo de integração e maior comprometimento dos países nessa relação interestatal, de maneira que os governos de direita que emergem com o fim da maré rosa criam o PROSUL, que, em vez de uma organização internacional, constitui-se como foro de diálogo, um espaço para coordenação e cooperação, que não obstante possibilita maior margem para atuação individual no cenário global, bem como maior liberdade para relações bilaterais, enfraquecendo, consequentemente, a integração sul-americana. Essa parece ser a principal diferença entre as duas iniciativas de integração, além da quantidade de países participantes.
Ademais, outros pontos chave da integração regional permanecem similares: ambos os processos rejeitam a supranacionalidade das instituições — ou seja, a soberania dos países permanece imperativa —, reafirmam o compromisso com o Direito Internacional, Direitos Humanos e Democracia, e propõem eixos temáticos múltiplos e não exaustivos, de forma que a integração se mantém flexível aos interesses nacionais e regionais.
Assim, percebe-se que a principal mudança que o PROSUL trouxe foi em relação à institucionalização, de forma que se observa uma rejeição e substituição relativa à forma de integração e não ao conteúdo proposto por seu antecessor. Entretanto, os mais recentes governos de esquerda voltam a priorizar a integração regional e a atuação em bloco, razão pela qual se retomam os debates sobre o retorno da UNASUL que, todavia, ainda não se encontra consolidado.
Características da integração regional na América do Sul
A regionalização da América Latina atualmente se dá em torno de uma identidade comum a partir das características históricas, econômicas, sociais e culturais que explicam interesses convergentes na arena internacional e propiciam a integração.
A integração regional latino-americana do século XXI apresenta novas propostas de aproximação regional – dentre elas a UNASUL –, todas marcadas pela busca por autonomia, intergovernamentalismo com ênfase presidencialista, foco na agenda social e contrução de uma agenda regional (Sánchez, 2019).
Todavia, a crítica que faz Giannattasio (2017) é que a Teoria Geral da Integração deve se autonomizar, ou seja, deixar de replicar um padrão de integração entre os países, permitindo que os processos de integração se desenvolvam de acordo com suas particularidades e necessidades percebidas em cada momento.
Assim, observam-se características próprias do regionalismo latino-americano e sul-americano: ênfase na autonomia e na soberania, diplomacia presidencialista e a propensão a sofrer influências políticas.
Objeção à supranacionalidade
As iniciativas de integração regional na América Latina e América do Sul têm como característica comum a ausência de supranacionalidade, ou seja, nenhum dos processos de integração da região implicam órgãos supranacionais, o que reflete a busca por autonomia e a reafirmação da soberania Estatal, em contraponto a possíveis ingerências estrangeiras.
Com isso, é necessário destacar que a ausência da supranacionalidade é uma característica própria da região, não sendo pertinente fazer uma comparação entre integração latino-americana e a europeia, dados os diferentes contextos históricos, políticos, econômicos e sociais.
Diplomacia presidencial
Segundo Maldonado y López-López (2022), a diplomacia presidencial se caracteriza pelo “excesso de protagonismo dos presidentes na política externa e na gestão direta dos líderes”. Com o protagonismo presidencial, o posicionamento dos países em relação à integração regional fica bastante suscetível às mudanças de governo, principalmente na América Latina onde a alternância de poder tem oscilado entre os extremos do continuum esquerda-direita.
Influência dos posicionamentos políticos na política externa
A autonomia em relação aos Estados Unidos é uma característica comum nas iniciativas de integração do início deste século. No entanto, Bernal-Meza (2013) afirma que esse não seria um fenômeno irreversível, devido à falta de estratégias claras de construção regional, o que representaria uma fragilidade diante de mudanças conjunturais, podendo levar a um realinhamento com os Estados Unidos — algo que, de fato, ocorreu.
As mudanças políticas nos países membros, com a ascensão da direita na região, apresentam uma nova convergência política que redefine as prioridades e os objetivos da regionalização. Guiados por críticas aos processos de integração anteriores, considerados como tendo um “excesso de ideologia”, os novos governos adotam uma postura de antagonismo em relação a seus antecessores, promovendo o retorno a um regionalismo mais liberal e alinhado aos Estados Unidos e, consequentemente, um enfraquecimento da UNASUL (Hernández; Mesquita, 2020).
No entanto, mais recentemente, com as novas mudanças políticas que trazem novamente governos à esquerda na América do Sul, esses tendem a convergir no sentido de que a UNASUL ainda seria a melhor opção para reconstruir um espaço de cooperação e coordenação sul-americana, levando em consideração e ajustando as deficiências do período anterior (Maldonado; López-López, 2022).
Conclusão
A partir do caso da UNASUL e do PROSUL, é possível perceber algumas características próprias da integração regional sul-americana, destacando-se, aqui, a forte influência política dos governos nacionais sobre os processos de integração.
Trata-se de uma singularidade da região, que não se resolve com a aplicação de modelos estrangeiros (como o europeu), mas sim considerando a centralidade dos Estados no regionalismo sul-americano: o fortalecimento da integração regional sul-americana depende da moderação política e do pragmatismo das instituições, rejeitando cenários de extremismo e revanchismo.
Por fim, estudos futuros podem analisar como diferentes dinâmicas no cenário internacional afetam a estabilidade do regionalismo na América do Sul, considerando os desafios políticos e estruturais enfrentados pelos blocos regionais nesse contexto, desde a relação entre blocos (Mercosul-UE) até as relações entre representantes dos Estados que, devido à diplomacia presidencial, têm um peso significativo para a América do Sul.
Referências
BERNAL-MEZA, Raúl. Modelos o esquemas de integración y cooperación en curso en América Latina (UNASUR, Alianza del Pacífico, ALBA, CELAC): una mirada panorámica. 2013. Disponível em: http://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Ibero-Online/Ibero_Online_12.pdf. Acesso em: 15 mar. 2024.
BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998.
CARNÉ, Jonatán. ¿América Latina da un Giro a la Derecha?. 2016. Disponível em: https://blog.sabf.org.ar/america-latina-da-un-giro-a-la-derecha/. Acesso em: 15 mar. 2024.
CNN BRASIL. Empresário Daniel Noboa é eleito presidente do Equador. 2023. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/empresario-daniel-noboa-e-eleito-presidente-do-equador/. Acesso em: 02 mar. 2024.
CRUZ, Dayana Aparecida Marques de Oliveira. Os rumos da integração regional no subcontinente: da UNASUL ao PROSUL, o que mudou? Revista de Geopolítica, v. 11, n. 4, pp. 111-122, out/dez 2020. Disponível em: http://www.revistageopolitica.com.br/index.php/revistageopolitica/article/view/306. Acesso em: 15 mar. 2024.
DECLARACIÓN PRESIDENCIAL SOBRE LA RENOVACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA DEL SUR. Santiago, 22 mar. 2019.
FLÓREZ, Marco Antonio Burgos. El giro a la derecha de la política Suramericana y sus implicaciones en la integración económica regional. Estudios latinoamericanos, 2020, pp. 123-134. Disponível em: https://doi.org/10.22267/rceilat.204647.91. Acesso em: 15 mar. 2024.
GIANNATTASIO, Arthur Roberto Capella. Tradição e crítica no conhecimento sobre direito da integração. Revista Direito GV, v. 13, n. 3, 2017. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/2317-6172201729. Acesso em: 15 mar. 2024.
HERNÁNDEZ, Lorena Granja.; MESQUITA, Bárbara de Castro Moreira. Da UNASUL ao PROSUL: dinâmicas das convergências ideológicas regionais. Monções: Revista de Relações Internacionais da UFGD, v. 9, n. 18, 2020. Disponível em: https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/moncoes/article/view/11972. Acesso em: 15 mar. 2024.
MAIA, Mateus. Lula recebe 10 presidentes sul-americanos para retomar diálogo. Poder 360. 2023. Disponível em: https://www.poder360.com.br/governo/lula-recebe-10-presidentes-sul-americanos-para-retomar-dialogo/. Acesso em: 02 mar. 2024.
MALDONADO, Andrea del Carmen Mila.; LÓPEZ-LÓPEZ, Paulo Carlos. Así nos vemos: novos tempos na (des)integración latinoamericana. Tempo exterior, n. 45, v. 23, 2022, pp. 139-154. Disponível em: https://www.academia.edu/download/98307177/tempoexterior_45_web_139_154_1_.pdf. Acesso em: 15 mar. 2024.
MAZZINA, Constanza.; LEIRAS, Santiago. América Latina em el siglo XXI: del firo a la izquierda a la fragmentación ideológica. Revista Relaciones Internacionales, 3, 2021, pp. 111-130. Disponível em: https://revistas.ues.edu.sv/index.php/reinter/article/view/2070. Acesso em: 15 mar. 2024.
MONESTIER, Felipe.; VOMMARO Gabriel. Los partidos de la derecha en América Latina tras el giro a la izquierda. Apuntes para una agenda de investigación. Revista Uruguaya de Ciencia Política, 30(1), 2021. pp. 7-22. Disponível em: http://www.scielo.edu.uy/pdf/rucp/v30n1/1688-499X-rucp-30-01-7.pdf. Acesso em: 15 mar. 2024.
RANDIG, Rodrigo Wiese. Nadando contra a “maré vermelha”: análise da suposta tendência à esquerda da América Latina. Meridiano 47, n. 46, jun 2008, pp. 32-35. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/MED/article/download/3267/2952. Acesso em: 15 mar. 2024.
SALTALAMACCHIA, N. La CELAC en 2010 y su vinculación con actores extrarregionales. In: GRABENDORFF, W.; SERBIN, A. Los actores globales y el redescubrimiento de América Latina. Barcelona: Editorial Icaria; CRIES. 2020. pp. 59-68.
SÁNCHEZ, Fabio. Unasur y Prosur, el dilema suramericano. In: MORALES, Catherine Ortiz.; POSADA, Edgar Vieira. (eds.) Nuevas propuestas de integración regional: tendencias y retos de transformación. Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.16925/9789587602036. Acesso em: 15 mar. 2024.
TERÁN, Mario Alejandro Torrico.; DELGADILLO, Diego Solís. Voto ideológico, ¿Por qué los latinoamericanos votan por la izquierda o la derecha? Foro Internacional, 60(1), 2020, pp. 175-226. Disponível em: https://doi.org/10.24201/fi.v60i1.2537. Acesso em: 15 mar. 2024.
TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS. Brasília, 23 maio 2008.