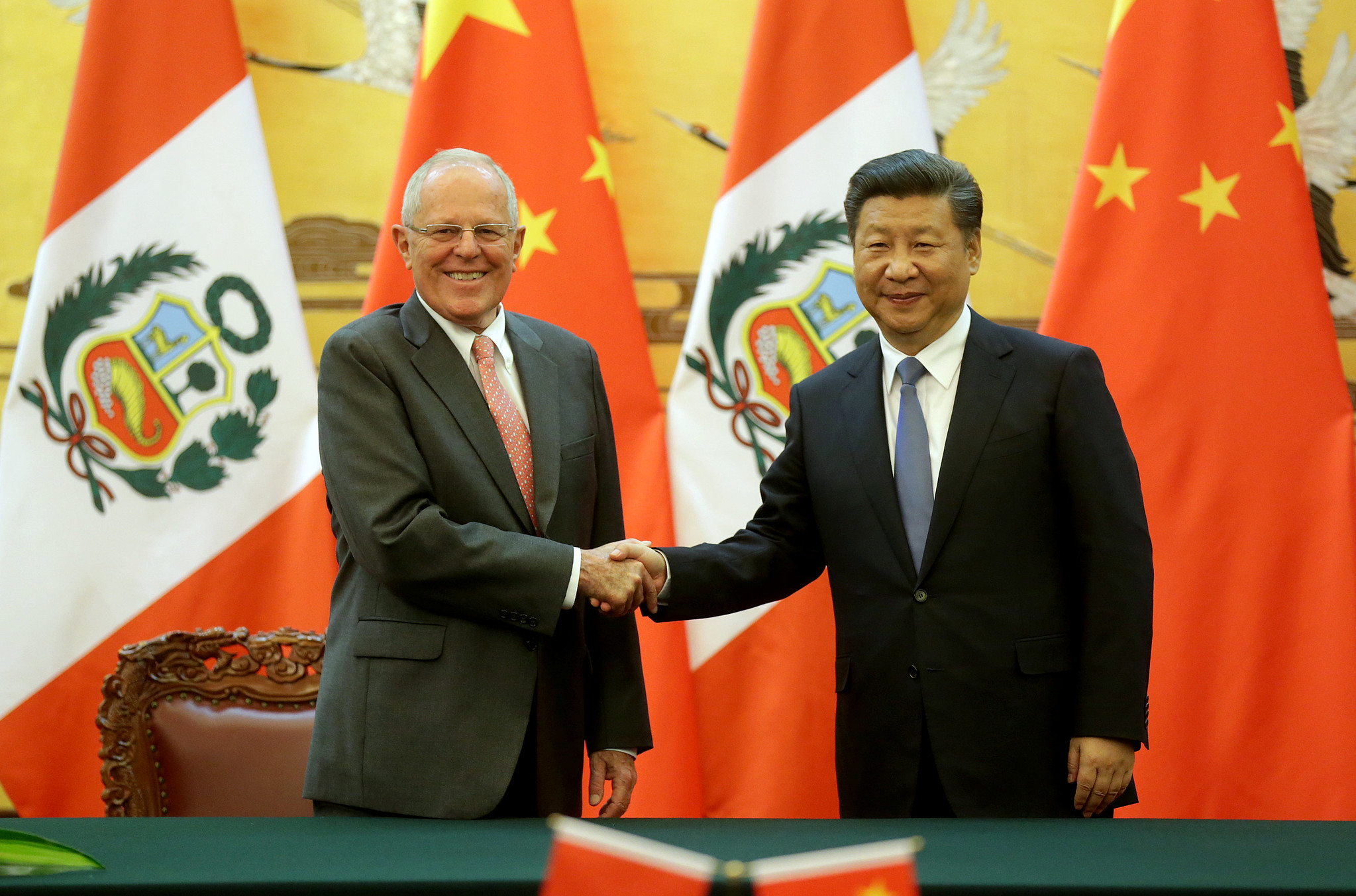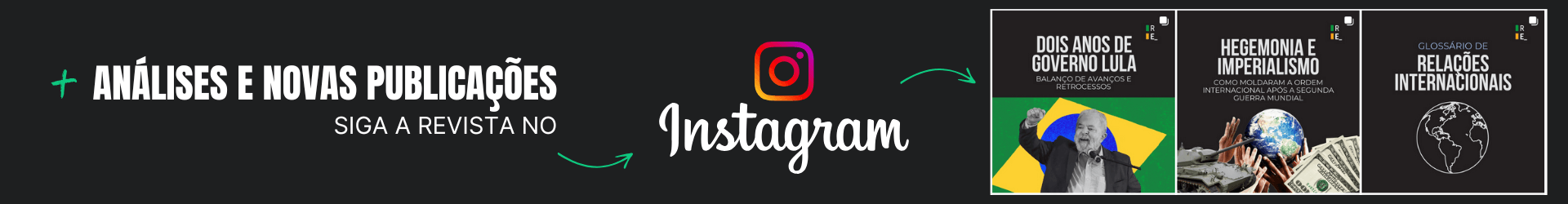A política ambiental brasileira tem ocupado papel central nos debates internacionais, sobretudo pela relevância da Amazônia como patrimônio ecológico e geopolítico. Este artigo analisa a condução da política ambiental durante o governo Bolsonaro (2019–2022), destacando como o desmonte institucional e o alinhamento a setores extrativistas impactaram a imagem internacional do país. Argumenta-se que a política interdoméstica foi orientada por interesses de curto prazo vinculados ao agronegócio e à mineração, em detrimento dos compromissos com a sustentabilidade. A partir de uma pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico e documental, examinam-se três dimensões: a transformação institucional da política ambiental, a relação entre comércio internacional e fragilização da governança, e os efeitos concretos sobre a proteção dos biomas e das populações que deles dependem. Os resultados indicam que o período foi marcado pela priorização de ganhos imediatos, pela financeirização da natureza e pela incorporação de mecanismos de mercado que reforçaram o extrativismo sob novas roupagens, como o green grabbing e os créditos de carbono. Tais processos fragilizaram a governança ambiental, ampliaram a vulnerabilidade da inserção internacional do Brasil e comprometeram sua credibilidade em negociações multilaterais. Conclui-se que o reposicionamento do país como liderança ambiental dependerá de transformações estruturais que articulem justiça social, proteção da biodiversidade e ruptura com a lógica predatória de acumulação.
Sumário
Introdução
A política ambiental constitui um dos eixos centrais da governança global, na medida em que orienta estratégias voltadas à sustentabilidade, à conservação dos recursos naturais e à mitigação de impactos socioambientais. Mais do que uma dimensão técnica, trata-se de um campo que expressa disputas políticas, econômicas e epistemológicas acerca dos rumos do desenvolvimento. No âmbito das Relações Internacionais (RI), esse debate adquire relevância ainda maior, visto que os desafios ecológicos, como as mudanças climáticas e a degradação ambiental, não reconhecem fronteiras estatais e exigem formas inéditas de cooperação internacional.
O Brasil ocupa posição estratégica nesse cenário. Por abrigar a maior floresta tropical do mundo, o país historicamente buscou protagonismo em fóruns multilaterais, como a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cúpula da Terra). No entanto, a agenda ambiental não pode ser compreendida apenas como uma questão ecológica, mas também como um espaço de tensionamento entre projetos de sociedade. Ignacy Sachs (2008; 2009) já apontava que o desenvolvimento sustentável deve ser includente e articulado, contemplando simultaneamente dimensões sociais, econômicas, culturais e territoriais, enquanto Enrique Leff (2009) ressalta que a racionalidade ambiental demanda alternativas contra-hegemônicas, capazes de valorizar os saberes locais e questionar a financeirização da natureza.
Nesse contexto, compreender o lugar da Amazônia no debate internacional é compreender também os limites e contradições da governança ambiental global. A ascensão de mecanismos de compensação financeira, como créditos de carbono e certificações, revela a tentativa de conciliar conservação e mercado, mas também expõe a persistência de práticas extrativistas em novas roupagens (Leff, 2009). A centralidade da floresta, portanto, não se restringe à sua biodiversidade, mas está ligada ao seu papel simbólico e geopolítico nas disputas por modelos de desenvolvimento.
É diante desse quadro que se insere a presente pesquisa, voltada à análise da política ambiental brasileira durante o governo Bolsonaro (2019–2022). Busca-se responder à seguinte questão: de que maneira a condução da agenda ambiental nesse período influenciou a percepção internacional sobre o Brasil e impactou sua imagem política e econômica no cenário externo? Parte-se da hipótese de que a política interdoméstica — entendida, à luz de Fraser (2008), como a sobreposição entre o espaço doméstico e o internacional, permeado pela atuação de atores estatais e não estatais — foi guiada por interesses políticos e econômicos que resultaram na deterioração da credibilidade do país no sistema internacional.
O objetivo geral do estudo é analisar a atuação internacional do governo Bolsonaro na política ambiental, com foco na Amazônia. Para tanto, estabelecem-se como objetivos específicos: examinar a política interdoméstica no período; investigar as negociações comerciais que impactaram a preservação da floresta; e avaliar a proteção dos povos indígenas e a fiscalização das instituições ambientais.
Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, descritivo e explicativo, sustentada em procedimentos bibliográficos e documentais. Segundo Prodanov e Freitas (2013), esse tipo de abordagem permite compreender a dinâmica entre sujeito e realidade, articulando variáveis interdependentes e interpretando fenômenos em sua complexidade. Em adição, Arrighi (2017) acrescenta que os fluxos de capitais transnacionais passaram a reorganizar os centros dinâmicos de acumulação, deslocando o eixo da expansão capitalista para territórios do Sul Global, o que aprofunda os dilemas da inserção brasileira no cenário internacional e seus impactos sobre a governança ambiental.
Do Controle ao Desmonte: A Transformação da Política Ambiental no Governo Bolsonaro
A política ambiental brasileira, consolidada a partir da Constituição de 1988, firmou-se como um campo estratégico para articular desenvolvimento e conservação. Nesse processo, órgãos como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) desempenharam papéis centrais no monitoramento, na fiscalização e na implementação de políticas públicas voltadas à preservação dos biomas. A trajetória construída nas décadas seguintes projetou o Brasil como ator de destaque nas negociações multilaterais sobre mudanças climáticas e biodiversidade, reforçando sua imagem de liderança ambiental.
Com a ascensão de Jair Bolsonaro à presidência em 2019, o percurso das políticas ambientais brasileiras sofreu uma inflexão significativa. Um dos primeiros movimentos institucionais foi a extinção de conselhos e comitês participativos ligados ao Fundo Amazônia, como o Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA) e o Comitê Técnico do Fundo Amazônia (CTFA), instâncias responsáveis por garantir transparência e deliberação compartilhada na gestão dos recursos. O Decreto nº 9.759/2019, conforme analisa Ramos (2021), esvaziou esses espaços de governança e resultou na paralisação da contratação de projetos, levando à suspensão dos repasses internacionais. De acordo com Messina, Tanaca e Pimentel (2022), essa medida bloqueou cerca de R$ 2,9 bilhões em doações provenientes da Noruega e da Alemanha, interrompendo o funcionamento regular do Fundo Amazônia.
As consequências foram amplas: o enfraquecimento dos mecanismos participativos de controle social e a expansão de práticas ilegais, como o garimpo em terras indígenas e a grilagem de áreas públicas, que, segundo Fearnside (2021), intensificaram-se de forma alarmante, sobretudo na Amazônia. Em conjunto, esses episódios ilustram a estratégia governamental de desmonte da governança ambiental e de centralização política das decisões, substituindo um modelo de participação democrática por outro orientado à concentração de poder e à flexibilização da proteção ambiental.
Desse modo, durante o governo Bolsonaro consolidou-se uma aliança estrutural entre o poder público e setores econômicos ligados ao agronegócio, à mineração e à exploração madeireira. Essa convergência tornou-se visível na redução do orçamento ambiental, na flexibilização de normas e na substituição de técnicos por militares em cargos estratégicos. Segundo a Associação Nacional dos Servidores de Meio Ambiente (2020), entre 2019 e 2021 o orçamento do Ministério do Meio Ambiente foi reduzido em cerca de 30%, e o número de autuações do Ibama caiu mais de 40%, atingindo a menor taxa de fiscalização em duas décadas. Ainda conforme a entidade, a substituição de servidores técnicos e a concentração de decisões em instâncias militares desestruturaram o sistema de controle ambiental.
No plano internacional, os efeitos foram imediatos. De acordo com o Observatório do Clima (2022), as queimadas de 2019 e 2020 atingiram níveis recordes, e o desmatamento anual ultrapassou 10.000 km², o maior índice desde 2008. Diante desse cenário, governos estrangeiros — especialmente os da França e da Irlanda — passaram a condicionar a ratificação do acordo Mercosul–União Europeia à reversão do desmonte ambiental. Além disso, conforme reportou o Brasil de Fato (2023), diversos fundos de investimento internacionais suspenderam recursos destinados ao país. Assim, o Brasil, outrora reconhecido por sua liderança ambiental, passou a enfrentar crescente isolamento e desconfiança nos fóruns multilaterais.
Esse cenário pode ser interpretado a partir das reflexões de Milani (2012), segundo as quais a cooperação Norte–Sul ainda reproduz relações assimétricas de poder, perpetuando hierarquias e dependências históricas. Ao enfraquecer suas instituições ambientais e relativizar compromissos internacionais, o Brasil aumentou sua vulnerabilidade externa e comprometeu a autonomia de sua política ambiental. Em consonância com essa perspectiva, Svampa (2020) observa que a América Latina vivenciou, nesse período, a consolidação de um ciclo neoextrativista, em que a exploração intensiva dos recursos naturais é justificada por um discurso nacionalista e pela promessa de crescimento econômico. No caso brasileiro, essa retórica legitimou o avanço da fronteira agropecuária sobre áreas protegidas e a recusa sistemática à fiscalização internacional.
Segundo o Brasil de Fato (2023), entre 2019 e 2022 a Amazônia perdeu aproximadamente 45.000 km² de floresta, e as emissões de dióxido de carbono duplicaram, transformando a região — historicamente sumidouro de carbono — em emissora líquida. Esse cenário evidencia uma mudança estrutural: de uma política ambiental baseada no controle e na cooperação, passou-se a uma lógica de desmonte e isolamento, marcada pela subordinação dos interesses públicos à lógica do mercado.
Lucro vs. Sustentabilidade: O Papel do Comércio na Fragilização da Governança Ambiental
O desmonte institucional promovido pelo governo Bolsonaro não ocorreu de forma isolada; ele esteve intrinsecamente ligado ao modelo econômico que orientou sua gestão. Ao privilegiar setores intensivos em recursos naturais, como o agronegócio e a mineração, a política ambiental foi reconfigurada de modo a servir prioritariamente à expansão comercial. Nesse contexto, o discurso da soberania sobre a Amazônia convergiu com a lógica de maximização de lucros de curto prazo, relegando a segundo plano compromissos de sustentabilidade e de preservação da biodiversidade.
Essa dinâmica está diretamente vinculada ao que Cordani (1995) denomina de mundialização, conceito que, embora empregado como sinônimo de globalização, envolve não apenas dimensões econômicas, mas também sociais e culturais. Desde o período colonial, os recursos naturais integraram redes transnacionais de circulação; contudo, até meados do século XX, sua exploração esteve em grande medida subordinada às estratégias nacionais de desenvolvimento, nas quais o Estado desempenhava papel regulador central. No contexto contemporâneo, entretanto, a lógica da exploração de recursos deslocou-se para mercados globais, que os tratam como ativos estratégicos, diretamente articulados às dinâmicas financeiras internacionais.
Nessa direção, Diniz (2006) destaca como a implementação da agenda neoliberal nos anos 1990, com medidas como ajuste fiscal, privatizações, liberalização comercial e financeira e desregulamentação, produziu uma profunda reestruturação produtiva, marcando a inserção dependente da América Latina na ordem econômica global. Ainda que os anos 2000 tenham sido caracterizados por governos de centro-esquerda que buscaram maior autonomia e integração regional, persistiram desafios estruturais relacionados à vulnerabilidade externa e à dependência de mercados internacionais voláteis. Essa conjuntura reforçou a reprimarização econômica brasileira e a fragilidade de suas respostas às pressões ambientais globais.
Nesse cenário, Antunes (2011) interpreta o metabolismo social do capital como uma engrenagem que opera pela exploração intensiva da força de trabalho e dos recursos naturais, ignorando os custos socioecológicos dessa lógica. A apropriação mercadológica da retórica ambiental, expressa em instrumentos como créditos de carbono e programas de compensação, reflete esse processo de alienação. Para Souza (2009), conceitos como “meio ambiente” e “sustentabilidade” passaram a operar como metáforas do capitalismo, categorias esvaziadas que, em vez de promoverem uma crítica efetiva, são incorporadas como recursos discursivos funcionais à reprodução da acumulação.
De maneira complementar, Fairhead, Leach e Scoones (2012) conceituam o green grabbing como a apropriação de terras e territórios em nome da conservação ambiental, processo que frequentemente desconsidera os direitos de comunidades locais e serve para legitimar novas formas de expropriação. Haslam e Heidrich (2016) reforçam essa análise ao demonstrar como a transição do neoliberalismo para o nacionalismo dos recursos nos anos 2000 redefiniu a relação entre Estado e empresas, sem, no entanto, romper com a centralidade do extrativismo. Pelo contrário, mecanismos como o mercado de carbono expressam a continuidade de uma lógica em que os bens ambientais são transformados em ativos financeiros, reforçando a subordinação da política ambiental à racionalidade econômica.
Assim, a política ambiental no governo Bolsonaro esteve profundamente atravessada por essa lógica de mercado, em que a busca por ganhos imediatos prevaleceu sobre compromissos de longo prazo com a sustentabilidade. O resultado foi a fragilização da governança ambiental, tanto na esfera doméstica quanto no cenário internacional, comprometendo a credibilidade do Brasil em negociações multilaterais e expondo seus biomas a riscos crescentes. Essa tensão entre interesses econômicos e compromissos ambientais abre caminho para a análise do próximo bloco, no qual se examinam os impactos concretos desse processo sobre a proteção dos biomas e das populações que deles dependem.

Governança em Crise: A Luta para Proteger os Biomas Brasileiros
A governança ambiental no Brasil tem se caracterizado por avanços normativos importantes, mas também por retrocessos institucionais que refletem disputas entre interesses econômicos e compromissos internacionais. A Constituição de 1988 e a Conferência Rio-92 projetaram o país como protagonista ambiental, consolidando um aparato jurídico robusto para proteção dos biomas. Contudo, esse processo se desenvolveu em meio à expansão do capitalismo global, que, como analisa Chesnais (1996), promoveu a mundialização do capital e subordinou as agendas sociais e ambientais às exigências da financeirização e da liberalização dos mercados. Assim, a sustentabilidade, embora proclamada, foi tensionada pela lógica de acumulação e pela pressão de setores extrativistas.
A descentralização institucional do modelo brasileiro, que em tese permitiria maior adaptação às particularidades regionais, revelou-se ineficaz diante da fragmentação administrativa, da sobreposição de competências e da escassez de recursos técnicos e financeiros. Esse contexto, de fato, enfraqueceu a fiscalização e abriu caminho para a expansão de crimes ambientais, como o desmatamento, a grilagem e as queimadas ilegais. Conforme dados do Observatório do Clima (2022), entre 2019 e 2021 a aplicação de multas ambientais caiu quase 90%, enquanto as áreas atingidas por incêndios florestais cresceram de forma contínua. Tal situação foi agravada, segundo Nunes e Pereira (2024), pela militarização dos órgãos ambientais e pela narrativa presidencial de que a fiscalização representaria um obstáculo ao desenvolvimento nacional. Essa combinação de fatores contribuiu para o aumento da impunidade e para a legitimação social de práticas ilícitas que aceleraram a degradação dos biomas brasileiros.
O avanço do agronegócio e da mineração ilustra de forma emblemática essa contradição. De acordo com Arruda, Chaebo e Thiago (2023), a política econômica pautada pela desregulação e pela abertura comercial resultou na expansão da fronteira produtiva sobre áreas de preservação e territórios indígenas. Paralelamente, Fialho et al. (2022) observam que o país registrou a liberação de mais de 1.500 novos agrotóxicos entre 2019 e 2022, muitos deles proibidos em países da União Europeia. Essa liberalização, somada ao incentivo à pecuária extensiva, provocou a contaminação de rios e solos e ampliou os riscos à saúde humana e à biodiversidade. Em consonância com Sousa et al. (2024), tais práticas revelam que o fortalecimento econômico do agronegócio ocorreu à custa da degradação ambiental e de tensões diplomáticas crescentes com parceiros comerciais.
As consequências desse modelo são visíveis na perda acelerada de biodiversidade e na intensificação de conflitos sociais. Povos indígenas e comunidades tradicionais têm enfrentado deslocamentos e invasões de seus territórios, fenômeno que Sassen (2016) descreve como “expulsões”: processos estruturais de despossessão que desestabilizam modos de vida e subordinam territórios às exigências da rentabilidade global. Ao mesmo tempo, a degradação ambiental reduziu significativamente a capacidade do Brasil de cumprir seus compromissos climáticos e de manter protagonismo nas negociações multilaterais.
Segundo Silva e Vinha (2024), o descumprimento das metas do Acordo de Paris, aliado à paralisação do Fundo Amazônia e à descontinuidade do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), evidenciou o desinteresse governamental em consolidar uma agenda sustentável. Em consequência, conforme análise do Brasil de Fato (2023), o país passou a figurar entre os dez maiores emissores globais de carbono, revertendo os avanços obtidos entre 2004 e 2012.
Na avaliação de Fearnside (2019), essa postura negacionista corroeu a confiança na ciência e minou o diálogo internacional, comprometendo não apenas a imagem ambiental do Brasil, mas também sua credibilidade política e econômica. Assim, um país que historicamente fora referência em preservação passou a ser visto como paradigma de retrocesso, enfrentando sanções comerciais, boicotes diplomáticos e bloqueios de investimento estrangeiro.
Diante desse quadro, evidencia-se que a crise da governança ambiental brasileira é estrutural, e não meramente conjuntural. O enfraquecimento institucional, a priorização de ganhos econômicos imediatos e a submissão ao capital internacional formam um padrão recorrente. Para Mészáros (2006), tal lógica representa um paradoxo fundamental: o capital, ao buscar sua reprodução ampliada, corrói progressivamente as próprias bases materiais que sustentam a vida. Essa contradição coloca em xeque a possibilidade de conciliar o atual modelo de desenvolvimento com a preservação ambiental. Assim, apenas por meio de transformações estruturais, que articulem justiça social, participação popular e uma ruptura com a lógica predatória de acumulação, será possível reposicionar o Brasil como ator efetivamente comprometido com a sustentabilidade e a defesa de seus biomas.
Considerações Finais
A trajetória da política ambiental brasileira evidencia um campo de tensões permanentes entre desenvolvimento econômico, preservação dos biomas e compromissos internacionais. Se por um lado o país construiu um arcabouço normativo relevante e chegou a ocupar posição de destaque em fóruns globais, por outro, os retrocessos institucionais recentes mostraram a fragilidade da governança ambiental diante de interesses econômicos imediatistas e da pressão exercida por setores extrativistas.
Essa realidade demonstra que a crise ambiental brasileira é mais do que conjuntural: ela reflete limites estruturais de um modelo de desenvolvimento que ainda se apoia na exploração intensiva da natureza e na mercantilização dos recursos. A fragmentação administrativa, a falta de prioridade orçamentária e a submissão a dinâmicas transnacionais de acumulação tornaram evidente a dificuldade de compatibilizar crescimento econômico com sustentabilidade efetiva.
Diante desse cenário, o reposicionamento do Brasil como liderança ambiental dependerá não apenas da recomposição institucional, mas sobretudo da adoção de um novo paradigma que articule justiça social, proteção da biodiversidade e democratização da formulação de políticas públicas. O fortalecimento de comunidades locais, a valorização da bioeconomia e a integração entre meio ambiente e inclusão social podem oferecer alternativas viáveis para superar a lógica predatória que historicamente moldou a governança ambiental do país.
Portanto, mais do que retomar compromissos internacionais, o desafio brasileiro consiste em construir um projeto de futuro no qual a sustentabilidade não seja apenas retórica, mas prática concreta de desenvolvimento. Somente assim o país poderá recuperar sua credibilidade externa e assegurar, para as próximas gerações, a preservação de sua diversidade socioambiental e o exercício pleno de sua soberania.
Referências
ANTUNES, Ricardo. O sistema de metabolismo social do capital e seu corolário, a alienação, na obra de István Mészáros. In: JINKINGS, Ivana; NOBILE, Rodrigo (org.). István Mészáros e os desafios do tempo histórico. São Paulo: Boitempo, 2011.
ARRIGHI, Giovanni. Adam Smith em Pequim: origens e fundamentos do século XXI. São Paulo: Boitempo, 2017.
ARRUDA, Marcelo Esnarriaga de; CHAEBO, Gemael; THIAGO, Fernando. NEOLIBERALISMO E DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA NO GOVERNO JAIR BOLSONARO. Revista Professare, 2023.
ASCEMA NACIONAL. Ações do governo Bolsonaro para desmontar as políticas de meio ambiente no Brasil. Brasília, 2020. Disponível em: https://iieb.org.br/wp-content/uploads/2021/08/Ascema.pdf
BRASIL DE FATO. Desmonte ambiental de Bolsonaro fez Amazônia dobrar emissões de gás carbônico, diz estudo publicado na Nature. São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2023/08/24/desmonte-ambiental-de-bolsonaro-fez-amazonia-dobrar-emissoes-de-gas-carbonico-diz-estudo-publicado-na-nature/
CHESNAIS, François A mundialização do capital / François Chesnais ; tradução Silvana Finzioá. — São Paulo : Xamã, 1996.
CORDANI, Umberto G. As ciências da Terra e a mundialização das sociedades. Estudos avançados, v. 9, p. 13-27, 1995.
DINIZ, Eli. O Pós-Consenso de Washington: globalização, Estado e desenvolvimento revisitados. RES Pvblica, p. 09-27, 2006.
FEARNSIDE, Philip. Desmatamento ilegal zero, mais uma distorção do Bolsonaro. Manaus: Amazônia Real, 2021. Disponível em: https://amazoniareal.com.br/desmatamento-ilegal-zero-mais-uma-distorcao-do-bolsonaro/
FEARNSIDE, Philip. Os números do desmatamento são reais apesar da negação do presidente Bolsonaro. Manaus: Amazônia Legal, 2019. Disponível em: https://amazoniareal.com.br/os‐numeros‐do‐desmatamento‐sao‐reais‐apesar‐da‐negacao‐do‐presidente‐bolsonaro/
FIALHO, Sara; FREITAS, Alan Ferreira de; OLIVEIRA, Marcelo Leles Romarco de. A “Nova” agenda ambiental brasileira e desmonte institucional: Meio ambiente como entrave ao desenvolvimento?. Encontro Brasileiro de Administração Pública, 2022.
FRASER, Nancy. Escalas de Justicia. Barcelona: Herder, 2008.
HASLAM, Paul; HEIDRICH, Pablo. From neoliberalism to resource nationalism: States, firms and development. In: The political economy of natural resources and development. Routledge, 2016. P. 1-32.
LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade ambiental. Rio de Janeiro: Vozes, 2009.
MILANI, Carlos. Aprendendo com a história: críticas à experiência da Cooperação Norte-Sul e atuais desafios à Cooperação Sul-Sul. Caderno Crh, v. 25, p. 211-231, 2012.
MESSINA, Leonardo Denardi; TANACA, Aline; PIMENTEL, Andréa Eloisa Bueno. O desmonte das políticas ambientais no Brasil (2019–2022): estratégias e impactos sob o governo Bolsonaro. São Paulo: XIX Jornada Científica de Administração Pública, 2025.
MÉSZÁROS, István. Para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2006.
OBSERVATÓRIO DO CLIMA. O terceiro ano de destruição ambiental sob Jair Bolsonaro. São Paulo, 2022. disponível em: https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2022/02/A-conta-chegou-HD.pdf
PRODANOV, Cleber Cristiano; DE FREITAS, Ernani Cesar. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico – 2ª Edição. Editora Feevale, 2013.
RAMOS, Adriana. Amazônia sob Bolsonaro. Aisthesis, n. 70, p. 287–310, 2021.
SACHS, Ignacy. A terceira margem: em busca do ecodesenvolvimento. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.
SASSEN, Saskia. Expulsões: brutalidade e complexidade na economia global. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016.
SOUSA, Clifftianny Alves et al. A despolítica ambiental do Governo Bolsonaro como expressão da questão social. Revista Serviço Social em Perspectiva, v. 8, n. 2, p. 193-215, 2024.
SOUZA, Maria Adélia Aparecida de. Meio ambiente e desenvolvimento sustentável. As metáforas do capitalismo. Revista Cronos, v. 10, n. 2, 2009.
SILVA, Débora Maria Carvalho da; VINHA, Valéria Gonçalves da. Desmonte ambiental no Brasil: avanços e lacunas no conhecimento. Revista de Administração Pública, v. 59, n. 1, p. e2024-0178, 2025.
SVAMPA, Maristella. As fronteiras do neoextrativismo na América Latina: conflitos socioambientais, giro ecoterritorial e novas dependências. São Paulo: Editora Elefante, 2020.
Conheça os Cursos de Política Externa da Revista aqui.
Cilze Klauren Souza Nascimento é graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Tocantins. Atua com foco em modelos socioambientais, políticas públicas, empoderamento feminino e valorização da biodiversidade. Atualmente, é gestora de análise de políticas na Life of Pachamama. Também é membro da Rede Amazônidas pelo Clima (RAC), voluntária no Engajamundo e embaixadora global da juventude pela organização Theirworld.