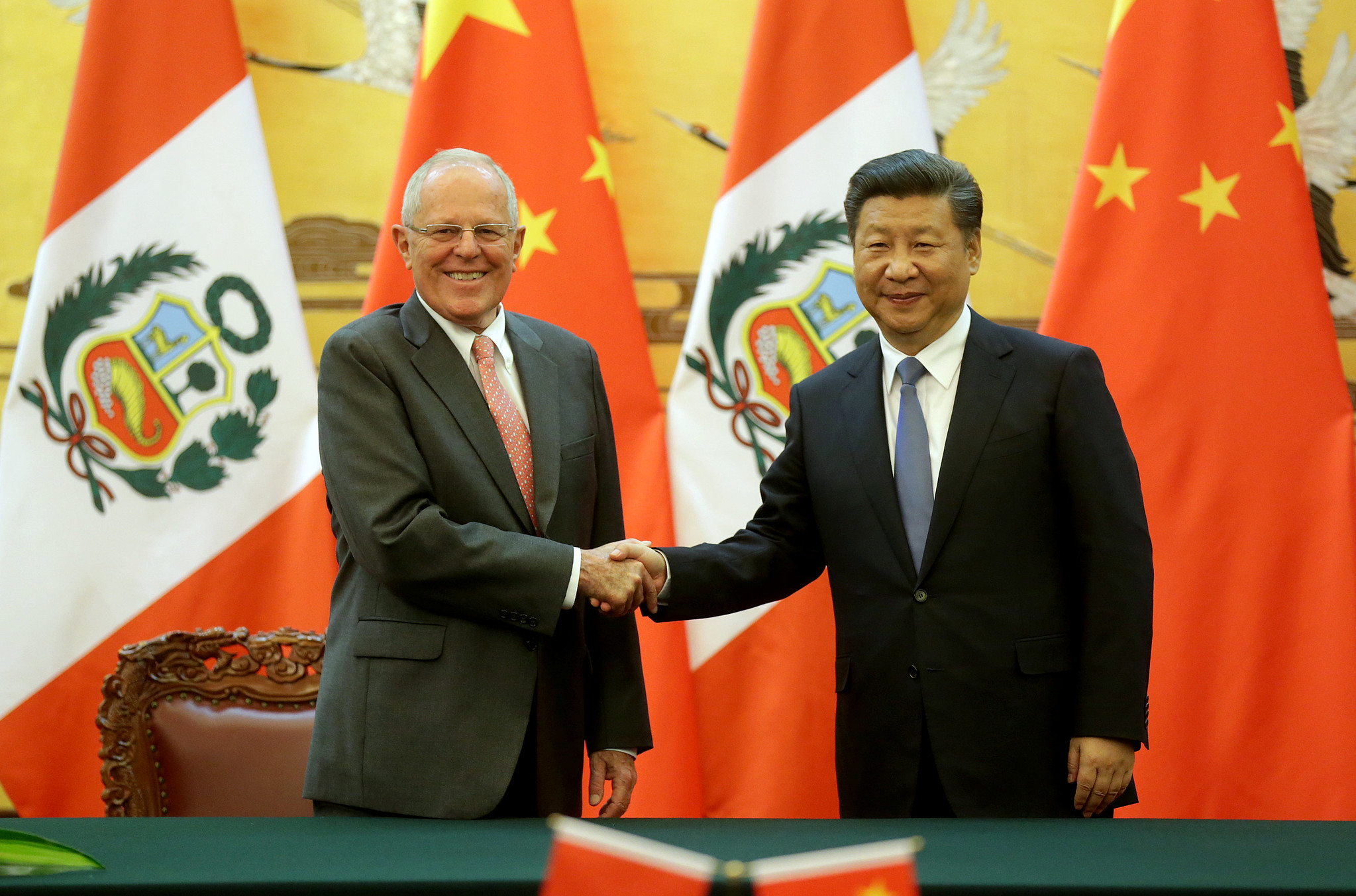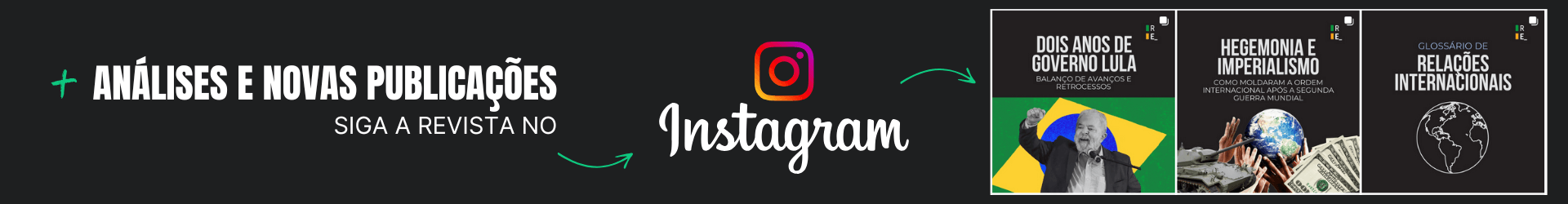A Amazônia desempenha um papel estratégico na regulação do clima global e representa um território político marcado por resistências e alternativas ao modelo hegemônico de desenvolvimento. Frente à crescente interdependência internacional e aos desafios socioambientais contemporâneos, este estudo investiga de que forma a sociedade civil amazônida contribui para a governança global do clima. O objetivo é analisar o papel de atores não estatais na construção de redes de governança que ultrapassam as fronteiras nacionais, a partir das contribuições teóricas de James N. Rosenau. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e bibliográfica, articulando autores clássicos e contemporâneos sobre governança global, justiça climática e protagonismo de comunidades tradicionais. Os resultados indicam que a sociedade civil amazônida, por meio de redes locais, nacionais e transnacionais, fortalece a valorização de saberes tradicionais e práticas sustentáveis, promovendo respostas coletivas à crise climática. Conclui-se que a Amazônia deve ser compreendida não apenas como patrimônio natural, mas como sujeito político ativo, cuja participação é essencial para orientar políticas de governança global em direção a um futuro sustentável.
Sumário
Introdução
Nas últimas décadas, a crise climática tornou-se um dos principais desafios enfrentados pela humanidade, exigindo novos arranjos de atuação internacional que vão além dos limites dos Estados. Nesse cenário, a Amazônia possui um papel fundamental, pois além de ser a maior floresta tropical do mundo, também é essencial para a regulação do clima global, e destaca-se como elemento central no debate sobre as estratégias de combate às alterações climáticas.
A região amazônica transcende os aspectos meramente ecológicos. Para além de sua rica fauna e flora, é também um território político, habitado por povos originários, comunidades quilombolas e ribeirinhos que, há séculos, mantêm uma relação sustentável e direta com a natureza. Nesse sentido, a sociedade civil amazônida, juntamente com movimentos sociais, organizações não governamentais, entre outros coletivos locais, emergem como um ator fundamental na luta pela preservação ambiental e pela justiça climática.
O presente artigo busca responder à questão central: de que forma a sociedade civil amazônida se insere na governança global do clima? Para isso, o estudo se organiza em três seções principais: a primeira apresenta uma reflexão teórica sobre a governança global a partir das contribuições de James N. Rosenau; a segunda discute a Amazônia como espaço estratégico, destacando suas dimensões ecológica, simbólica e política, bem como o papel dos povos e comunidades tradicionais; e a terceira analisa a atuação da sociedade civil amazônida na governança climática, evidenciando suas articulações em redes locais e transnacionais e o fortalecimento da justiça climática na região.
James Rosenau e a Governança Global
Para aprofundar a compreensão sobre os desafios da governança climática, é pertinente recorrer aos estudos de James N. Rosenau, renomado cientista político americano e estudioso das Relações Internacionais, que aborda o sistema internacional originário da nova ordem mundial em constante mudança, principalmente devido aos adventos da globalização.
No livro “Governança sem Governo: Ordem e Transformação na Política Mundial”, Rosenau observa que as discussões sobre ordem e governança mundial têm ganhado notoriedade significativa nas últimas décadas. Diante da intensificação e do ritmo acelerado das transformações globais, tornam-se cada vez mais urgentes as reflexões sobre a natureza, os fundamentos e os desafios envolvidos na construção de uma ordem internacional capaz de responder às novas dinâmicas do sistema global (Rosenau, 2000).
O autor também distingue dois conceitos que, embora pareçam semelhantes, apresentam diferenças fundamentais: governo e governança. Enquanto o governo refere-se a uma autoridade formal, centralizada e institucionalizada, a governança possui um escopo mais amplo, envolvendo não apenas os Estados, mas também organizações não governamentais, instituições internacionais e a sociedade civil na articulação de interesses coletivos e na formulação de respostas conjuntas aos desafios globais.
Em sua obra “People Count: Networked Individuals in Global Politics”, publicada em 2007, destaca a crescente importância dos atores não estatais no cenário global, desafiando, assim, a visão tradicional das Relações Internacionais, que considera os Estados como os principais agentes do sistema internacional. No entanto, ele argumenta que os atores não estatais exercem influência significativa, muitas vezes subestimados na tomada de decisões e nos acontecimentos internacionais.
Nesse sentido, o autor propõe uma reflexão crítica sobre a soberania estatal num contexto de interdependência global crescente, colocando em xeque a sua validade e eficácia num mundo cada vez mais interconectado. Destaca ainda que a noção tradicional de soberania enfrenta desafios significativos, uma vez que redes compostas por indivíduos, organizações da sociedade civil e outros atores não estatais operam para além das fronteiras nacionais, desestabilizando os modelos clássicos de autoridade e controle.
Além disso, também discute o impacto das novas tecnologias de comunicação e informação em escala global. A internet e outras plataformas digitais facilitam a conexão e a colaboração entre as pessoas no mundo todo, ampliando significativamente o alcance e a influência das redes sociais na política global (Rosenau, 2008). As tecnologias são instrumentos fundamentais na mobilização pela justiça climática, pois permite que tanto ativistas, comunidades locais e organizações socioambientais partilhem informações, articulem campanhas e pressionem instâncias de decisão internacional de forma mais eficaz.
Em vista disso, o autor desenvolve, no artigo “Governing the Ungovernable: The Challenge of a Global Disaggregation of Authority” (2007), o conceito de “Skill Revolution”, ou “revolução das competências”. Com esse termo, Rosenau refere-se à necessidade de adaptação diante das profundas transformações globais, argumentando que estas exigem o desenvolvimento de novas habilidades tanto por parte dos líderes quanto dos cidadãos. Isso se trata de novas competências necessárias para atuar no mundo marcado pela crescente complexidade nas relações internacionais. Assim, a capacidade de comunicar, agir em redes transnacionais, lidar com múltiplas identidades e utilizar tecnologias de forma estratégica torna-se essencial para navegar nas dinâmicas da governança global.
A Skill Revolution também está relacionada com a capacidade da sociedade de tomar consciência do seu próprio valor, impulsionando os indivíduos a se unirem em torno de valores e interesses comuns. Esse movimento fortalece redes transnacionais e movimentos sociais voltados, por exemplo, à defesa do meio ambiente e à promoção da justiça climática. Com o advento da internet, essa mobilização ganhou uma nova dimensão, ao integrar pessoas de todas as partes do mundo e permitir a conexão em escala global (Rosenau, 2007).
Em síntese, as contribuições de James N. Rosenau são fundamentais para o campo das Relações Internacionais, ao oferecer uma análise crítica das dinâmicas globais e questionar conceitos tradicionais como a soberania num mundo interconectado. Ao destacar o papel crescente dos atores não estatais e o impacto das tecnologias digitais, Rosenau apresenta uma visão abrangente e atual dos desafios da governança contemporânea. Assim, as suas obras tornam-se uma referência essencial para quem deseja compreender a complexidade e os novos contornos da política internacional em um mundo em constante mudança.
Dessa maneira, as reflexões de James N. Rosenau oferecem subsídios teóricos relevantes para compreender o papel emergente da sociedade civil amazônida na governança global do clima. A partir da concepção de governança como um processo descentralizado e multilateral, observa-se que os atores não estatais, em especial as organizações locais e comunitárias, tornam-se agentes estratégicos na formulação de respostas aos desafios ambientais contemporâneos. Ao mobilizar saberes locais, promover redes transnacionais de cooperação e articular demandas socioambientais em escala global, esses atores reforçam a interdependência entre o local e o global, de forma decisiva, para a construção de uma ordem internacional orientada pela sustentabilidade e pela justiça climática.
A Problemática Ambiental Global e seus Efeitos sobre a Amazônia
Em primeiro plano, um dos principais aspectos que constituem a Amazônia como território é a visão de que a região se constitui como periferia da periferia. Isto significa que além de estar situada sob a soberania de países estruturalmente periféricos no sistema-mundo capitalista, ela é também periférica quanto à formação interna de cada país (Gonçalves, 2012). Apesar de ter se passado mais de 500 anos do período colonial, a região ainda remanesce espaços de “mata virgem” e refúgios de povos tradicionais livres (em isolamento voluntário) com muito pouco ou nenhum contato direto com o sistema capitalista, conforme observado por Prado Filho (2017).
Nesse sentido, esses espaços e populações são vistos como fronteiras para a acumulação do capital, que diante da visão geoestratégica do território, encontraram dificuldades para incorporar a região à lógica da economia de mercado enquanto movimento de “mundialização do sistema capitalista” (Santos, 2004). Sendo assim, atualmente, a região se constitui como um dos últimos espaços onde o capitalismo continua por se instalar de forma plena e efetiva.
Sendo assim, como analisado no tópico anterior, a teoria de Rosenau permite compreender a crescente relevância dos atores não estatais, mas, para além disso, a realidade amazônica revela como tais atores enfrentam desafios específicos de um território historicamente marcado pela condição de periferia.
Diante disso, observa-se que a ocupação humana e o desenvolvimento da região foram formados a partir do paradigma de relação sociedade-natureza, denominada pelo economista Kenneth Boulding de economia de fronteira. O paradigma foi o responsável por caracterizar toda a formação latino-americana, incluindo a Amazônia (Becker, 2001), o que gerou as tentativas do governo brasileiro de mercantilizar a região na economia nacional através da exploração dos recursos naturais do bioma.
A partir disso, ao longo de sua história, a região é percebida ora como fonte de recursos naturais (objeto de exploração), ora como patrimônio da humanidade (Porto-Gonçalves, 2015), visões atreladas à lógica capitalista perpetrada no território. Essa lógica tem sido o fio condutor das políticas que moldaram a Amazônia desde a colonização até os dias atuais com a imposição de um projeto nacional desenvolvimentista que estabeleceu uma linha abissal de desigualdade na apropriação do espaço econômico, político e socioambiental da região.
Em segundo plano, nos últimos 50 anos, a Amazônia tem passado por transformações profundas no clima. Atividades humanas que causam aquecimento global, secas extremas, incêndios florestais e desmatamento têm resultado em perda de biodiversidade e afetado o papel da floresta na regulação do clima global. O bioma é um dos principais sumidouros de carbono do planeta, armazenando cerca de 120 bilhões de toneladas de carbono (Aragão et al., 2018), assim como também atua de maneira direta no ciclo hidrológico regional e global, afetando o regime de chuvas em outras regiões do Brasil e da América Latina.
Com o agravamento das mudanças climáticas, que ocorrem em nível global, regional e até mesmo local, as transformações socioambientais na região são possíveis de serem observadas pelo aumento da produção de biomassa, mortalidade de árvores e ecossistemas, aumento de temperatura e alterações na distribuição e abundância de espécies, elevando dessa forma, o CO2 atmosférico, constituindo-se como consequências do desmatamento predatório e da degradação dos biomas (Artaxo, 2020), que aumentam a vulnerabilidade dos ecossistemas e ameaçam a biodiversidade existente no país.
Conforme Paulo Artaxo, cientista do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IF-USP), mesmo com a substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis, será quase impossível eliminar totalmente as emissões de carbono até 2050 (Ciclovivo, 2022). Para isso, é essencial proteger os ecossistemas naturais que armazenam CO2 – como as florestas tropicais – sendo a Amazônia a mais importante por abrigar o maior reservatório de carbono do planeta.
O pesquisador também salienta que estudos realizados em diferentes partes do mundo indicam que as mudanças climáticas já podem ter atingido um ponto de não retorno, com o desmatamento sendo um dos principais impulsionadores desse processo. Daqui a 10 ou 15 anos, conforme as mudanças se desenvolvem, elas terão um impacto definitivo na definição do clima (Ciclovivo, 2022).
Sendo assim, os impactos da crise ambiental são diversos e não se limitam apenas à mortalidade da fauna e flora, englobando também as comunidades tradicionais, que muitas vezes vivem isoladas e já enfrentam sérias dificuldades de deslocamento, transporte de alimentos, recebimento de medicamentos e o abastecimento de água.
A floresta amazônica é um dos maiores exemplos de resiliência da natureza. Contudo, com as transformações ocorridas em decorrência da lógica dominante do capitalismo na região, surge a reflexão sobre até onde ela poderá resistir. Embora historicamente tenha superado diversos desafios, hoje seus limites naturais de regeneração estão sendo colocados à prova como nunca antes.
Governança Global do Clima no Contexto da Amazônia
A governança ambiental e climática tornou-se um tema central no cenário internacional, reunindo uma ampla gama de atores sociais — incluindo governos, organizações internacionais, setor privado, ONGs, instituições financeiras, consumidores, comunidades locais e povos indígenas. Essa governança se fundamenta em princípios como responsabilidade, transparência, legalidade, equidade, inclusão e participação social, os quais buscam garantir que os governos respondam de maneira eficaz aos desafios coletivos, especialmente os relacionados ao meio ambiente (Santos, 2024).
Conforme aponta a UNICEF (2023), a governança climática refere-se ao conjunto de normas, políticas e instituições — formais e informais — que coordenam as respostas às mudanças climáticas em âmbito global, promovendo ações de mitigação e adaptação. Nesse contexto, os Estados nacionais são responsáveis por firmar compromissos internacionais e implementar políticas públicas, enquanto organizações multilaterais, como a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), facilitam a cooperação entre os países. O setor privado também tem um papel significativo, introduzindo inovações tecnológicas e práticas sustentáveis. Já a sociedade civil, por meio de ONGs e movimentos sociais, atua pressionando por mudanças e monitorando a efetividade das ações climáticas (Santos, 2024).
A agenda climática global se tornou ainda mais alarmante em julho de 2023, quando o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, declarou que o planeta havia ultrapassado o estágio de aquecimento global, entrando em um período de “ebulição global” (Nações Unidas, 2023).
Essa afirmação intensificou a urgência nas discussões climáticas, que já vinham ganhando destaque desde a segunda metade do século XX. A preocupação com o futuro das próximas gerações e com o equilíbrio do planeta levou ao surgimento dos partidos verdes e, posteriormente, à inserção do tema na agenda das Nações Unidas.
Em 1968, a ONU discutiu oficialmente as questões ambientais pela primeira vez, o que resultou na Resolução nº 23/68 e na realização da Conferência de Estocolmo em 1972, o primeiro grande encontro internacional voltado ao meio ambiente (Ribeiro, 2005). Nessa ocasião, a Amazônia já figurava como um tema de destaque, e a atuação da delegação brasileira foi determinante para a escolha do Brasil como sede da próxima conferência: a ECO-92, realizada no Rio de Janeiro.
Posterior a isso, o próximo evento importante e decisivo para a agenda climática global foi a publicação do “Relatório Brundtland”, também chamado de “Nosso Futuro Comum” em 1987. Em busca de maior impacto na questão ambiental global, a ONU, por meio da Resolução nº 38/161 criou a Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, sob presidência da Sra. Gro Harlem Brundtland que inicia e finaliza a construção do Relatório (Ribeiro, 2005).
O Relatório foi referência para se discutir a pauta ambiental e das mudanças climáticas, considerado como o mais completo estudo até hoje sobre a temática. A partir dele, todos os estudos, políticas públicas, leis, acordos internacionais deveriam estar pautados no Relatório (Ribeiro, 2005).
E é nesse contexto que, dentro das políticas de governança global do clima, ou seja, dentro das convenções, acordos e reuniões mundiais, é que a Amazônia ganha maiores holofotes. Teixeira (2011) expõe bem mais alguns dos fatores que colocaram a região amazônica como alvo de cooperação internacional sobre o clima:
a) o crescente consenso científico sobre problemas ambientais globais e seus efeitos sobre a Amazônia; b) a expansão do socioambientalismo na Amazônia; c) as mudanças sociais e institucionais que culminaram com a constituição de 1988, como parte da conjuntura preparatória para a realização da Conferência do Rio; d) os Estados Nacionais frente à (in)segurança ambiental planetária (Teixeira, 2011).
Durante a redemocratização e pós Constituição de 1988 no Brasil, é possível identificar uma visibilidade de diferentes atores que lutam por seus direitos e resistem à apropriação indiscriminada de seus recursos, principalmente na Amazônia. Becker (2005) aponta que esse fator é novo, uma vez que até então as forças exógenas ocupavam a região amazônica livremente, mas com certos conflitos.
É a partir desse momento que surgem com maior visibilidade organizações da sociedade civil na produção de projetos alternativos para as políticas amazônicas, assim como surgem, a partir desses atores, novas perspectivas de soberania e sua ameaça sobre a região.
Em decorrência dessa maior democratização e descentralização (principalmente a partir dos anos 2000) das políticas decisórias no Brasil, intensificaram-se a criação de unidades de conservação, reservas extrativistas, parques nacionais, florestas nacionais e áreas de proteção ambiental, sob responsabilidade do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e para a segurança militar criou-se o Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM) e o Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) (Cunha e Guerra, 2003). A nível internacional, vale registrar a assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica, que em 1998 se tornou a OTCA, e o PPG-7 (Programa Piloto para a Proteção das Florestas do Brasil), de 1992 (Teixeira, 2023).
Instâncias de Participação Efetiva da Sociedade Civil Amazônida
As lutas sociais na Amazônia brasileira têm origem no contexto histórico e social específico da região e surgem como formas de resistência ao poder estabelecido, isto é, revoltas localizadas em determinadas regiões, as quais reivindicam seu reconhecimento enquanto sujeito do território, destacando suas origens e características próprias e que esbarram na contramão do progresso, sob a lógica desenvolvimentista. Estas características se tornam particularidades dos coletivos sociais, cuja experiência de resistência contra os grandes projetos se desdobra a partir de distintas dimensões sócio-históricas, as quais atravessam as relações políticas, econômicas, culturais e sociais da região, todas ligadas ao sistema de acumulação capitalista (Portela et al., 2021).
Além disso, a questão ambiental também se faz presente na dimensão política dos movimentos, sendo tratadas diversas vezes como uma questão “sem sujeito”. Dessa forma, os protagonistas dessa temática se organizaram de maneira coletiva e se articularam-se a distintos movimentos sociais que, a seu modo, passaram a expressar práticas específicas de uso e manejo dos recursos naturais por povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, quebradeiras de coco babaçu e demais populações tradicionais. No âmbito das dinâmicas socioambientais contemporâneas, tais grupos, a partir de suas experiências históricas em contextos de conflito e resistência, vêm consolidando sua atuação nas últimas décadas por meio de coletivos e redes de cooperação, fortalecendo-se como agentes fundamentais na defesa de seus territórios.

Nessa perspectiva, a partir de dezenas de intervenções políticas, sociais e econômicas na região nas últimas décadas, observa-se o surgimento de diversos atores e movimentos sociais. Tais movimentos surgem em diferentes momentos da história brasileira, gerados por protagonistas das mais variadas origens, no entanto, todos carregam em seus cernes, a contínua resistência contra a lógica exploratória capitalista e neoliberal. São coletivos compostos por indígenas, ribeirinhos, religiosos, grupos de mulheres, jovens, ativistas ambientais, populações tradicionais, entidades e organizações não governamentais, sem-teto de áreas urbanas, sem-terra e trabalhadores rurais.
Com a consolidação desses movimentos, juntamente com o acúmulo histórico de movimentos tradicionais da região, surge uma abundante e complexa interação, constituída por redes de movimentos sociais localizados que se articulam a outras redes nacionais e internacionais, formando um amplo “emaranhado mobilizacional” (Milhomens e Gohn, 2018) que buscam o enfrentamento a ameaças comuns, sobretudo ligadas aos impactos gerados por grandes projetos de infraestrutura desenvolvidos na Amazônia contemporânea.
Nesse viés, a participação efetiva da sociedade civil amazônida tem se manifestado de forma contundente por meio de diversas instâncias organizadas, que articulam resistência, mobilização coletiva e proposição de alternativas frente aos desafios socioambientais da região. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), por exemplo, articula-se como um movimento popular e campesino, engajado no processo de enfrentamento e resistência aos conflitos que acontecem no ambiente rural com o intuito de estabelecer uma reestruturação e democratização do acesso à terra.
Outra instância importante é o Fórum Social Pan-Amazônico (FOSPA), um espaço de emergência dos povos da floresta que reúne povos, populações e indivíduos interessados e envolvidos com a Amazônia. A iniciativa do FOSPA, desde seu início, partiu da consciência da violência múltipla sofrida pelos coletivos no discurso sobre a Amazônia e sua realidade transnacional. Seu principal objetivo é ser um espaço independente para a articulação de agendas e a busca de propostas alternativas em contraposição aos preceitos de exploração predatória do neoliberalismo.
A Cúpula dos Povos, por sua vez, organizada paralelamente às conferências climáticas oficiais, como a Rio+20, constitui um espaço emblemático de denúncia das contradições do modelo de desenvolvimento dominante e de afirmação de alternativas construídas a partir dos saberes e práticas das populações da Amazônia. Essas instâncias evidenciam o protagonismo da sociedade civil amazônida na construção de um futuro baseado na justiça socioambiental e na valorização da diversidade cultural e ecológica da região.
Diante dos crescentes desafios enfrentados pela Amazônia, como o avanço das mudanças climáticas, do desmatamento e a violação dos direitos dos povos tradicionais, a atuação das instâncias de participação da sociedade civil amazônida revela-se essencial para a construção de alternativas sustentáveis e democráticas.
Iniciativas como as do MST, do FOSPA e da Cúpula dos Povos não apenas denunciam as injustiças socioambientais, mas também propõem caminhos enraizados na realidade local e na valorização dos saberes populares. Assim, a participação ativa dessas organizações reafirma o papel central da sociedade civil na defesa do território amazônico, na promoção da justiça social e na formulação de políticas públicas que respeitem a diversidade e a autonomia dos povos da floresta.
Governança Global e Sociedade Civil Amazônida: uma análise
O paradigma da Governança Global proposto por J.N. Rosenau oferece uma lente essencial para compreender o papel da sociedade civil amazônica nas dinâmicas internacionais de enfrentamento à crise climática. O autor argumenta que a governança mundial não se restringe apenas à atuação dos Estados, mas engloba também a articulação de múltiplos atores não estatais que influenciam ações em escala global.
Nesse sentido, o presente artigo evidencia claramente essa perspectiva ao apresentar os movimentos sociais, organizações da sociedade civil e comunidades tradicionais da Amazônia como atores centrais nas discussões sobre o meio ambiente e a promoção da justiça climática, assumindo, assim, um papel tipicamente associado ao Estado, como a proposição de políticas e a defesa de direitos territoriais e ambientais.
Outro ponto crucial discutido por Rosenau (2000), é a descentralização da autoridade e a crescente crise da soberania estatal diante dos impactos da globalização, uma realidade especialmente evidente na Amazônia. A atuação dos coletivos amazônicos e sua relação com redes transnacionais demonstram como a autoridade já não está concentrada exclusivamente nos governos. Na prática, essas redes operam de forma autônoma e transfronteiriça, questionando o monopólio do Estado sobre a política e tornando visível a “desagregação da autoridade” global. As populações historicamente marginalizadas hoje criam suas próprias estratégias de resistência e governança, evidenciando, assim, a negligência das estruturas estatais em atender às suas necessidades socioambientais.
A centralidade dos indivíduos organizados em rede, conforme proposto no livro People Count, manifesta-se de forma evidente na análise do papel da sociedade civil amazônica (Rosenau, 2008). As populações locais, ao conectarem-se para além das fronteiras estatais, tornam-se protagonistas na política global contemporânea. Para além de resistirem ao modelo exploratório capitalista, essas comunidades constroem alternativas sustentáveis e participam ativamente de espaços de articulação internacional, como o FOSPA (Fórum Social Pan-Amazônico) e a Cúpula dos Povos. Nessas arenas, posicionam-se de forma crítica nos debates climáticos globais. Tais ações demonstram, de facto, que as pessoas, contam, as suas vozes, saberes e práticas são de grande relevância na formulação de agendas ambientais transnacionais.
Além disso, um conceito particularmente interessante cunhado por Rosenau (2007), é o de “Skill Revolution”, que se refere à necessidade de adaptação face às transformações globais, exigindo novos saberes e competências para lidar com um mundo cada vez mais globalizado, interconectado e complexo. Nesse contexto, os atores amazônicos têm desenvolvido essas novas habilidades de forma notável. Através do uso das tecnologias da informação, articulam discursos políticos, promovem eventos, constroem alianças e exercem influência tanto localmente quanto internacional. Essa transformação revela que, para além da luta por direitos, essas populações protagonizam uma autêntica revolução na forma de fazer política no século XXI.
Diante da temática exposta, ao analisar a realidade amazônica à luz dos pressupostos de Rosenau, observa-se que a sociedade civil local exemplifica de forma clara os fundamentos da governança global contemporânea. Seus saberes, práticas quotidianas, formas de resistência e capacidade de articulação política transcendem fronteiras, desafiam a centralidade dos Estados e reafirmam o protagonismo dos povos na construção de alternativas sustentáveis e democráticas. Nesse sentido, a Amazônia deixa de ser apenas um palco das disputas globais para se afirmar como sujeito ativo na transformação da política internacional.
Conclusão
A Amazônia representa não apenas um ecossistema vital para o equilíbrio climático do planeta, mas também um território político e simbólico onde se expressam múltiplas resistências e alternativas ao modelo hegemônico de desenvolvimento. A partir das contribuições de James Rosenau sobre a governança global, compreende-se que a atuação de atores não estatais, especialmente a sociedade civil amazônida, é fundamental para enfrentar os desafios ambientais em um mundo cada vez mais interdependente. Nesse cenário, as instâncias de participação social, articuladas em redes locais, nacionais e internacionais, reafirmam a importância da justiça climática e da valorização dos saberes tradicionais como pilares centrais para a construção de um futuro sustentável. Assim, a Amazônia, longe de ser apenas um recurso natural a ser explorado, se revela como um espaço de protagonismo político, resistência e transformação na arena global da governança do clima. Para estudos futuros, torna-se relevante investigar o papel dos governos da região Pan-Amazônica na consolidação de políticas de governança climática integradas, capazes de fortalecer o diálogo entre Estado, sociedade civil e comunidades tradicionais na defesa da floresta e de seus povos.
Referências
ARAGÃO, L. E. O. C. et al. 21st Century drought-related fires counteract the decline of Amazon deforestation carbon emissions. Nature Communications, v.9, n.536, p.1- 12, 2018. https://doi.org/10.1038/s41467-017-02771-y.
ARTAXO, Paulo. As três emergências que nossa sociedade enfrenta: saúde, biodiversidade e mudanças climáticas. Estudos Avançados, v. 34, p. 53-66, 2020. Disponível em: < https://www.scielo.br/j/ea/a/TRsRMLDdzxRsz85QNYFQBHs/?format=html > Acesso em: 10 de abril de 2025.
BECKER, Bertha K. Geopolítica da amazônia. Estudos avançados, v. 19, p. 71-86, 2005.
BECKER, Bertha. Revisão das políticas de ocupação da Amazônia: é possível identificar modelos para projetar cenários?. 2001. Disponível em: < https://docs.ufpr.br/~adilar/GEOPOL%C3%8DTICA2019/Geopolitica%20da%20Amazonia/Amaz%C3%B4nia_Pol%C3%ADtica%20de%20ocupa%C3%A7%C3%A3o.pdf > Acesso em: 10 de abril de 2025.
CICLOVIVO. Entenda o papel da Amazônia na regulação do clima do planeta. [S.d]. Disponível em: < https://ciclovivo.com.br/planeta/crise-climatica/entenda-o-papel-da-amazonia-na-regulacao-do-clima-do-planeta/> > Acesso em: 10 de abril de 2025.
GONÇALVES, C. W. P. A organização do espaço amazônico: contradições e conflitos. In: GONÇALVES, C. W. P. Amazônia, Amazônias. São Paulo: Editora Contexto, 2012.
MILHOMENS, Lucas; GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e Amazônia: da ditadura civil-militar aos grandes projetos da atualidade. Cadernos CERU, v. 29, n. 2, 2018. Disponível em: < https://www.revistas.usp.br/ceru/article/view/155314 > Acesso em: 10 de abril de 2025.
NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Coletiva de imprensa do secretário-geral da ONU sobre o clima. 2023. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/240543-coletiva-de-imprensa-do-secret%C3%A1rio-geral-da-onu-sobre-o-clima. Acesso em: 10 de abril de 2025.
PORTELA, Roselene de Souza et al. LUTAS SOCIAIS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: um debate reflexivo sobre desenvolvimento às avessas na Amazônia. X Jornada Internacional Políticas Públicas. 2021. Disponível em: < https://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2021/images/trabalhos/trabalho_submissaoId_609_6096127aa8a307f3.pdf > Acesso em: 10 de abril de 2025.
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Amazônia, Amazônias. 3a ed. São Paulo: Contexto, 2015.
PRADO FILHO, C. “Acumulação primitiva” e avanço do capital na Amazônia: uma perspectiva marxista sobre a devastação ambiental causada pela “febre do ouro” às margens da rodovia interoceânica em Madre de Dios. Estudos Internacionais, Belo Horizonte, v. 5, n. 3, p. 52-72, 2017.
RIBEIRO, Nelson de Figueiredo. A questão geopolítica da Amazônia: da soberania difusa à soberania restrita. Senado Federal, 2005.
ROSENAU, James N.; CZEMPIEL, Ernst-Otto. Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado; Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2000.
ROSENAU, James. Governing the ungovernable: The challenge of a global disaggregation of authority. 2007.
ROSENAU, James. People Count! Networked Individuals in Global Politics. Boulder, CO: Paradigm Publishers. 2008.
SANTOS, Gabriela. O papel do Brasil na governança climática global: contribuições e desafios nas negociações internacionais. Orientador: Prof. Fernando Gabriel Romero. 2024. (Pós-Graduação) Relações Internacionais, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. 2024.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único a consciência universal. 11 ed. Rio de Janeiro: Record, 2004.
TEIXEIRA, Alberto. Desafios contemporâneos da Amazônia: segurança climática, desenvolvimento (in)sustentável e bioeconomia. Revista Diálogos Soberania e Clima, v. 2, n. 8, 2023.
TEIXEIRA, Alberto. Governança Global na Amazônia: o Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. Novos Cadernos NAEA, v. 14, n. 2, p. 219-236, Dez. 2011.
UNICEF. O que é governança climática? Brasília: UNICEF, 2023. Disponível em: https://www.unicef.org/lac/media/31661/file/O-que-e-governanca-climatica.pdf. Acesso em: 10 abr. 2025.
Conheça os Cursos da Revista Relações Exteriores aqui.
Estudante de Relações Internacionais, com interesse nas áreas de Meio Ambiente e Economia. Jovem Embaixadora pelo Clima pelo The Climate Reality Project Brasil e voluntária do Greenpeace Brasil. Participa do projeto de extensão “Observatório da COP na Amazônia” (UEPA), e integra o grupo de estudo de Política Internacional (GEPI), da UFMG. Escreve para o site Internacional da Amazônia nos quadros “Amazônia em Foco” e “Economia”, abordando temas ligados à sustentabilidade, à realidade amazônica e ao cenário econômico regional e internacional. Estagiária na Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (AMATCarajás).
Internacionalista formada pela Universidade da Amazônia (UNAMA). Faz parte do projeto de extensão e de pesquisa CNPQ, Internacional da Amazônia, formado por alunos e ex-alunos de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia (UNAMA). Atua como líder da equipe de Conteúdos Especiais e moderadora de conteúdo no quadro Amazônia em Foco. Suas áreas de interesse são as relacionadas com meio ambiente e Amazônia, ciência política, direitos humanos e gênero.
Paraense e acadêmica de Relações Internacionais na Universidade da Amazônia. Atualmente atua como auxiliar administrativo na Construtora Terrayama e faz parte do voluntariado do Greenpeace. Tem interesse nas linhas de pesquisa sobre Amazônia, povos indígenas e colonialismo.