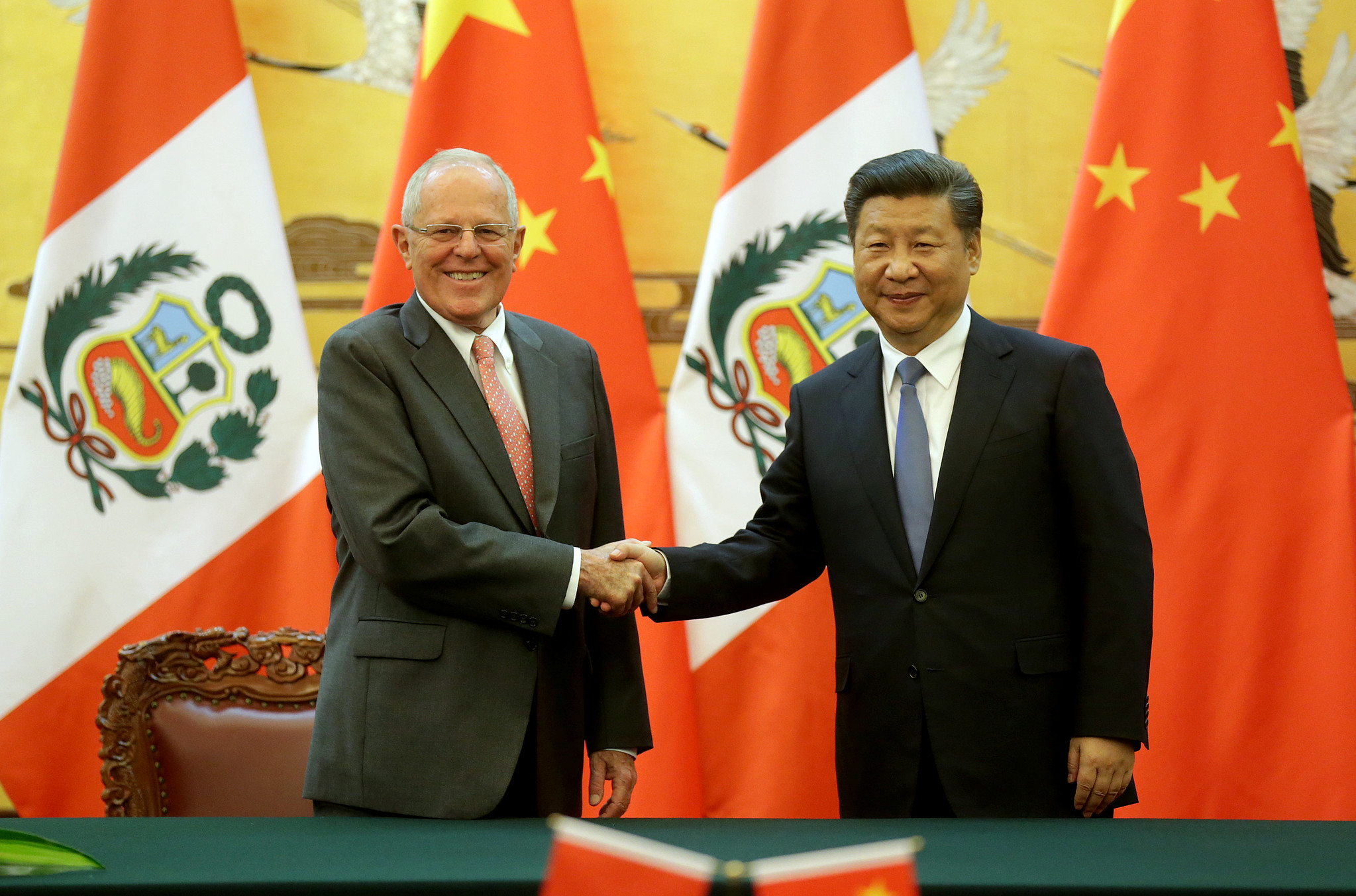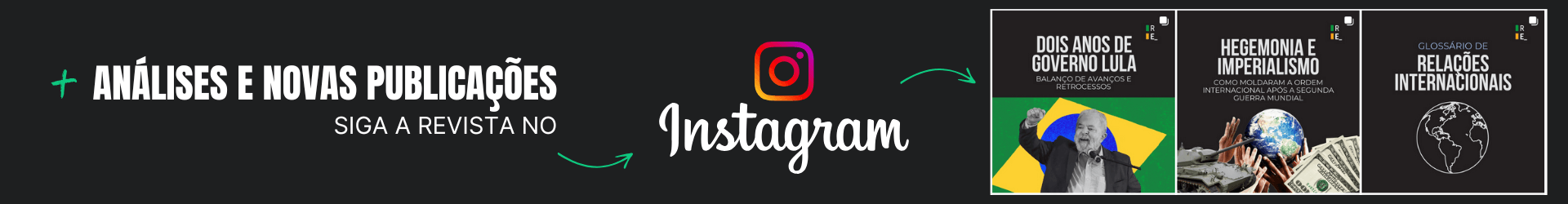Às vésperas de completar dois anos do 7 de outubro de 2023, data em que o Hamas executou ataques e sequestros em território israelense, inaugurando a fase mais letal do confronto recente, o debate público segue preso a declarações de princípio e a ciclos de violência que se repetem. A reação israelense, com operações militares de larga escala em Gaza, somada ao colapso humanitário e ao impasse diplomático, recolocou no centro da agenda de Relações Internacionais a pergunta que guia este artigo: o que seria necessário para alcançar a paz, para além das declarações?
Como ponto de partida, vale reconhecer a estrutura de repetição que marca o conflito desde 2007: episódios de escalada, pressão diplomática, cessar-fogos mediados por Egito e Catar (com apoio dos EUA e da ONU), breve reconstrução e retorno ao status quo. Esses arranjos não atacam as causas estruturais da crise: governança fragmentada, insegurança permanente, restrições à mobilidade, colapso econômico e ausência de responsabilização. Assim, cada pausa tende a ser apenas uma trégua provisória.
Também é indispensável situar o conflito em sua camada histórica. A criação do Estado de Israel em 1948, sem a contrapartida da criação de um Estado Palestino, gerou um quadro de guerras, ocupações e deslocamentos que alimentou tanto a luta da Autoridade Nacional Palestina (ANP) quanto a emergência de atores não estatais armados, como Hamas e Jihad Islâmica. Esse legado mistura nacionalismos concorrentes, disputa territorial e legitimação religiosa, compondo um impasse de difícil superação.
No plano institucional, o período pós-outubro de 2023 evidenciou tanto a capacidade de mediação quanto as limitações da ordem internacional. O Brasil chegou a articular no Conselho de Segurança da ONU uma resolução que recebeu ampla maioria, mas foi vetada pelos EUA, bloqueando avanços concretos. Esse tipo de obstáculo normativo não apenas posterga respostas humanitárias, como também erosiona a legitimidade de potenciais mediadores.
Inserido nesse contexto, ganhou tração em 2025 o chamado “plano de 20 pontos” apresentado pelo então presidente Donald Trump, propondo governança transitória em Gaza, desmilitarização supervisionada, anistia condicionada a membros do Hamas, trocas de prisioneiros e reféns, além da criação de uma Força Internacional de Estabilização. A proposta reacende dilemas clássicos da disciplina: quanta coerção externa é compatível com legitimidade interna?; quem garante a segurança?; como articular reconstrução econômica e reforma política?
Por fim, a discussão jurídica tornou-se incontornável. O genocídio e as denúncias de violações do Direito Internacional Humanitário, em especial sobre proporcionalidade no uso da força, proteção de civis e infraestruturas essenciais, elevam o custo político de soluções puramente securitárias. Sem integrar uma dimensão de responsabilização, qualquer cessar-fogo corre o risco de congelar a violência, não de encerrar o conflito.
O Ciclo dos Cessar-Fogos entre Israel e Hamas
Desde que o Hamas assumiu o controle da Faixa de Gaza em 2007, o conflito com Israel passou a seguir um padrão recorrente: escalada militar intensa, pressão diplomática, intermediação de terceiros, cessar-fogo provisório e, por fim, retorno ao status quo. Esse ciclo de violência intermitente revela tanto a dificuldade em construir confiança entre as partes quanto a ausência de incentivos estruturais para a paz.
O padrão das escaladas
As hostilidades geralmente são desencadeadas por ataques de foguetes lançados de Gaza ou por ações israelenses em Jerusalém e na Cisjordânia. A resposta de Israel tende a ser militarmente desproporcional, com ofensivas aéreas e terrestres. Do ponto de vista estratégico, Israel busca neutralizar capacidades militares do Hamas; já o Hamas explora o impacto político de se apresentar como resistência ativa à ocupação, mesmo diante de perdas materiais e humanas.
A diplomacia da mediação
Em praticamente todas as rodadas, o Egito e o Catar desempenharam papéis centrais como mediadores, muitas vezes com apoio dos EUA e da ONU. O objetivo imediato é interromper a escalada e abrir espaço para ajuda humanitária. No entanto, esses cessar-fogos são instrumentais, e não políticos: tratam da urgência humanitária, mas não oferecem mecanismos de solução de longo prazo.
Exemplos de cessar-fogos recentes
- 2008 (Operação Chumbo Fundido / Cast Lead): Israel lançou uma ofensiva terrestre e aérea de 22 dias. O cessar-fogo foi unilateral e não alterou o bloqueio sobre Gaza.
- 2012 (Pillar of Defense): após a morte de um comandante do Hamas, seguiram-se oito dias de ataques. O Egito mediou o cessar-fogo.
- 2014 (Protective Edge): sete semanas de guerra, com milhares de mortos. O acordo final, novamente mediado pelo Egito, previu alguma flexibilização de entrada de bens, mas não alterou o quadro político.
- 2021 (Guardian of the Walls): motivado por tensões em Jerusalém Oriental. O cessar-fogo incluiu concessões econômicas limitadas, como permissões de trabalho em Israel.
- 2023 em diante: a magnitude do ataque de 7 de outubro e a resposta israelense marcaram um ponto de ruptura. Israel rejeitou encerrar a guerra sem a eliminação total do Hamas, enquanto o Hamas se recusa a renunciar à luta armada e mantém a exigência de retirada completa de forças israelenses.
Limitações do modelo
O traço comum é a falta de cláusulas transformadoras. Os acordos não enfrentam:
- o bloqueio de Gaza e sua crise humanitária permanente;
- a falta de unidade palestina, com a cisão Hamas-ANP;
- a ausência de horizonte político para a criação de um Estado Palestino.
Assim, os cessar-fogos se tornaram gestos paliativos, incapazes de quebrar a lógica da repetição. O conflito atual demonstra isso com clareza: quanto mais Israel endurece sua estratégia militar, mais aumenta a pressão humanitária e diplomática; quanto mais o Hamas se recusa a abrir mão da violência, mais se distancia de qualquer reconhecimento político.
Análise do Plano de 20 Pontos (2025)
O anúncio do chamado plano de 20 pontos por Donald Trump foi apresentado como uma solução abrangente para encerrar a guerra em Gaza. O documento, recebido com entusiasmo por parte do governo israelense e cautela por alguns parceiros regionais, merece uma leitura detalhada, pois revela tanto a tentativa de oferecer um roteiro técnico de pacificação quanto os limites políticos de uma proposta desenhada sob forte viés norte-americano.
Estrutura do plano
O plano parte de uma lógica sequencial. Em primeiro lugar, um cessar-fogo imediato seria estabelecido assim que Israel aceitasse publicamente a proposta. Dentro de 72 horas, todos os reféns em poder do Hamas — vivos ou mortos — seriam libertados. Em contrapartida, Israel se comprometeria a soltar 250 prisioneiros com penas de prisão perpétua e mais 1.700 palestinos detidos após o 7 de outubro, incluindo mulheres e crianças. Além disso, a cada refém israelense morto cujos restos fossem devolvidos, Israel entregaria os restos mortais de 15 palestinos.
Após a etapa inicial, viria a reconstrução humanitária: entrada imediata de ajuda em escala, reabilitação de infraestrutura básica como água, energia, hospitais e padarias, abertura parcial da fronteira de Rafah e presença de agências da ONU e do Crescente Vermelho na distribuição de suprimentos. O texto enfatiza que Gaza deveria ser transformada em uma “área desradicalizada e livre de terrorismo”, e que ninguém seria obrigado a sair: os que desejassem deixar o território teriam passagem segura, mas o objetivo declarado seria “dar oportunidade de construir uma nova Gaza”.
A etapa seguinte previa a criação de um governo transitório tecnocrático, administrado por palestinos qualificados e especialistas internacionais, sob supervisão de um órgão chamado “Conselho da Paz”, a ser presidido pelo próprio Trump e integrado por outras lideranças, como o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Este arranjo duraria até que a Autoridade Nacional Palestina concluísse um programa de reformas e pudesse retomar o controle de Gaza.
No eixo da segurança, o plano estipulava que o Hamas e outras facções seriam proibidos de ocupar cargos políticos ou de manter infraestrutura militar. Todos os túneis e arsenais deveriam ser destruídos, num processo de desmilitarização verificável por monitores independentes. Membros do Hamas que aceitassem a “coexistência pacífica” seriam anistiados, e aqueles que optassem por deixar Gaza receberiam garantia de passagem segura para outros países. Para sustentar a transição, seria criada uma Força Internacional de Estabilização (ISF), composta por parceiros árabes e internacionais, com o mandato de treinar forças policiais palestinas, controlar fronteiras e assegurar que Gaza não voltasse a representar ameaça a Israel ou ao Egito.
Por fim, o plano previa um programa de desenvolvimento econômico, com a criação de uma zona econômica especial e atração de investimentos externos para gerar empregos e oportunidades. Segundo Trump, esse esforço buscaria transformar Gaza em uma região próspera, capaz de abandonar a lógica da guerra.
O que o plano acerta
É inegável que a proposta procura enfrentar simultaneamente três dimensões centrais: segurança, governança e reconstrução econômica. Ao atrelar a libertação de reféns e prisioneiros ao início de um cessar-fogo verificável, cria incentivos imediatos para que ambas as partes reduzam as hostilidades. A previsão de uma força internacional com mandato definido também tenta resolver o problema crônico da falta de garantias externas confiáveis. E a inclusão de um pacote de reconstrução responde à urgência humanitária e busca dar esperança à população de Gaza.
As contradições políticas
Contudo, o plano falha justamente onde mais deveria ser sólido: na legitimidade política. Ao excluir totalmente o Hamas da vida institucional de Gaza, o documento ignora o fato de que o grupo, goste-se ou não, mantém controle territorial e influência social efetiva. Tratar o Hamas apenas como ameaça securitária, sem espaço para reintegração política, significa repetir o erro de fórmulas anteriores, que criaram cessar-fogos frágeis e não resolveram a disputa de legitimidade entre facções palestinas.
Outro ponto crítico é a centralidade de Donald Trump como presidente do “Conselho da Paz”. A personalização do arranjo revela mais um gesto de autopromoção em meio à crise da política externa norte-americana do que um esforço genuíno de mediação. Para muitos, soa como tentativa de lavar a imagem dos EUA, acusados de acobertar violações do direito internacional por Israel, e de passar panos quentes diante das denúncias de genocídio.
Além disso, a proposta de anistiar combatentes do Hamas que depuserem armas, sem prever mecanismos de responsabilização para Israel, é profundamente assimétrica. Na prática, isso equivale a criminalizar seletivamente a resistência palestina enquanto se fecha os olhos para as mortes em massa, destruição de bairros inteiros e bloqueio humanitário impostos por Israel. Ao conceder perdão a uns e silêncio sobre os crimes de outros, o plano corrói o princípio de igualdade perante o direito internacional.
Uma paz negativa
O maior problema, porém, é que o plano não oferece horizonte político. Ao focar em cessar-fogo, desmilitarização e incentivos econômicos, evita enfrentar a questão central: a autodeterminação palestina e a criação de um Estado viável. Sem esse horizonte, qualquer arranjo tende a se limitar à paz negativa, isto é, à ausência temporária de violência, mas não à construção de um convívio político justo e estável.
O plano de Trump tem virtudes técnicas, organização sequencial, integração de dimensões e previsão de monitoramento externo, mas sofre de déficit de legitimidade e assimetria política. Ao excluir o Hamas, centralizar poder nos EUA e omitir a responsabilização de Israel, corre o risco de cristalizar a impunidade e perpetuar a lógica de que a paz pode ser imposta de fora, sem considerar a realidade política palestina. Mais do que solução, o plano revela a dificuldade norte-americana em lidar com a própria crise de liderança e com o desgaste da ordem liberal que os EUA afirmam representar.
EUA, Reconhecimento da Palestina e Isolamento Diplomático
A guerra em Gaza evidenciou a erosão da legitimidade norte-americana como mediador. Desde Oslo, os EUA foram os principais articuladores do processo de paz, mas hoje são vistos mais como parte do problema do que como solução. O veto norte-americano a resoluções no Conselho de Segurança, inclusive à proposta brasileira de cessar-fogo humanitário em 2023, cristalizou a percepção de que Washington atua como escudo político de Israel, mesmo diante de acusações de genocídio.
Enquanto isso, cresce o número de países que reconhecem formalmente o Estado da Palestina. Esse movimento, que já envolve não apenas países do Sul, mas também governos europeus, coloca os EUA em posição cada vez mais isolada, obrigando-os a vetar resoluções amplamente apoiadas por seus próprios aliados.
O resultado é um paradoxo: os EUA seguem sendo o principal garantidor militar e financeiro de Israel, mas perdem a capacidade de conduzir uma solução política aceitável. Esse vazio de legitimidade abre espaço para outros mediadores, Egito, Catar, União Europeia, China, Rússia, e reforça a ideia de que a paz não pode mais depender exclusivamente de Washington.
O Debate sobre Genocídio e Direito Internacional Humanitário
A guerra em Gaza ultrapassou qualquer enquadramento como simples conflito armado. O que se observa hoje é a consolidação da percepção, e já o reconhecimento por cortes internacionais, de que Israel comete genocídio contra o povo palestino. A denúncia feita pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça (CIJ) não ficou restrita a um gesto político: a Corte aceitou o caso, reconheceu a plausibilidade das alegações e determinou medidas cautelares para que Israel cessasse práticas genocidas e garantisse a entrada de ajuda humanitária. Ainda que a decisão final demore, o caráter vinculante das ordens da CIJ coloca Israel formalmente sob a acusação mais grave do direito internacional.
O conceito de genocídio, consagrado na Convenção de 1948, implica a intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Em Gaza, essa intenção se materializa na combinação de ataques sistemáticos contra civis, destruição deliberada de infraestrutura vital, bloqueio de alimentos, água e medicamentos, além de discursos oficiais que retratam os palestinos como inimigos coletivos a serem eliminados. Não se trata, portanto, de mera disputa interpretativa: o genocídio está em curso, documentado por agências da ONU, ONGs e investigações independentes.
O TPI também abriu processos que podem levar a mandados de prisão contra autoridades israelenses e membros do Hamas, o que explicita um ponto essencial: ainda que ambos os lados sejam investigados, a assimetria da violência é incontestável. A devastação em Gaza, com dezenas de milhares de mortos, maioria mulheres e crianças, bairros inteiros arrasados, expõe o desproporcional uso da força e torna insustentável a justificativa de mera defesa.
Nesse contexto, o plano de Trump se revela especialmente problemático. Ao propor anistia para militantes do Hamas que depuserem armas, sem qualquer dispositivo de responsabilização para Israel, o documento reforça a impunidade. Na prática, significa reconhecer a legitimidade da destruição de Gaza como etapa de uma “nova ordem” no território, enquanto o Estado responsável pelo genocídio permanece imune. Essa assimetria distorce a lógica do Direito Internacional Humanitário, cujo princípio basilar é a igualdade de obrigações.
Mais do que um déficit jurídico, há aqui um dilema político: normalizar o genocídio em Gaza em nome de uma paz rápida equivale a corroer a credibilidade de todo o sistema internacional de proteção de direitos. Se a comunidade internacional aceita que um Estado possa aniquilar um povo sem sanções reais, abre-se precedente para outras situações semelhantes em diferentes regiões. Por isso, hoje a discussão sobre Gaza não é apenas uma questão regional: é o teste existencial da ordem internacional baseada em regras.
Em suma, a caracterização do que ocorre em Gaza como genocídio não é mais apenas acusação, mas já um marco jurídico e político. Qualquer proposta de paz que não inclua mecanismos de responsabilização e justiça, seja em tribunais internacionais, seja em comissões híbridas, produzirá apenas uma paz negativa, condenada a ruir. Sem justiça, não haverá paz duradoura.
Caminhos Possíveis para a Paz
Falar em paz diante do que ocorre em Gaza exige partir de uma constatação dura: não se trata apenas de encerrar hostilidades militares, mas de superar um genocídio em curso. Isso altera o ponto de partida de qualquer negociação. A prioridade imediata não é somente o cessar-fogo, mas a interrupção de práticas que configuram aniquilação coletiva e a criação de garantias mínimas de sobrevivência para os palestinos.
Do cessar-fogo técnico ao cessar-fogo estruturado
As tréguas anteriores mostraram-se frágeis porque congelavam a violência sem enfrentar suas causas. Um cessar-fogo estruturado deve incluir:
- monitoramento internacional independente, com acesso irrestrito a Gaza;
- cláusulas humanitárias verificáveis, como fluxo contínuo de alimentos, água, combustível e medicamentos;
- mecanismos de responsabilização, com relatórios submetidos à ONU e possibilidade de sanções automáticas em caso de violações.
Sem esses elementos, qualquer pausa tende a ser apenas mais um capítulo do ciclo destrutivo.
Inclusão política dos atores relevantes
Nenhum acordo terá sustentação se ignorar a realidade de poder no terreno. O Hamas não pode simplesmente ser apagado do mapa político. Sua exclusão total, como prevê o plano de Trump, geraria apenas a reprodução da clandestinidade e a legitimação de novas formas de resistência armada. Uma paz real exige integrar, mesmo que de forma condicionada, aqueles que detêm controle territorial e influência social. Ao mesmo tempo, a Autoridade Nacional Palestina precisa recuperar legitimidade interna, o que passa por reformas institucionais e eventualmente eleições supervisionadas.
Reconstrução como projeto político
A reconstrução de Gaza não pode ser tratada como “paz econômica”. Investimentos e ajuda só terão sentido se vinculados a um processo político inclusivo que ofereça aos palestinos:
- previsibilidade de soberania (seja na via de dois Estados, seja em outro arranjo acordado);
- garantias de mobilidade e comércio, rompendo a lógica de bloqueio permanente;
- participação local nas decisões de reconstrução, evitando que Gaza se torne um protetorado externo sem legitimidade.
Garantias de segurança compartilhada
A exigência israelense de segurança é legítima, mas não pode ser unilateral. Um arranjo viável passa por:
- Força Internacional de Estabilização sob mandato multilateral, com presença árabe e supervisão da ONU, e não sob comando exclusivo dos EUA;
- mecanismos de desarmamento gradual, atrelados a benefícios concretos e perceptíveis para a população civil;
- compromissos regionais de não agressão, envolvendo Egito, Jordânia, Arábia Saudita e outros atores.
Justiça como pilar de paz
A responsabilização jurídica é condição indispensável. Não pode haver anistia seletiva que criminalize apenas militantes palestinos e silencie sobre crimes israelenses. A paz exige investigações internacionais, possibilidade de julgamentos no TPI e, no mínimo, mecanismos híbridos de verdade e reparação. Sem justiça, a paz será vista como imposição externa e perderá legitimidade desde o início.
Considerações Finais
O conflito entre Israel e Hamas, intensificado desde o 7 de outubro de 2023, revela os limites de uma ordem internacional incapaz de conciliar segurança, autodeterminação e justiça. A repetição de ciclos de violência, interrompidos apenas por cessar-fogos frágeis, mostra que a paz não se constrói com declarações de intenções, mas com arranjos institucionais, garantias verificáveis e horizontes políticos claros.
O exame do plano de 20 pontos de Donald Trump evidenciou essa contradição. Embora tecnicamente estruturado, o plano carrega fragilidades políticas e jurídicas: concentra poder nos EUA em um momento de crise da liderança americana, exclui o Hamas como ator político relevante, ignora mecanismos de responsabilização e oferece apenas incentivos econômicos descolados da questão central, a soberania palestina. Ao propor anistia seletiva sem responsabilizar Israel por acusações de genocídio e violações do Direito Internacional Humanitário, a proposta arrisca-se a cristalizar a impunidade e legitimar a destruição de Gaza como preço da paz.
O isolamento diplomático dos EUA, contrastando com o avanço dos reconhecimentos ao Estado da Palestina, reforça o diagnóstico: a mediação já não pode ser monopólio de Washington. Para que um cessar-fogo seja sustentável, é indispensável a multilateralização da mediação, com protagonismo de atores regionais (Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Catar) e respaldo de organismos internacionais como a ONU e a Liga Árabe.
A acusação de genocídio colocou Gaza no centro de uma disputa normativa maior: entre a manutenção de uma ordem baseada na força e a afirmação de um sistema de regras em que até os mais poderosos possam ser responsabilizados. Qualquer solução que ignore essa dimensão estará fadada a produzir apenas uma paz negativa, a suspensão momentânea da violência, sem enfrentar as causas estruturais.
Assim, alcançar a paz exige três condições mínimas:
- Cessar-fogo estruturado, com mecanismos verificáveis e garantias regionais;
- Horizonte político credível, que inclua a autodeterminação palestina;
- Accountability, sem anistias seletivas que perpetuem a lógica da impunidade.
Sem isso, cada trégua será apenas a espera pelo próximo ciclo de guerra. A pergunta que permanece, portanto, não é apenas como parar a violência agora, mas como construir um arranjo que permita coexistência política, segurança compartilhada e justiça histórica. Essa é a diferença entre gerir o conflito e construir a paz e é justamente essa a escolha que se apresenta à comunidade internacional diante de Gaza.
Referências
AL JAZEERA. Here’s the full text of Trump’s 20-point plan to end Israel’s war on Gaza. Al Jazeera, 29 set. 2025. Disponível em: https://www.aljazeera.com/news/2025/9/29/heres-the-full-text-of-trumps-20-point-plan-to-end-israels-war-on-gaza.
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Order of 26 January 2024 – Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (South Africa v. Israel). Haia: CIJ, 26 jan. 2024. Disponível em: https://www.icj-cij.org/node/203447.
REUTERS. Trump peace plan envisions ‘New Gaza’ and Trump-led ‘Board of Peace’. Reuters, 29 set. 2025. Disponível em: https://www.reuters.com/world/middle-east/trump-peace-plan-envisions-new-gaza-trump-led-board-peace-2025-09-29/.
POLITICO. Trump touts Israel’s approval of his Gaza peace plan. Hamas has not agreed. Politico, 29 set. 2025. Disponível em: https://www.politico.com/news/2025/09/29/trump-touts-peace-plan-for-israel-hamas-has-not-agreed-00584857.
Analista de Relações Internacionais, organizador do Congresso de Relações Internacionais e editor da Revista Relações Exteriores. Professor, Palestrante e Empreendedor. Contato profissional: guilherme.bueno(a)esri.net.br