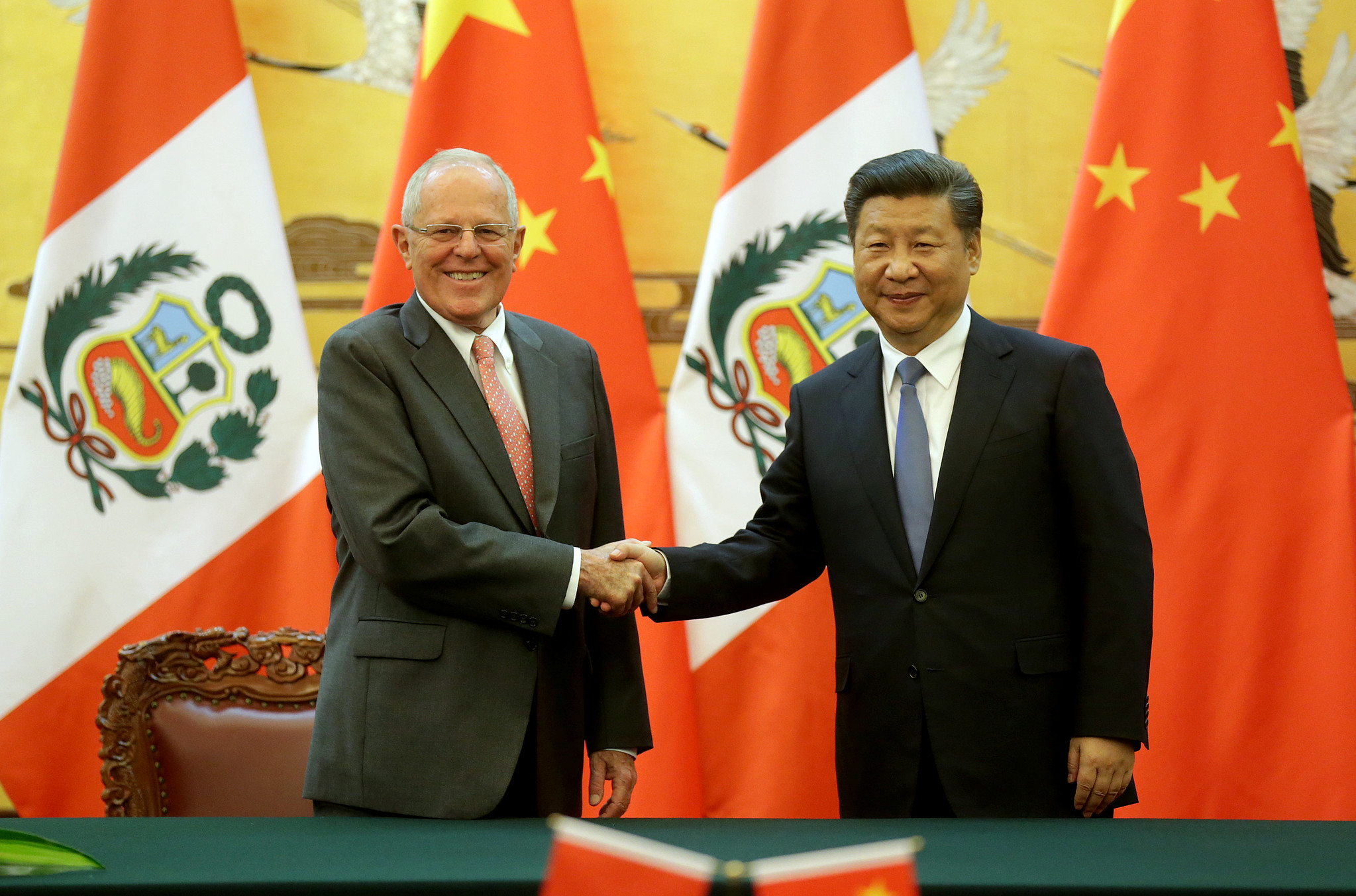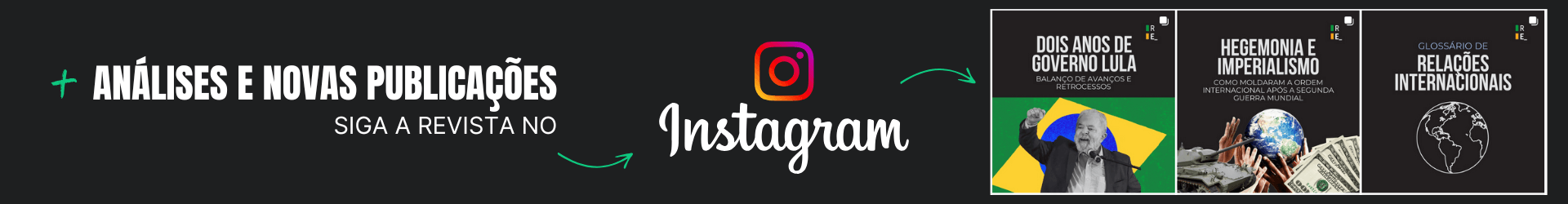O CASO DO CAMPO ALGODOEIRO
O Evento estudado tem relevância dado ao contexto sócio-histórico de violência de gênero perpetuado no Estado do México e, sobretudo, trata-se do primeiro caso de violência de gênero a ser julgado e penalizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Dan, 2022), de modo a expor o que hoje é conhecido como feminicídio. Ademais, é imprescindível observar as etapas do processo, cujo ponto de partida foi a negligência de agentes estatais – os quais deveriam assegurar a justiça dos cidadãos e não o fizeram com a diligência adequada.
Nessa senda, após a omissão do Estado, a petição inicial foi apresentada à Comissão em 2002, posterior a sucessivas solicitações de respostas dos órgãos de defesa dos direitos humanos, dos familiares das vítimas e dos coletivos feministas ao Governo, depois, no ano de 2005 foram aprovados relatórios que admitiam as petições. Já em 2007 houve a junção dos casos de desaparecimento e de homicídio por questões de gênero das jovens Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez e Esmeralda Herrera Monreal, para a prolação de sentença e aprovação do relatório de mérito dos casos, bem como as recomendações ao Estado mexicano (SENTENÇA CIDH CASO GONZÁLEZ E OUTRAS, 2009, P. 38, apud DAN, 2022).
Entre 1993 e 2001, as mulheres de Ciudad de Juaréz, no México, vivenciaram cenário de terror (Lobo, 2016), por consequência dos desaparecimentos, seguidos de homicídios que pelo menos trezentas mulheres sofreram. Nesse contexto de medo, a cidade fronteiriça dos Estados Unidos da América, predominantemente industrial, as vítimas apresentavam características semelhantes: eram mestiças, com recursos financeiros escassos, muitas vezes eram migrantes, jovens entre 15 e 25 anos, cabelos longos e corpos magros (Segato, 2005), as denominadas maquiladoras – mulheres que operavam as máquinas das indústrias mexicanas na região.
Além dos aspectos gerais das vítimas, a forma como foram encontradas demonstrou aspectos que ampliaram a singularidade do Caso do Campo Algodoeiro, uma vez que estavam marcadas por torturas, violações sexuais e aspectos de violência e crueldade contra as mulheres, demonstrando que se tratavam de crimes contra um gênero – juntamente ao padrão observado na época -, de maneira indistinta. Para além das demarcações de poder nos corpos, quando foram encontradas, estavam em lugares remotos, com escassa ou inexistente circulação de pessoas. Tal fato deu nome ao caso: Campo Algodoeiro, o qual foi um dos locais em que as mulheres foram encontradas sem vida, após dias de sequestro, cativeiro e tortura.
Não obstante as vidas ceifadas e o sistema de impunidade, há ainda a insegurança e a injustiça que viveram as famílias das vítimas, tendo em vista que não obtiveram as respostas e nem a assistência adequada do Estado à família. Ainda nesse espectro, é válido ressaltar a falta de diligência do Estado e de todo o aparato policial nas investigações, nos interrogatórios e nos julgamentos de culpados.
Por fim, a relevância do Caso é salientada quando se observa as alterações nos ordenamentos jurídicos latinos – à exemplo do Código Penal brasileiro, o qual tipifica o homicídio contra mulheres -, bem como nos mecanismos internacionais de garantia dos direitos humanos e, sobretudo, dos direitos humanos das mulheres, com esforços crescentes em garantir o bem-estar, a vida digna e livre de violência.
FEMINICÍDIOS E VIOLAÇÕES DOS DIREITOS DAS MULHERES
A violência de gênero, como fenômeno longínquo e arraigado na cultura, manifesta-se de diversas formas com sua última expressão no feminicídio: o fim da vida de uma mulher, pelo fato de ser mulher – ou seja, em razão de seu gênero, de sua forma humana de existência. Nesse sentido, diversas regiões do mundo enfrentam a problemática e, simultaneamente, reproduzem suas mazelas por meio da mídia, do Estado, dos padrões de comportamento de dada cultura.
Diante do exposto, Ciudad de Juaréz foi cenário dos denominados “homicídios em razão de gênero” e, como sequência, os julgamentos com “estereótipos de gênero”, sendo o Estado omisso aos impasses existentes em seu próprio aparelho de justiça. Nessa perspectiva, o discursos de julgamento e de questionamento acerca da honra e da moral das vítimas, comuns em outras estruturas sociais, demonstrou aspectos de uma cultura misógina, cujo estupro e a violência são manifestações e tratamentos normalizados às mulheres.

Concomitante às abordagens supramencionadas, insere-se o “motivo sexual” nos crimes, como demonstrado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como o uso do termo “feminicídio” pela primeira vez, no Caso, existem as agravantes de crueldade submetidas às vítimas. Reconhecida a demonstração de poder do gênero masculino sobre o feminino, insere-se, também, o poder econômico, territorial e político, haja vista a classe socioeconômica das vítimas, bem como o espaço geográfico que ocuparam e, por fim, o aparelho estatal como conivente dos fatos ocorridos (Segato, 2005).
Ainda na temática do feminicídio – definido pela Corte Interamericana na sentença de 16 de novembro de 2009 como o homicídio contra mulheres por questões de gênero -, termo utilizado pela primeira vez na Corte, observa-se a violação frontal aos direitos humanos das mulheres, posto que não só a vida de pelo menos trezentas mulheres foram brutalmente findadas, mas também a segurança e a livre circulação das demais foram cerceadas pelo medo e pela certeza – vista a insuficiência e a negligência do Estado – de que não teriam a quem recorrer para assegurar suas próprias vidas.
GÊNERO COMO CONFLITO
Ao analisar os conflitos de gênero de forma analítica, percebe-se um ideário que antagoniza mulher e homem, de modo a estabelecer guerras, em diversas frentes, e gerar efeitos negativos nas famílias e na sociedade. Nesse aspecto, Velasco (2011) afirma que a ideia de guerra dos gêneros foi estabelecida pelo movimento feminista e aproveitada por machistas e misóginos. A professora acrescenta que esse aspecto social distingue a raça humana e segrega as pessoas.
Ademais, deve-se compreender o Caso do Campo Algodoeiro como parte de um sistema que subalterniza o segundo sexo (Beauvoir, 1949), negando-lhes direitos básicos à dignidade, à vida livre de violência e de discriminação, de forma a ensejar a necessidade de uma categoria especial, a qual deve tutelar, especificamente, os direitos femininos, posto que não são garantidos em sistemas jurídicos amplos. Posto isso, as assimetrias das relações sociais fomentam diversas formas de conflitos e, sobretudo, de violência, uma vez que o principal mediador desses contextos é o poder (Fitzpatrick, 2011).
Um dos grandes propiciadores da perpetuação de conflitos de gênero, bem como a sua naturalização como parte da cultura e da sociedade, está na inércia da justiça (Segato, 2005), a qual estabelece permissividade ao manter impune os agressores. Sob essa óptica, é válido destacar que mecanismos como religião, mídia, costumes e o próprio ordenamento jurídico, oferecem condições de possibilidade para repercussão e disseminação de narrativas dotadas de discursos patriarcalistas, cuja reverberação é dada sem discussão crítica sobre seu conteúdo.
Por fim, a questão que relaciona gênero, conflitos e segurança internacional é passível de análise, haja vista que em primeira perspectiva podem não se relacionar diretamente. Contudo, os conflitos de gênero são observados, ainda na contemporaneidade, em diversas regiões do globo, com características similares e singularidades pontuais de acordo com as regiões, à exemplo da América Latina.
Nesse aspecto, o terror e o medo latentes vivenciados pelas sobreviventes de Juaréz, é demonstrativo de que uma vítima, ainda que em local remoto, vulnerabiliza cidadãs em outras regiões – mesmo que vivam em contextos distintos, porém, partilhem do gênero feminino. Assim, é visto que o patriarcalismo deve ser tratado como componente cultural, social, político e econômico em sua integralidade, tendo em vista os efeitos no sistema internacional.
CONFERÊNCIAS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
No que concerne ao aparelho internacional, percebem-se as iniciativas em prol do bem-estar social em sua completude, de maneira a constituir mecanismos que viabilizem a inclusão dos direitos das mulheres no rol de seguranças imprescindíveis a serem incluídas na malha jurídica interna dos países membros. Dessa forma, é evidente a importância das Conferências e das Convenções internacionais na mudança social, cultural, política e jurídica, juntamente aos precedentes. Em contrapartida, diversos empecilhos são enfrentados para plena efetivação dos documentos internacionais, uma vez que os interesses domésticos e internacionais podem ser litigiosos e, concomitante a isso, existem estruturas sociais – à exemplo dos conflitos de gênero – com resistência às mudanças.
Para mais, na condenação ao México pela Corte Interamericana, é destacável a relevância da I Conferência Mundial sobre a Situação da Mulher, realizada no México, em 1975, demonstrando preocupação inicial com aspectos de gênero no país em voga e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (1979). Ambas foram precursoras no debate de garantias e, ainda assim, não garantiram êxito na resolução dos feminicídios analisados.
Em sequência, torna-se relevante mencionar a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – denominada como Convenção de Belém do Pará -, ocorrida em 1994, no Brasil. Durante o seu curso, os crimes em Juaréz já ocorriam e, além disso, há destaque para o seu caráter precursor de legislações como a Lei Maria da Penha, brasileira, bem como o julgamento de “Caso González e outras (Campo Algodoeiro) vs. México” fundamentado em teorias feministas aplicadas ao fato.

Por fim, documentos como o Tratado de Viena sobre o Direito dos Tratados e a Convenção Americana foram violados, de acordo com a Corte, pelo Estado na execução da justiça. Diante disso, é reafirmada a necessidade dos órgãos internacionais e regionais na concretização do ideal de uma vida livre de violência.
A SENTENÇA E A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
Inicialmente, a sentença estabelece três principais vítimas: as jovens González, Herrera e Ramos, dentre as quais duas eram menores de idade. Contudo, a lista expande-se, bem como as características que tornaram o Caso emblemático ao referir-se sobre a “índole sexual violenta” e “são violentadas com crueldade pelo simples fato de serem mulheres”, que elucidam aspectos cruciais na discussão que relaciona crime e gênero.
Diante disso, nota-se o avanço ao considerar-se o julgamento sob perspectiva de gênero, tendo em vista que este não só foi a motivação para as atrocidades cometidas, como também guiaram a investigação, do Estado – na figura do aparato policial – na condução do processo e, além disso, é demonstrado na sentença o questionamento, por parte das autoridades, acerca da vida pessoal e das preferências sexuais das vítimas, de maneira a culpabilizá-las em contraposição à impunibilidade dos autores das crueldades.
Em consonância a isso, o Estado também atua de forma negligente ao indicar às famílias denunciantes dos desaparecimentos que aguardem o retorno de suas filhas, sob a justificativa de que seus comportamentos – baseados nas condições socioculturais – indicariam, segundo eles, a permanência em festas, fuga com namorados e outros discursos que não só minimizam a gravidade dos fatos e a pertinência das denúncias, mas também os isentam da responsabilidade de agir em prol da vida, apontando culpa à mulher sequestrada, mantida em cárcere sob tortura e morta.
Em sequência, pode-se discutir a “[suposta] conduta discriminatória das autoridades para resolver casos de violência contra as mulheres” como característica normalizada, juntamente à dúvida do que poderia ter ocorrido se houvesse proatividade das autoridades em agir no momento de denúncia, com maior probabilidade de encontrá-las com vida. Assim, é reforçado o patriarcalismo como parte do próprio aparelho de justiça, de maneira a expor que não há um único culpado, personificado, mas toda a estrutura que fomenta e viabiliza atrocidades sem a responsabilidade devida.
Para além disso, é destacável as violações dos direitos determinados: Direito à Vida (artigo 4), Direito à Integridade Pessoal (artigo 5), Garantias Judiciais (artigo 8), Direitos da Criança (artigo 19), Proteção Judicial (artigo 25), bem como, nos termos da Convenção, os artigos 1.1 (Obrigação de Respeitar os Direitos) e 2 (Dever de Adotar Disposições de Direito Interno). Há, ainda, nos termos da Convenção de Belém do Pará, os artigos 7º, 8º e 9º violados, os quais tratam dos Deveres dos Estados, veementemente descumpridos. Além dessas, outras jurisdições foram violadas, de modo a expor a constante transgressão de normas e dos direitos humanos, de 1993 a 2001, em diante.
Por fim, um dos aspectos debatidos são expostos na Sentença em: “as violações dos direitos humanos das vítimas ocorridas desde o dia de seu desaparecimento até agora”, como consequência de aspectos supramencionados, há a extensão dos danos e das injustiças às famílias e às vítimas, cuja diligência foi inexistente na reparação dos malefícios causados a toda estrutura social. Ora, a violência se inicia no gênero e alcança a esfera simbólica e institucional, impulsionada pela prevalência dos “estereótipos de gênero” e, consequentemente, no clima de impunidade (Segato, 2005) resultante da ineficácia das normas e do Estado nas aplicações e na condução, respectivamente, quando há matéria conflitante à hegemonia de gênero.
CONCLUSÕES
Posterior aos temas abordados, questiona-se sobre a possibilidade material da igualdade de gênero, haja vista o cenário violento, antes de 1993 e mesmo após 2001 (período dos feminicídios de Juaréz), vigente nas sociedades hodiernas. A insustentabilidade do patriarcalismo já alcança o plano fático, tendo em vista os prejuízos aos homens e às mulheres, porém, o poder ainda prepondera relações sociais assimétricas, transferindo às esferas da economia, da política e da territorialidade.

Em suma, a violência de gênero ainda se apresenta como empecilho latente para uma segurança internacional plena, na qual as pessoas de todas as nações, gêneros, raças, classes e contextos sociais sejam contempladas e asseguradas. Nesse ínterim, o estudo a partir do caso das Mulheres de Juaréz apresenta diversas camadas passíveis de análises epistemológicas precisas, haja vista a complexidade do contexto discutido.
Com efeito, para a efetiva alteração do cenário atual, ainda que paulatina, deverá o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, de modo concomitante e consistente, atuar na mitigação da violência, assim como garantir a inserção de mulheres no seio social, nos cargos de liderança; aparar as vítimas e punir os agressores de maneira adequada – compromisso este que deve ser assumido por todos os países e, no caso da América Latina, considerar fatores históricos, sociais, econômicos e culturais das nações; educar jovens e reeducar agressores como metodologia de prevenção dos ciclos de violência; e, por fim, as temáticas discutidas anteriormente devem ser pautadas extensivamente, para mudança social qualitativa.
Estudante de Direito da Faculdade de Direito de Alagoas, da Universidade Federal de Alagoas (FDA/UFAL), estudante de Relações Internacionais, esta como vice-presidente da Liga Acadêmica de Estudos dos Direitos das Mulheres (LAEDIM), também integra ao Grupo de Pesquisa Estado, Direito e Capitalismo Dependente, produz conteúdo para a internet sobre estudos, produtividade e rotina.