Um dia após o ativista conservador Charlie Kirk ser baleado e morto enquanto discursava na Utah Valley University, comentaristas repetiram um refrão familiar: “Isto não é quem somos como americanos”.
Outros opinaram de forma similar. Whoopi Goldberg no “The View” declarou que os americanos resolvem desacordos políticos pacificamente: “Esta não é a nossa maneira de fazer”.
No entanto, outros episódios terríveis vêm imediatamente à mente: o presidente John F. Kennedy foi baleado e morto em 22 de novembro de 1963. Mais recentemente, em 14 de junho de 2025, Melissa Hortman, presidente emérita da Câmara dos Representantes de Minnesota, foi baleada e morta em sua casa, junto com seu marido e seu golden retriever.
Como historiador da república inicial, acredito que ver esta violência na América como “episódios” distintos está errado.
Em vez disso, eles refletem um padrão recorrente.
A política americana há muito personaliza sua violência. Repetidamente, o avanço da história foi imaginado como dependente de silenciar ou destruir uma única figura – o rival que se torna o inimigo último e desprezível.
Portanto, afirmar que tais tiroteios traem “quem somos” é esquecer que os EUA foram fundados sobre – e há muito são sustentados por – esta mesma forma de violência política.
Violência revolucionária como teatro político
Os anos da Revolução Americana foram incubados em violência. Uma prática abominável usada contra adversários políticos foi o alcatroamento e penas. Era uma punição importada da Europa e popularizada pelos Sons of Liberty no final da década de 1760, ativistas coloniais que resistiam ao domínio britânico.
Em cidades portuárias como Boston e Nova York, multidões despiam inimigos políticos, geralmente suspeitos legalistas – apoiadores do domínio britânico – ou funcionários representando o rei, besuntavam-nos com piche quente, rolavam-nos em penas e os desfilavam pelas ruas.
Os efeitos nos corpos eram devastadores. Conforme o piche era removido, a carne saía em tiras. As pessoas sobreviviam à punição, mas carregavam as cicatrizes pelo resto da vida.
No final da década de 1770, a Revolução no que era conhecido como as Colônias do Meio havia se tornado uma guerra civil brutal. Em Nova York e Nova Jersey, milícias patriotas, partidários legalistas e regulares britânicos invadiam através das linhas county, mirando fazendas e vizinhos. Quando as forças patriotas capturavam irregulares legalistas – frequentemente chamados de “Tories” ou “refugiados” – frequentemente os tratavam não como prisioneiros de guerra, mas como traidores, executando-os rapidamente, geralmente por enforcamento.
Em setembro de 1779, seis legalistas foram capturados perto de Hackensack, Nova Jersey. Eles foram enforcados sem julgamento pela milícia patriota. Similarmente, em outubro de 1779, dois suspeitos espiões Tory capturados nas Hudson Highlands foram baleados no local, sua execução justificada como punição por traição.
Para os patriotas, esses assassinatos eram dissuasão; para os legalistas, eram assassinato. De qualquer forma, eram inconfundivelmente políticos, eliminando inimigos cujo “crime” era lealdade ao lado errado.
Pistolas ao amanhecer: Duelo como política
Mesmo após a independência, o funcionamento da política americana permaneceu fundamentado em uma lógica de violência contra adversários.
Para líderes nacionais, o duelo de pistolas não era apenas sobre honra. Ele normalizou uma cultura política onde os próprios tiros eram tratados como parte do debate.
O duelo mais famoso, claro, foi o assassinato de Alexander Hamilton por Aaron Burr em 1804. Mas dezenas de confrontos menos conhecidos pontilharam a década anterior.
Em 1798, Henry Brockholst Livingston – mais tarde um juiz da Suprema Corte dos EUA – matou James Jones em um duelo. Longe de ser desacreditado, ele foi considerado como tendo agido honrosamente. Na república inicial, mesmo o homicídio poderia ser absorvido pela política quando envolto em ritual. Ironicamente, Livingston havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato em 1785.
Em 1802, outro espetáculo vergonhoso se desenrolou: os republicanos-democratas de Nova York DeWitt Clinton e John Swartwout se enfrentaram em Weehawken, Nova Jersey. Eles dispararam pelo menos cinco rodadas antes de seus segundos intervirem, deixando ambos os homens feridos. Neste caso, o confronto nada teve a ver com princípio político; Clinton e Swartwout eram republicanos. Era uma disputa de patronagem que ainda assim irrompeu em tiros, mostrando como a violência armada era normalizada para resolver disputas.
Cultura das armas e sua expansão
É tentador descartar a violência política como uma sobra de algum estágio “primitivo” ou “de fronteira” da história americana, quando políticos e seus apoiadores supostamente careciam de restrição ou padrões morais mais elevados. Mas esse não é o caso.
Desde antes da Revolução em diante, punição física ou mesmo assassinato eram maneiras de impor pertencimento, marcar a fronteira entre insiders e outsiders, e decidir quem tinha o direito de governar.
A violência nunca foi uma distorção na política americana. Tem sido uma de suas características recorrentes, não uma aberração, mas uma força persistente, destrutiva e ainda assim estranhamente criativa, produzindo novos limites e novos regimes.
A dinâmica apenas se aprofundou à medida que a posse de armas se expandiu. No século 19, a produção industrial de armas e contratos federais agressivos colocaram mais armas em circulação. Os rituais de punir aqueles com a lealdade errada agora encontravam expressão no revólver produzido em massa e mais tarde no rifle automático.
Estas armas de fogo mais modernas tornaram-se não apenas ferramentas práticas de guerra, crime ou autodefesa, mas objetos simbólicos por direito próprio. Elas incorporavam autoridade, carregavam significado cultural e davam a seus detentores a sensação de que a própria legitimidade poderia ser reivindicada no cano de uma arma.
É por isso que a frase “Isto não é quem somos” soa falsa. A violência política sempre fez parte da história da América, não uma anomalia passageira, e não um episódio.
Negá-la é deixar os americanos indefesos contra ela. Somente enfrentando esta história de frente os americanos podem começar a imaginar uma política não definida pela arma.
Texto traduzido do artigo Yes, this is who we are: America’s 250-year history of political violence, de Maurizio Valsania, publicado por The Conversation sob a licença Creative Commons Attribution 3.0. Leia o original em: The Conversation.
Publicações da Revista Relações Exteriores - análises e entrevistas sobre política externa e política internacional.




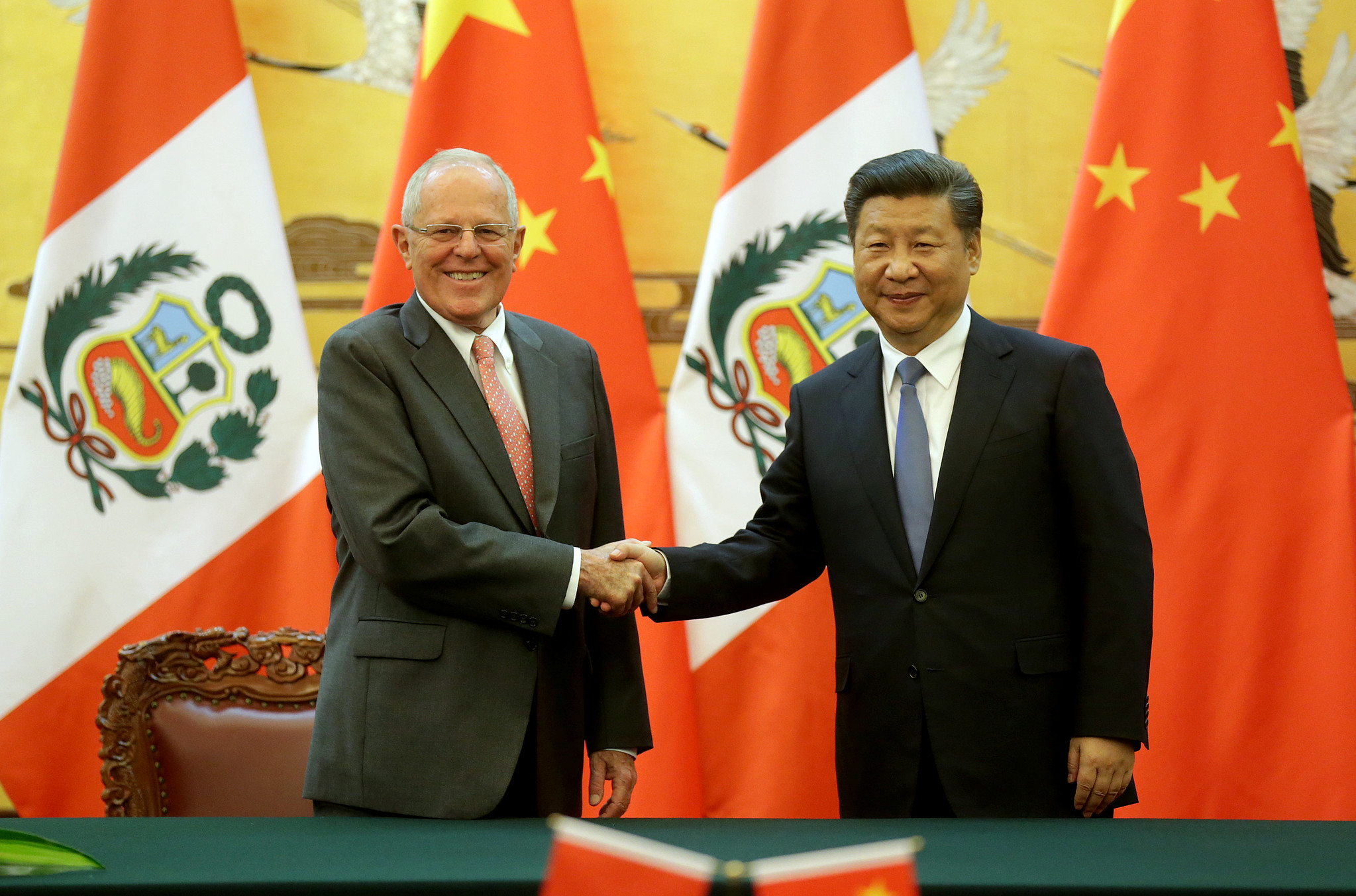





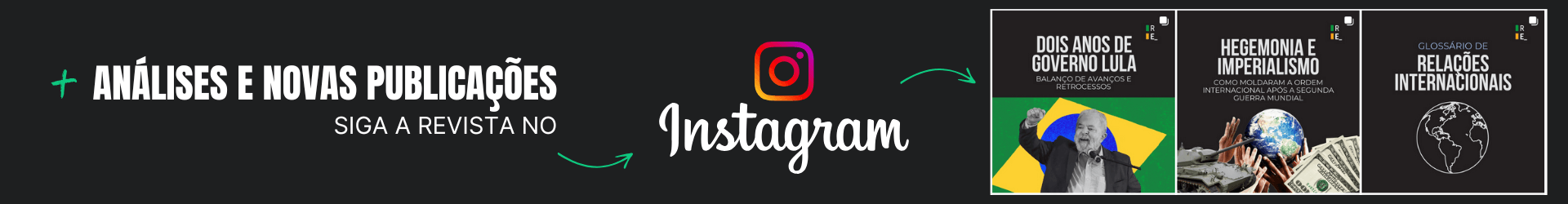




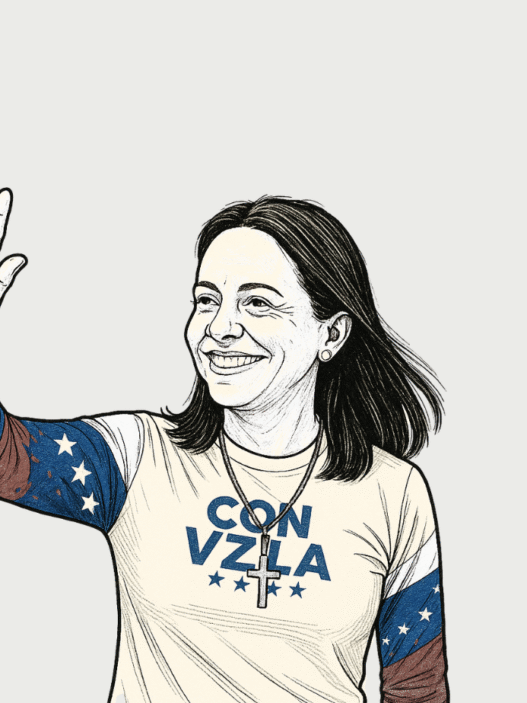



A violência política marcou a história dos EUA, mas não pode ser tomada como essência permanente da nação. Se fosse, a república não teria sobrevivido mais de dois séculos com eleições regulares, alternância pacífica de poder e instituições estáveis. Assassinatos como os de Lincoln ou Kennedy chocaram o país justamente por serem exceções, não regra.
Além da cultura de armas, existe uma forte tradição de ativismo cívico e mobilização pacífica — dos direitos civis ao sufrágio feminino. Comparada a outras nações, a violência política americana não é única, mas parte de um padrão humano mais amplo.
Portanto, dizer que “isto não é quem somos” pode ser ingênuo, mas não é falso: expressa um ideal que os EUA frequentemente perseguiram e, muitas vezes, conseguiram realizar.