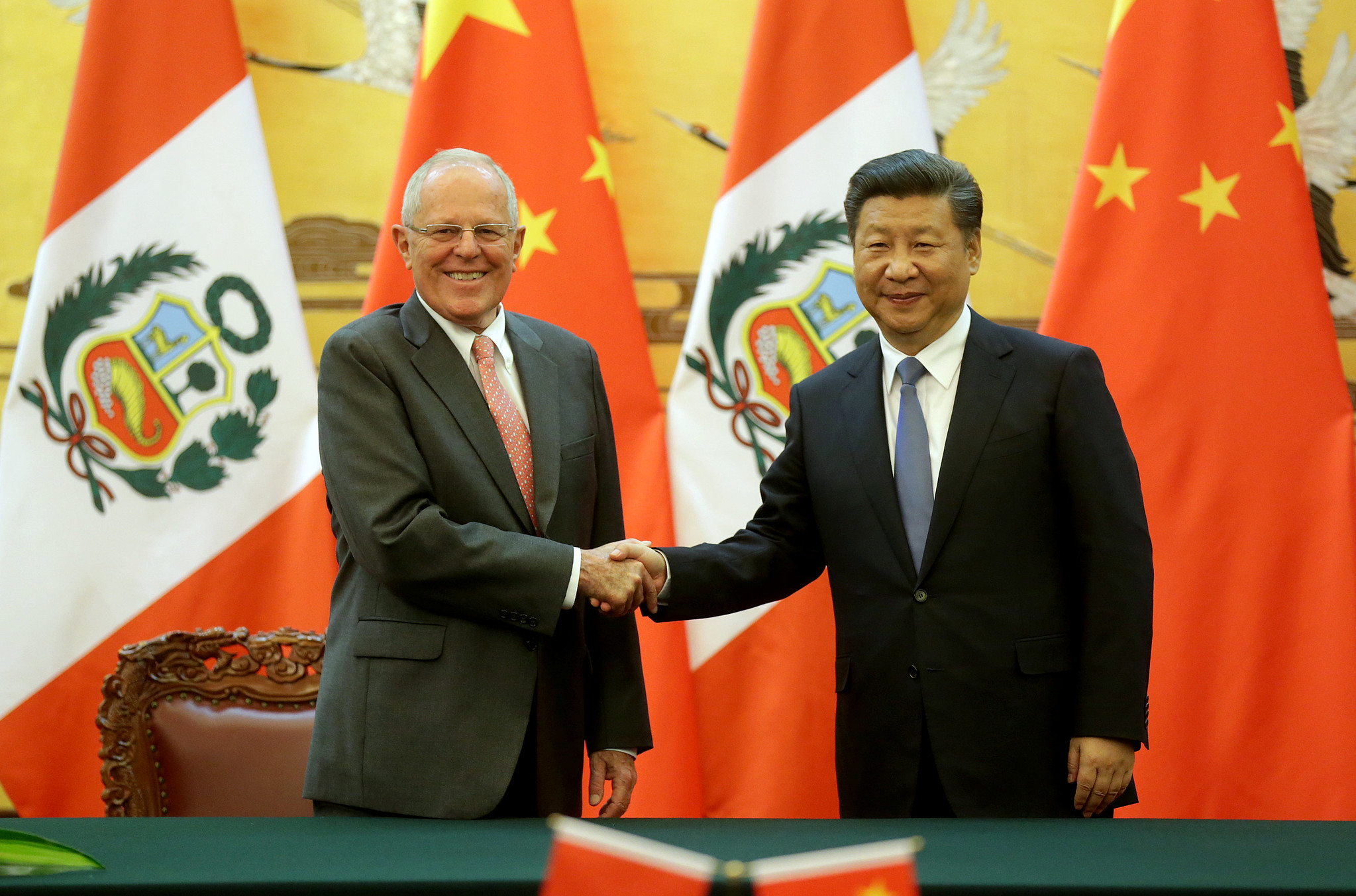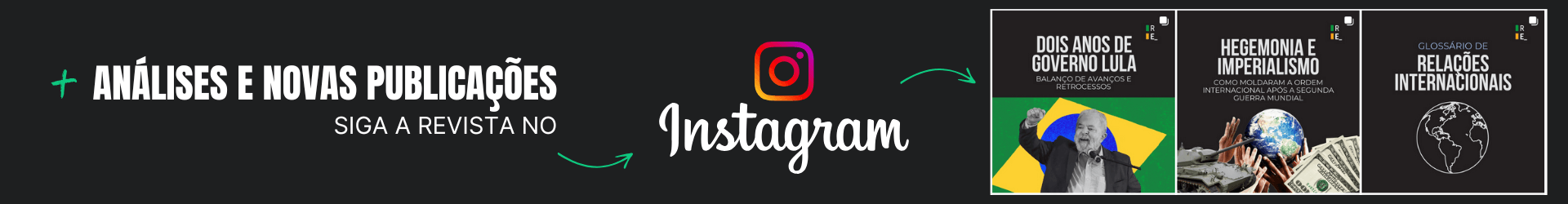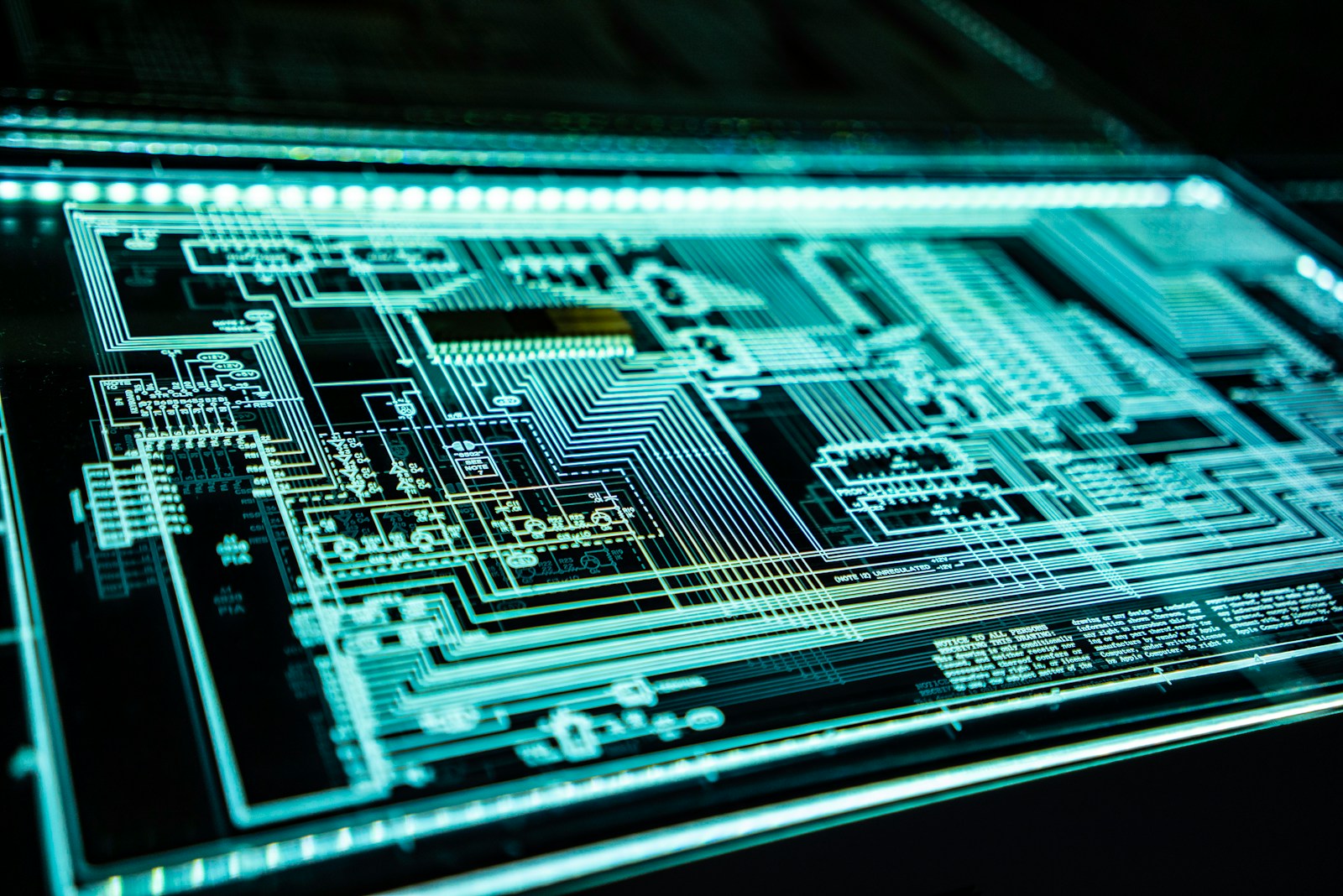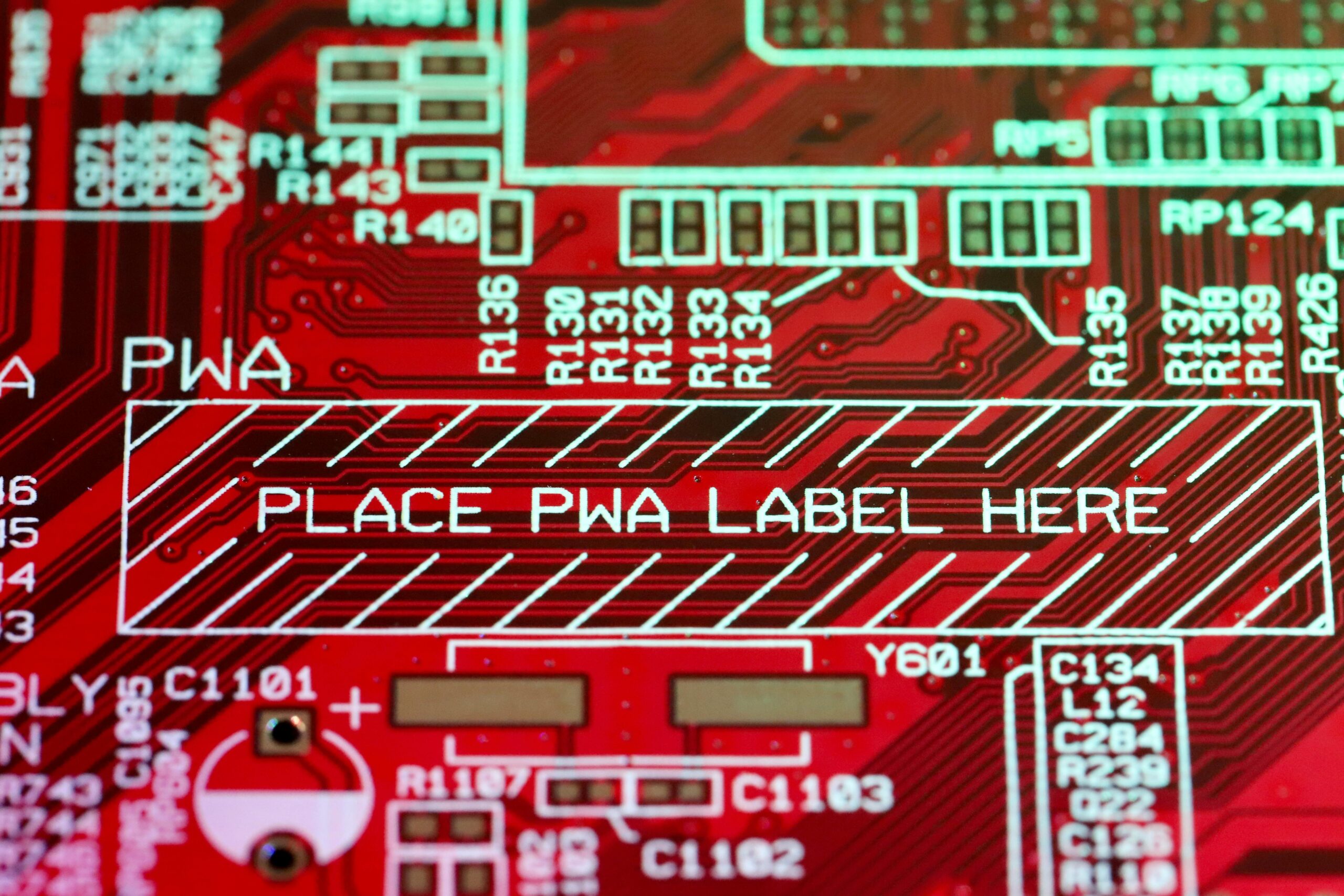Resumo
O presente artigo tem como objetivo analisar as três forças políticas que se entrelaçaram no Oriente Médio e acabaram por moldar o conflito na Palestina: os árabes, os judeus e os britânicos, partindo de meados do século XIX até 1947, ano em que as Nações Unidas apresentaram o plano de partilha. Ao final, lança uma reflexão sobre como o plano impactou no decorrer da disputa sobre a mesma terra entre árabes e judeus.
Sumário
Introdução
Desde o ataque do Hamas a civis israelenses em 7 de outubro de 2023, seguido dos bombardeios na Faixa de Gaza, o conflito entre palestinos e israelenses voltou a se intensificar. Diante do aumento da violência, a disputa de narrativas se estabelece entre os dois lados. Ambas as partes expõem suas perspectivas sobre os acontecimentos históricos, externando a complexidade e a sensibilidade da questão. Logo, um episódio é frequentemente citado, o plano de partilha da Palestina proposto pelas Nações Unidas em 1947 e, junto a ele, uma argumentação: “mas foram os árabes que rejeitaram o plano de partilha”. Tal frase parece deslegitimar as reivindicações árabes sobre terras palestinas, atribuindo a estes uma conduta intransigente perante as negociações. Ao mesmo tempo, sugere que as lideranças sionistas pleiteavam apenas por uma despretensiosa área na região.
Com o intuito de contribuir para o debate, este artigo busca compor um panorama histórico de três forças políticas: (1) os anseios dos nacionalistas árabes por emancipação em relação ao Império Otomano, em especial contra os Jovens Turcos; (2) o contexto social na Europa que motiva os judeus a se constituírem como pátria; e (3) as estratégias utilizadas pelo Império britânico em assegurar suas possessões no Oriente Médio no período entreguerras.
Tendo em vista as circunstâncias históricas de cada um destes atores, este artigo tem como objetivo lançar luz sobre como as Nações Unidas mediaram o conflito no pós-Segunda Guerra Mundial. Por fim, busca refletir sobre o significado que este episódio teve sobretudo para a resistência árabe-palestina.
Os árabes
Até a segunda década do século XX, uma área significativa do que se compreende como Oriente Médio, pertencia às províncias do extinto Império Otomano. Ao longo do século XIX o império já se mostrava enfraquecido comparado ao poder ascendente dos Estados-Nações europeus. Havia recuado suas fronteiras na região dos Bálcãs e acirrado inimizade com o Império Russo. Desde 1908 o Império Otomano estava sob o comando dos Jovens Turcos, uma nova classe de políticos que almejavam modernizar as estruturas políticas do império e garantir a sua sobrevivência.
Nas províncias árabes, submetidas ao poder de Constantinopla, já era possível observar desagrados quanto à nova administração. O xarife Hussein ibn Ali ocupava a posição de emir de Meca, sendo encarregado de governar o Hejaz, região da costa oeste da península arábica. Como ocupante do posto, o emir Hussein era designado a ser o guardião dos locais sagrados do islã. Desta forma, é a ele que nacionalistas árabes, insatisfeitos com o governo dos Jovens Turcos, se dirigem para liderar um movimento de emancipação contra o domínio otomano. Mesmo sendo nomeado pelos Jovens Turcos, o cargo de emir de Meca passou a ter a sua autonomia minada. O novo governo, comandado pela ala mais autoritária e centralizadora do Comitê União e Progresso (CUP) pretendia administrar diretamente estes lugares sagrados, além de impor o turco como língua oficial nas escolas e na administração pública.
A eclosão da Primeira Guerra Mundial é fator crucial na configuração do cenário político que se desenha no Oriente Médio. O governo otomano, no comando do triunvirato[1], assina um acordo com a Alemanha, ambos rivais do Império Russo. Os turcos tinham a perspectiva de que a Alemanha pudesse garantir a integridade territorial do império, um desejo do próprio Kaiser Guilherme II. Enver Paxá, ministro da guerra que compunha o triunvirato, em complô com o almirante alemão Wilhelm Souchon, decidem lançar uma ofensiva contra a Rússia. Em 29 de outubro enviam dois navios otomanos e atacam os portos russos de Odessa, Sebastopole Mykolaiv, no Mar Negro. Em retaliação, o Reino Unido e a França, aliados da Rússia, declararam guerra contra o Império Otomano. Já tendo a Alemanha como aliada, os otomanos se unem às Potências Centrais. Uma decisão que compromete a sobrevivência do império e o futuro de suas províncias.
Na intenção de conquistar apoio militar no Oriente Médio, o alto comissário britânico no Egito, Henry McMahon, inicia uma troca de correspondências com o emir Hussein, acenando o interesse em firmar uma aliança anglo-árabe. Os britânicos, cientes das divergências entre a província e o império, oferecem às lideranças árabes, apoio na luta por independência, além da promessa de reconhecimento do emir Hussein como o califa de um reino árabe independente. Em contrapartida, os árabes enfrentariam as tropas otomanas, ajudando os britânicos a derrotá-los. Nas cartas, Hussein era bem preciso quanto às suas demandas territoriais. O reino idealizado pelo emir cobriria desde o Sinai, até o sul da Turquia, o litoral do Mediterrâneo até os limites da Pérsia, atual Irã e incorporando a península arábica (esta última conflitaria com a dinastia rival, os sauditas). Em resposta, o alto comissário fez duas ressalvas. Uma sobre as regiões do sul da Turquia e o oeste da Síria, que estava sendo prometida aos seus aliados franceses. Já a segunda sobre as regiões de Bagdá e Basra, na Mesopotâmia, que já estava na esfera de interesse dos próprios britânicos. O emir Hussein acata as ressalvas, todavia, pressupõe que os interesses britânicos e franceses sobre estas áreas são circunstanciais em virtude da guerra. Sendo transferidas para o seu prometido reino ao término do conflito. O acordo é firmado e em 1916 o emir Hussein lança suas tropas contra os turcos e no mesmo ano declara a independência árabe.
Em paralelo à aliança anglo-árabe, o diplomata britânico Mark Sykes e o francês George Piocot, antecipando a vitória sobre a Tríplice Aliança, negociam secretamente a partição das províncias otomanas em áreas de controle e influência. Fica acordado entre os diplomatas que o território dos atuais Líbano e da Síria passariam para o controle da França, enquanto o Iraque e a Jordânia ficariam sob o britânico. A região da Palestina ficaria sob “administração internacional”. O Acordo Sykes-Picot, como ficou conhecido, traça um esboço do que será futuramente o mapa do Oriente Médio. Os limites fronteiriços dos atuais Estados árabes correlacionam de forma aproximada ao que foi desenhado no passado.
A aliança militar anglo-árabe foi crucial para a vitória da Tríplice Entente no Oriente Médio. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano estava derrotado e as suas províncias estavam agora capturadas pelos países vencedores, Reino Unido e França. Diante das circunstâncias, os Aliados se viram sob o desafio de reorganizar o sistema internacional de modo a evitar futuros conflitos e estabelecer as bases para a paz duradoura. Para o alcance desses objetivos é criada em 1919 a Liga das Nações. Um dos desafios enfrentados pela Liga era encontrar uma solução sobre as províncias dos inimigos, agora derrotados. O Reino Unido, a França e o Japão defendiam uma anexação direta sobre esses territórios. Os Estados Unidos se opunham, advogando que tal ação infringiria um dos princípios-base da Liga, a autodeterminação dos povos. A solução encontrada foi estabelecer um sistema de mandatos. Estes funcionavam como um “status político-administrativo”. Em teoria por um tempo provisório, até que essas regiões alcançassem suas independências. Na prática, as potências imperialistas estavam se tornando uma espécie de “Estado tutor” dessas áreas, que em sua perspectiva careciam de maturidade e seriam incapazes de fomentarem a sua autonomia.
A transferência desses territórios para controle dos Aliados foi oficializada com a ratificação do Tratado de Sèvres, em 1920. Toda a região do Oriente Médio, que pertencia ao Império Otomano, estava agora partilhada como o planejado, sob o controle do Reino Unido e da França. Um resultado bem diferente do esperado pelos nacionalistas árabes. A promessa de um reino árabe independente não se concretizara. O emir Hussein havia certamente calculado mal as ambições do Império britânico, tão pouco, as consequências que elas viriam produzir para o mundo árabe.
Os judeus
Ao longo dos séculos, a Europa carregou consigo o preconceito religioso direcionado à minoria judaica. Devido à descrença na divindade de Jesus como o Messias, a tradição cristã acusou os judeus de terem sido cúmplices por sua crucificação. Ateando-os uma culpa coletiva pela morte do profeta. Historicamente, em tempos de crise na Europa, os judeus se tornam alvos de acusações pelos cristãos sobre os problemas que se abatem sobre a sociedade. No entanto, as transformações que vinham ocorrendo no século XIX, redirecionaram a natureza desse preconceito.
Em 1859, Charles Darwin publica A Origem das Espécies. Seu trabalho oferece explicações sobre a lei da seleção natural, destacando a sobrevivência dos mais adaptáveis no ambiente externo. Embora originalmente desenvolvida para ser aplicada aos fenômenos do reino animal, a nova teoria passa a influenciar a perspectiva de mundo do indivíduo europeu do século XIX, inclinado a caminhar para um modo de vida secular, se distanciando cada vez mais dos preceitos religiosos e adotando a ciência como “crença” na explicação dos fenômenos naturais. Assim, a teoria darwinista tornou-se uma referência para explicar as diferenças entre as raças humanas, sugerindo a existência de uma estrutura racial hierárquica. Logo, o indivíduo europeu atribui a ele próprio o topo desta hierarquia. Ideia que servirá de sustentação para a ideologia nazifascista. É desta forma que a origem semítica passa a ser subjugada e o preconceito contra os judeus se desloca do eixo religioso para o racial.
É possível observar o aumento do sentimento antissemita no decorrer do século XIX. Políticos e intelectuais propagavam teorias conspiratórias contra os judeus, os acusando de controlarem a economia e a política mundial. Muitos desses discursos ecoavam também em camadas sociais desfavorecidas que, por fim, conferiam a esses políticos representações no parlamento. Partindo como exemplo, na Alemanha, um desses políticos foi Hermann Ahlwardt. Seu discurso se direcionava principalmente às áreas rurais, culpando os judeus pela queda dos preços agrícolas. Também os acusou de terem fornecido armas defeituosas ao exército alemão. Todas as alegações eram infundadas. Mesmo assim, Ahlwardt conseguiu eleger-se deputado e ganhou um assento no Reichstag. O clérigo e teólogo luterano, Adolf Stoecker, no intuito de atrair a classe operária para o campo conservador e distanciá-los dos adversários sociais-democratas, funda em 1878 o Partido Social Cristão, em um programa político abertamente antijudaico. Mais um caso foi do jornalista Theodor Fritsch, que se empenhou em canalizar o seu ódio aos judeus entre as classes mais baixas das áreas urbanas desapontadas com o desempenho econômico. Publicou uma série de escritos antissemitas. Anos mais tarde se elegeu pelo Partido Nazista.
A aversão a judeus não se limitava apenas ao espectro da direita. Influentes intelectuais socialistas também publicavam suas ideias odiosas, conjugando anticapitalismo e antissemitismo. Na França, o filósofo Charles Fourier, um notável socialista, insultava os judeus como mentirosos, golpistas e sobretudo ladrões, porém não ladrões usuais, faziam por meio de um fictício controle sobre o sistema financeiro em mãos judaicas. Ideia que continuará a ser defendida pelo seu seguidor, o jornalista Alphonse Toussenel, na obra Os reis judeus da época publicada em 1845, nela o jornalista faz uma crítica sobre a substituição do sistema feudal para o capitalismo financeiro controlado por judeus. Mais hostil, o filósofo Pierre-Joseph Proudhon, acreditava que os judeus tinham uma natureza irreparável. Em suas anotações, expressa o desejo mais arraigado na sociedade europeia: “Essa raça deve ser exterminada ou enviada de volta à Ásia”.
Mas nenhum caso de antissemitismo foi mais emblemático do que o Caso Dreyfus. Alfred Dreyfus era um judeu, capitão do exército francês e foi acusado de ser um espião a favor do governo alemão. O capitão foi condenado à prisão perpétua pelo crime de “traição à pátria”. As provas das acusações eram falsas, mas só dois anos depois descobriu-se que o verdadeiro espião era o major Walsin Esterhazy, que não sofreu punição alguma sobre o crime. O jornal austríaco Neue Freie Presse cobre o caso através do seu correspondente em Paris, o jornalista e crítico literário Theodor Herzl. Nascido em Budapeste, segunda cidade mais importante do Império Austro-Húngaro, escrevia por talento nato. Era um judeu assimilado, chegou a estudar em um colégio luterano, não circuncisou seu filho, não fazia cachos no cabelo e ainda gostava de enfeitar sua casa com árvore de Natal. O Caso Dreyfus divide a trajetória pessoal de Herzl, pois acontece no berço das lutas revolucionárias, onde se defendia o que havia de mais sofisticado e moderno em termos políticos. A mesma França da revolução, que um século antes havia concedido aos judeus igualdade civil e liberdade de cultos, agora gritavam “morte aos judeus” e os acusavam de traidores. Herzl estava convencido de que os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade não se estendiam aos judeus. Se fazia urgente uma resposta.
Theodor Herzl dá uma resposta à altura de seu tempo histórico. Vindo na esteira dos ideais iluministas e das conquistas revolucionárias, a Europa estava tomada por um fervoroso sentimento nacionalista. Nas décadas finais do século XIX, o conceito de nação se organizava como ideologia política. A formação dos Estados-Nações europeus se sustentava na valorização de uma identidade coletiva, partilhada por indivíduos com origens étnicas, culturais e linguísticas em comum. Envolto destes acontecimentos, Theodor Herzl publica em 1986 O Estado judeu. Em sua obra elenca cada elemento do futuro Estado para que os judeus possam se constituir como uma nação. Herzl pensa uma república aristocrática, secular e economicamente avançada, semelhante ao desenvolvido na Europa. A criação de um lar nacional judeu não se limitava a ser um lugar de refúgio, significava também uma entidade política que providenciasse aos judeus a manutenção de sua cultura e tradições históricas. Já no ano seguinte à publicação, preside o primeiro Congresso Sionista, na Basiléia, conseguindo a adesão de judeus de outras partes do mundo ao seu movimento nacionalista. A ideia de um lar para os judeus, também ganha a simpatia de políticos como Joseph Chamberlain, secretário britânico das colônias e, por ironia, a do Kaiser Guilherme II, um implacável antissemita que vislumbra nos planos de Herzl uma oportunidade de ter o Império Alemão livre de judeus.
Conforme o direito internacional, um Estado é constituído de quatro elementos: território, população, governo e relações internacionais. Para colocar em prática o seu empreendimento, Herzl já tinha ao seu alcance uma população disposta a se deslocar. Havia angariado partidários ao sionismo, que viriam formar a unidade administrativa do Estado. Conseguiu também o apoio de políticos internacionais com quem poderia estabelecer relações diplomáticas. Faltava agora apenas conseguir o território.
Os britânicos
Ainda durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos pretendiam conquistar o apoio dos judeus para o lado dos Aliados. O ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Arthur Balfour, endossa a criação de um lar nacional judeu na Palestina enviando uma carta ao Barão de Rothschild, uma figura influente do sionismo. Em 1917 a Declaração Balfour é publicada, formalizando o apoio do Reino Unido ao nacionalismo judeu. Mas um ano antes os mesmos tinham firmado um acordo com os árabes, prometendo apoio e reconhecimento de um reino independente. A declaração é um sinal claro para os árabes de que os ingleses planejam não honrar o prometido. É importante ressaltar que o elemento chave de ambos os acordos estabelecidos pelos ingleses é a terra. No entanto, não é acertado com exatidão os limites territoriais nem do reino árabe e nem do Estado judeu.
As preocupações do Império britânico no pós-Primeira Guerra estavam em assegurar seu controle sobre as áreas conquistadas. O Oriente Médio funcionava como um corredor estratégico, conectando as possessões coloniais britânicas desde o Egito, passando pela Mesopotâmia, chegando até à Índia. Já havia suspeitas de petróleo na região da Mesopotâmia, o que atenderia a necessidade de abastecer a marinha britânica. Winston Churchill, secretário das colônias, agora se empenha no que ele chamou de “solução xarifiana”. Cientes do não cumprimento britânico sobre a promessa feita aos nacionalistas árabes, Churchill propõe estabelecer novos acordos com os Hachemitas. Os ingleses agora se concentram em estreitar seus laços políticos com lideranças que ofereciam lealdade, como forma de manterem a sua influência na região. Mas ao estabelecerem sua presença, os imperialistas tiveram que lidar com as tentativas de insurgências locais. Em 1920, Faisal, filho de Hussein, lidera uma revolta em Damasco com o propósito de formar um Estado independente. A rebelião logo foi reprimida pelas forças francesas que controlavam a Síria. Faisal então é expulso de Damasco e é nomeado rei do Iraque, região que estava sob mandato britânico. Churchill e mais o coronel T.E. Lawrence, procuram estabelecer acordo com Abdullah, o outro filho de Hussein. A ele é oferecido o Estado da Transjordânia, outra área que está sob mandato britânico. Abdullah aceita a oferta. Só em 1923 os ingleses decidem separar a Transjordânia da Palestina, para poder ser cumprida a promessa feita aos judeus.
Em 1920, na Palestina, que compõem a terceira área sob mandato britânico, os ingleses nomeiam como alto comissário Sir Hebert Samuel, um judeu e autodeclarado sionista. A nomeação preocupa as lideranças árabes, que a interpretam como um fortalecimento da política sionista com anuência dos britânicos. É bem certo que o alto comissário tentou acalmar as preocupações árabes, indicando como mufti[2] de Jerusalém Amin al-Husseini, um devoto nacionalista árabe. Mas a nomeação não é suficiente para tranquilizar os árabes e ainda passa a preocupar os judeus. O mufti se torna presidente do Supremo Conselho Muçulmano, órgão supervisor das instituições islâmicas na Palestina. Amin al-Hussein liderava a ala mais radical dos nacionalistas árabes, se opondo ao prefeito de Jerusalém, Raghib al-Nashashibi, que se mostrava mais moderado ao tentar contemplar reivindicações árabes e judaicas. No mesmo ano, representantes da Associação Muçulmanas-Cristãs se reúnem no Terceiro Congresso Árabe Palestino. As lideranças formam o Comitê Executivo Árabe, para ser uma representação política que exponha suas demandas às autoridades britânicas. O Comitê é presidido por Musa Kazim al-Husseini, um importante político deposto pelas autoridades britânicas, do cargo de Presidente da Câmara de Jerusalém por apoiar Faisal na revolta em Damasco. Nota-se que a resistência árabe não era um bloco homogêneo.
Quanto mais a imigração se intensificava, mais a rivalidade se acirrava. Ao comprar as terras de proprietários árabes ausentes, os árabes camponeses que viviam na região eram expulsos, o que incitava o ódio à presença sionista na Palestina. Os novos colonos, eram recém-chegados na sua maioria do leste europeu e Rússia, estavam dispostos a empreender um projeto de Estado moderno. Muito diferente dos judeus que ali viviam até o final do século XIX. Estes estabeleciam uma relação religiosa com à terra. Após cada episódio de violência, o governo britânico formava uma comissão de inquérito que emitia um relatório, chamado de Livro Branco. Ao todo foram três durante quase duas décadas, na intenção de conter a imigração judaica e a compra de terras palestinas. Desta forma, as autoridades britânicas tentavam tranquilizar os árabes sobre o estabelecimento de uma Estado judeu na Palestina. Entre 1919 e 1920 houve confusões nas cidades de Jerusalém e Jaffa fazendo vítimas 95 judeus e 65 árabes. A Comissão de Inquérito Haycraft resulta no Livro Branco de 1922. O Livro propunha limitar a imigração judaica a uma capacidade econômica que a região consiga absorver como força de trabalho. E ainda reiterava a Declaração Balfour como um apoio a um lar judeu na Palestina, apenas em uma parte dela.
Entre 1919 e 1929 a Palestina recebeu cerca de 88.500 judeus[3], a aquisição de terras pelo Fundo Nacional Judeu só tendiam a aumentar e os embates também. Em 1929, um colono judeu ergueu uma bandeira nas proximidades do Muro Ocidental[4], deflagrando tensões em ambos os lados que se alastrou pelas cidades de Hebron, Jaffa e Safad, resultando novamente em mortes. Ao todo 116 árabes e 133 judeus. Uma nova comissão é feita em decorrência dos confrontos e o Livro Branco de Passfield é publicado em 1930. Desta vez a imigração e compra de terras deveria passar por uma rigorosa análise do governo britânico. Indignados, as lideranças sionistas se articulam em Londres e na Palestina para pressionar o Primeiro-ministro britânico Ramsay MacDonald a alterar a medida. As reivindicações judaicas foram acatadas por MacDonald que chegou a desmentir a declaração feita pelo próprio governo, alegando que o Reino Unido não impediria qualquer imigração ou compra de terras por judeus.
Em 1936 as lideranças árabes convocam os palestinos a uma greve geral, pedindo para que não pagassem impostos aos britânicos e boicotassem os produtos judeus. Houve atritos tanto com os judeus quanto os ingleses. O governo britânico realiza uma nova comissão de inquérito. Em 1937, pela primeira vez se propõe partilhar a Palestina. Na proposta, os judeus ficariam com o litoral, as terras do Vale do Jezrael e da Galileia, o que corresponde a 20% do todo o território palestino. Vale ressaltar que estas eram as terras mais férteis. A Cisjordânia, a Faixa de Gaza, o deserto do Neguev e o Vale do Arabá ficariam para os árabes. Os britânicos ficariam com Jerusalém ligada por uma faixa ao Mediterrâneo. Porém, os árabes tinham duas preocupações. A primeira era o fato que cidades de povoados árabes ficariam nas áreas destinadas aos judeus. Como solução, a Comissão propõe uma transferência da população árabe dos territórios judeus. A segunda, é que os árabes palestinos não teriam direito a um autogoverno, a região da Palestina ficaria sob o governo da Transjordânia, que tinha como rei o emir Abdullah, a quem os árabes palestinos não depositavam confiança e ainda o acusava de ser conivente com os interesses britânicos. A proposta não agrada os nacionalistas palestinos. Em 1939 é então emitido o terceiro Livro Branco, impondo limite a imigração judaica em 75.000 pessoas em até cinco anos.
O Reino Unido, que vinte e dois anos antes apoiara os judeus em sua demanda por um lar nacional, agora se tornavam os inimigos, por travarem obstáculos aos planos das autoridades sionistas. Em resposta, o Yishuv[5] organiza milícias para confrontar os britânicos e expulsá-los da Palestina. Assim como as lideranças árabes, o nacionalismo judeu também sofre divisões internas. David Ben Gurion, representante do sionismo trabalhista, é presidente da Agência Judaica e mesmo se opondo ao Livro Branco de 1939, prefere adotar uma postura moderada, ficando ao lado dos ingleses. Encarava a Alemanha como a real inimiga e a responsável pela piora das condições dos judeus na Europa. Já a direita sionista tinha como porta-voz o jornalista Vladimir Jabotinsky. Seus seguidores eram chamados de “Revisionistas”, pretendiam revisar a fronteira do Estado judeu de modo a estendê-la para o leste, além do Rio Jordão. Consideravam os ingleses tão impiedosos quanto, ou se não mais do que os alemães. Pois, estavam negando refúgio aos judeus no momento de perseguições atrozes. Partidários dessa ala formavam as milícias mais radicais, o Irgun e o Lehi. Como forma de combate, promovem ataques às instalações britânicas, sabotagem à infraestrutura de comunicação e assassinatos de oficiais. A Agência Judaica também tinha seu braço armado, o Haganah. Só com o fim da Segunda Guerra que o Haganah vai atuar em apoio ao Irgun e o Lehi na luta contra os ingleses. Em junho de 1946, as autoridades britânicas, desconfiadas da participação da Agência Judaica nos atentados, apreendem documentos que incriminavam o Haganah em participação em atos terroristas. Os documentos foram levados para o King David Hotel em Jerusalém, onde ficava uma instalação dos mandatários. Com receio de que as provas em mãos britânicas poderiam prejudicar ainda mais as lideranças sionistas, o Haganah coordenou um ataque ao hotel. Em 22 de julho, membros do Irgun conseguiram alocar cerca de duzentos quilos de explosivos em caixas de leite no porão do hotel. A explosão aconteceu na hora do almoço, fazendo vítimas britânicos, judeus e árabes. O ataque ao King David Hotel é entendido como um ultimato para a permanência dos britânicos na Palestina. Incapazes de solucionar o imbróglio que eles mesmos ajudaram a criar, o Reino Unido decide no ano seguinte entregar o mandato às Nações Unidas.
Encarregada de solucionar as desavenças, as Nações Unidas formam a UNSCOP (Comitê Especial das Nações Unidas para a Palestina) uma comissão especial com onze membros, cada um representado por um país. Os representantes são enviados à Palestina para investigar e propor uma saída diplomática. Para o Alto Comitê Árabe, a Palestina era uma terra árabe por direito, pois estes lá habitavam há séculos. Jamal al-Husseini, um político palestino, afirmou: “Os árabes da Palestina não conseguem entender porque o direito de viver em liberdade e paz e desenvolver seu país de acordo com suas tradições deve ser questionado e constantemente submetido à investigação”. Os palestinos questionavam por que haveriam de pagar pelos crimes que a Europa cometia contra os judeus. Enquanto isso, a Agência Judaica segue promovendo imigrações ilegais, agora de sobreviventes dos campos de concentração. O Exodus, um dos navios que trazia 4.500 pessoas, foi impedido pelos britânicos de atracar no porto de Haifa. Todos que estavam a bordo foram transferidos para navios britânicos que regressaram com os sobreviventes de volta para a Alemanha. O dramático episódio foi assistido por ninguém menos que Emil Sandstrom, o presidente da UNSCOP, que estava em Haifa naquele exato momento. A opinião pública internacional, já chocada com as denúncias sobre os campos nazistas, se sensibiliza ainda mais. O mundo tendia a olhar com mais complacência à causa judaica do que às reivindicações árabes.
Ao fim do inquérito a comissão apresenta duas propostas como solução. Irã, Iugoslávia e a Índia defendem a proposta de um Estado federado, com um Estado judeu e outro árabe. Proposta rejeitada pela Agência Judaica. O Canadá, Guatemala, Países Baixos, Peru, Suécia, Tchecoslováquia, Austrália e Uruguai propõem partilhar a Palestina em dois Estados, um judeu, um árabe, deixando Jerusalém sob jurisdição internacional. Os judeus agora contam com o apoio norte-americano e soviético, que defendem a segunda proposta apresentada. Em 29 de novembro de 1947, a proposta é votada pela Assembleia Geral, resultando no placar de 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. O plano de partilha é ratificado pelas Nações Unidas.
Imagem 1 – Plano de Partilha das Nações Unidas (1947)

Fonte: United Nations (1983)
Considerações finais
A proposta apresentada pelas Nações Unidas não estabeleceu uma divisão equitativa entre área e população. Aos árabes foi destinado 45% do território, sendo que a população árabe somava ainda naquela data 1,3 milhões, equivalente a 2/3 da população total. Aos judeus foi destinado 55% do território, reconhecidos por uma organização internacional, mesmo com a comunidade judaica na Palestina somando o total de 650 mil pessoas. Significava uma conquista para as autoridades sionistas que até 1947 tinham adquirido aproximados 7% do território através do Fundo Nacional Judaico. Não havia o que se rejeitar na proposta. O projeto idealizado por Theodor Herzl cinquenta anos antes estava cada vez mais perto de ser concretizado. Já para os árabes não havia uma razão lógica e nem mesmo justa para aceitar tal diferença.
A ideia de partilha já nasceu fracassada. O conflito em questão se dá pelo fato de ambos reivindicarem a Palestina em sua totalidade. David Ben Gurion manifesta aos delegados da UNSCOP: “Estamos prontos a considerar a questão de um Estado Judaico numa parte significativa da Palestina, reafirmando, contudo, o nosso direito a toda a Palestina”. Alguns anos mais tarde, o maior líder da luta palestina, Yasser Arafat, em uma entrevista, declara: “objetivamos estabelecer nosso Estado árabe palestino, no qual muçulmanos, judeus e cristãos possam viver em paz, amizade e justiça”. Perguntado sobre as fronteiras, Arafat responde: “As fronteiras originais, do Mar (Mediterrâneo) até o Rio (Jordão)”.
Há de se levar em conta o contexto histórico em que o plano foi proposto. A Organização das Nações Unidas acabava de ser criada, em decorrência das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. As duas mais novas potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, estavam abertamente ao lado dos judeus, as principais vítimas do seu inimigo em comum, a Alemanha nazista. Defendê-los carregava uma representação política forte. Naquele ano, a Assembleia Geral das Nações Unidas era composta por apenas 57 países. Ainda não havia tomado força o movimento terceiro mundista, o que poderia pesar a favor dos árabes.
Ao longo do conflito, as Nações Unidas têm se comprometido em fornecer ajuda humanitária e assistência social aos territórios da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Até mesmo já classificou ações de Israel como crime de guerra. No entanto, no passado, ao renunciar a uma solução verdadeiramente justa para a questão, sancionou a relação assimétrica das negociações entre os dirigentes sionistas e palestinos. Israel, ciente da desigual correlação de forças, seguiu firme em seu projeto de nação, deixando aos palestinos sempre duas saídas: aceitar perder ou perder mais ainda.
Referências
ALGAZY, Joseph; VIDAL, Dominique. O Pecado Original de Israel. Lisboa: Campo da Comunicação, 2002.
ARMSTRONG, Karen. Jerusalém: uma cidade, três religiões. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
CLEMESHA, Arlene. Marxismo e Judaísmo: a história de uma relação difícil. São Paulo: Boitempo, 1998.
EVANS, Richard. A Chegada do Terceiro Reich. São Paulo: Crítica, 2017.
GLOBO. G1. [Online]. globo.com, 2022. Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/copa-do-catar/noticia/2022/11/25/emir-xeque-califa-sultao-entenda-o-que-significam-os-titulos-associados-ao-islamismo.ghtml. Acesso em: 14 dez. 2023.
HERZL, Theodor. O Estado Judeu. Rio de Janeiro: Garamond, 1998.
MONTEFIORE, Simon Sebag. Jerusalém: a biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
NASSER, Reginaldo Mattar; AMARAL, Rodrigo Augusto Duarte. O fim do Império Otomano e a criação do Estado Iraquiano além de Sykes-Picot: entre o imperialismo e a revolução. Revista de Relações Internacionais da PUC Minas, v. 8, n. 4, p. 35-58, 18 fev. 2021.
PALMER, Alan. Declínio e Queda do Império Otomano. São Paulo: Globo Livros, 2013.
ROGAN, Eugene. Os árabes: Uma História. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.
SAID, Edward. A Questão da Palestina. São Paulo: Editora UNESP, 2012.
SOCHACZEWSKI, Monique. O Império Otomano e a Grande Guerra. Revista Brasileira de Estudos Estratégicos, v. 1, n. 5, p. 221-238, 2013.
SOUNDHAUS, Lawrence. A Primeira Guerra Mundial: História Completa. São Paulo: Editora Contexto, 2011.
UNITED NATIONS: THE QUESTION OF PALESTINIAN. [Online]. UN.org. United Nations, 2024. Disponível em: https://www.un.org/unispal/document-source/united-nations-special-committee-on-palestine-unscop/. Acesso em: 18 jan. 2024.
GLOBO. G1. [Online]. globo.com mar. 2011. Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/03/livro-do-papa-diz-que-judeus-nao-tem-culpa-pela-morte-de-cristo-1.html. Acesso em: 19 jan. 2024.
Quer aprender mais sobre o conflito? Inscreva-se no Curso de Política Externa de Israel.
[1] Governo exercido por três autoridades.
[2] Uma personalidade religiosa que atua dentro da comunidade muçulmana como intérprete e consultor das leis corânicas.
[3] ROGAN, Eugene. Os árabes: Uma História. Rio de Janeiro: Zahar, p.285, 2009.
[4] Usualmente mencionado como “Muro das Lamentações”, termo pejorativo atribuído pelos britânicos durante o mandato, em referência a gesticulação dos fiéis durante as orações.
[5] Comunidade judaica na Palestina.
Cineasta de formação, especializou-se em Relações Internacionais e atualmente é pós-graduando em Ciência Política. Pesquisa a história da Palestina/Israel, religiões abraâmicas, antissemitismo e pós-colonialidade. É autor do livro "Jerusalém: o epicentro sagrado que une e desafia judeus, cristãos e muçulmanos".