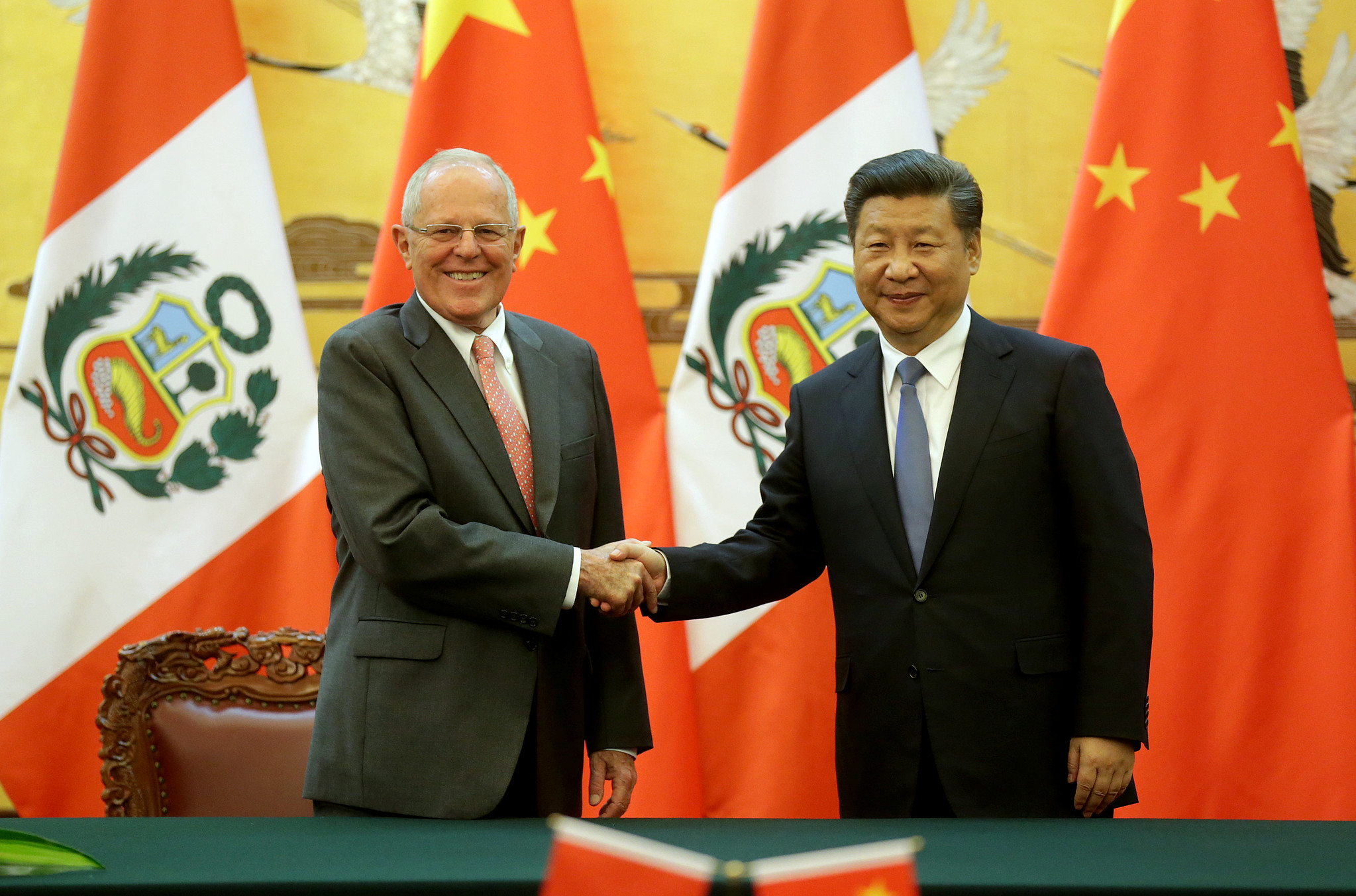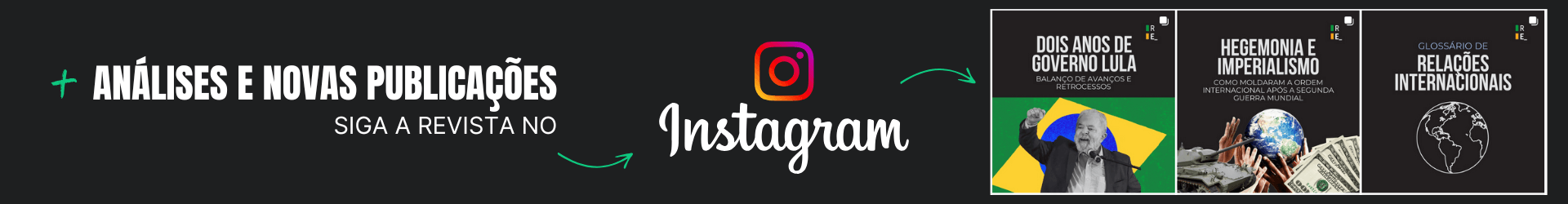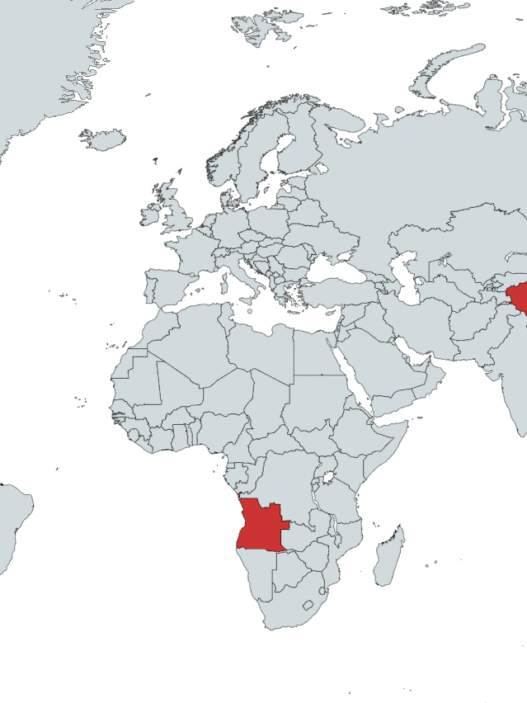Sumário
Introdução
Em 2023 o mundo presenciou 59 conflitos armados entre Estados – o maior número desde 1946 – e no correr de 2025 estamos testemunhando a escalada dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, Índia e Paquistão, República Democrática do Congo e Ruanda, Israel e Irã, Tailândia e Camboja, sem contar os massacres e crises humanitárias verificados em Gaza, no Sudão, na Etiópia e em Myanmar.
Além da proliferação de conflitos armados mundo afora e do retorno da corrida armamentista, o colapso do multilateralismo vem se fazendo inequívoco, como bem demonstra a paralisia de importantes organizações internacionais – a ONU, bloqueada por vetos no Conselho de Segurança; a OMC, ineficaz em sua função de arbitragem e as COPs climáticas cooptadas e congeladas, desprovidas de capacidade executiva.
O aumento da tensão no cenário global leva a crer que a antidiplomacia, o unilateralismo, a beligerância econômica – materializada nos recentes “tarifaços” do governo Trump e nas respectivas medidas de contra-ataque das economias afetadas –, o populismo internacional e a manipulação algorítmica serão os elementos definidores da política internacional contemporânea, e que o ciclo da ordem mundial baseada no multilateralismo clássico está inevitavelmente fadado à ruína completa.
Nesse contexto angustiante que se descortina no horizonte, de pouco entendimento, pouca cooperação, prevalência de interesses particulares e crise de legitimidade internacional, a indagação que assoma de pronto no inconsciente coletivo é justamente sobre o papel da diplomacia – o instrumento destinado a evitar ou encerrar guerras, gerir disputas, estabelecer normas e valores condizentes com o Direito Internacional e promover o bem estar da humanidade.
É dizer, a diplomacia sobrevive apenas em seu formato retórico, por meio da mera administração de assimetrias, ou constitui, de fato, uma vigorosa ferramenta capaz de assegurar os nobres princípios inscritos na Carta da ONU e de superar a lógica da soma zero dos Estados hegemônicos?
A resposta para essa pergunta não é simples e grassa necessariamente por uma reflexão acerca da exata compreensão da atividade diplomática, considerada a partir dos meandros da própria natureza humana. Vamos a ela.
Eros e Tânatos: a diplomacia e o conflito
Para entender o real conteúdo da atividade diplomática e o papel que ela desempenha na sociedade internacional é preciso perpassar a questão milenar que vem regulando a história social desde os primórdios: o equilíbrio entre paz e guerra.
Esse equilíbrio passa necessariamente pela representação das virtudes e dos vícios do caráter humano, em uma combinação paradoxal que algumas vezes leva os homens ao conflito e que em outras os incentiva à busca incessante pela paz.
Freud, em sua Teoria dos Instintos, admitiu desde logo a natureza violenta do homem como regra geral. Do seu ponto de vista, a violência humana pode ser explicada por dois arquétipos opostos – Eros, o princípio da vida, do amor, e da criação e Tânatos, o princípio da morte, da destruição e do destino inevitável. Ambos, Eros e Tânatos, entrelaçados e indispensáveis um ao outro, são partes fundamentais da natureza humana, necessários para a sobrevivência do indivíduo e para a realização plena do seu bem estar.
A questão que se coloca, e que constitui o mistério da sociedade humana, é saber por que o instinto da destruição prevalece tão fortemente em determinadas situações, mesmo sob a influência direta da racionalidade e do humanitarismo – justamente os instrumentos de que se vale, em tese, a diplomacia. Novamente a teoria freudiana sugere uma explicação, por meio da psicologia das massas.
A massa é impulsiva, imutável, irritável e quase inteiramente guiada pelo inconsciente. O indivíduo entra na massa em condições que lhe permitem liberar as repressões de seus impulsos inconscientes, nos quais estão contidos todos os aspectos negativos da alma humana – justamente o Tânatos, o princípio da destruição (FREUD, P…).
O fenômeno da influência sugestiva da massa dissipa o senso de responsabilidade individual, orienta os pensamentos e sentimentos na mesma direção, faz desaparecer a noção de impossibilidade, graças à receptividade automática das ideias sugeridas por meio dela e faz com que cada pessoa sinta, aja e pense de maneira completamente diferente do que se espera dela.
Na massa, as aquisições individuais se confundem e a singularidade desaparece. Não por acaso, o horror à guerra, senso comum individual, volatiza por completo quando a massa é instigada pelo rasgamento de uma bandeira, pelo desrespeito a um preceito religioso, cultural ou partidário, por uma decisão governamental ou por uma declaração enviesada ou mal interpretada de um estadista.
Para que a massa se considere fortemente ultrajada e clame pelo conflito, basta uma trivialidade e esse é o padrão repetitivo que tem sido verificado no histórico belicista da civilização humana. Essa repetição compulsiva está relacionada à parte intrínseca da psique humana que busca a autodestruição e a inércia – o Tânatos – e parte de uma representação coletiva da mente humana, que tem uma tendência própria a repetir eventos traumáticos, na esperança de dominá-los ou de encontrar uma solução para eles.
São justamente os estímulos excessivos, refletidos nas repetições massivas, que excitam a massa, avessa à racionalidade, aos argumentos lógicos e à reflexão sobre dúvidas ou incertezas. E é justamente esse feitiço sugestivo o responsável por tornar o sentimento de morte e de autodestruição palatável para a coletividade em determinadas situações.
Nesses casos, o ardoroso e frugal entusiasmo das multidões onipotentes, no extremo do regozijo bélico, acaba prevalecendo sobre o sentimento da vida e do amor (Eros), mas o decurso do tempo destrói esse paroxismo e traz à tona a dura realidade dos horrores da guerra.
Uma vez retomada a racionalidade e subjugado o instinto da destruição pelo princípio da vida e da criação, ressurge no cenário tático o lugar da diplomacia, a atividade responsável por controlar e envolver o instinto de destruição e tornar possível o direcionamento para conquistas mais prazerosas para a humanidade.
À primeira vista, esse ciclo de paz – guerra – paz parece previsível, estático e padronizado na história da humanidade. A primeira guerra plenamente descrita de que se tem notícia, travada entre egípcios e hititas, culminou na batalha de Kadesh, em 1274 a.C. e no subsequente tratado de paz.
Mas a diplomacia, assim como a guerra, lida com o desconhecido. O ambiente de incerteza, derivado da própria natureza humana, pendular entre Eros e Tânatos, opõe variáveis amorfas e indiferentes ao controle dos agentes internacionais. Isso significa que a atividade diplomática é fundamentalmente intuitiva e que tanto a experiência quanto a teoria são insuficientes para definir o seu contorno, não havendo regramento e nem ritmo pré-fixados para o seu exercício.
Se a diplomacia não é estática e nem regulada, como ela segue presente e operante desde a Antiguidade até os dias de hoje? Uma concisa análise histórico-social ajudará na elucidação.
A diplomacia de hoje e de sempre
Há quem sustente que a profissão do diplomata é das mais antigas, remontando mesmo à figura dos anjos, verdadeiros embaixadores do Senhor, responsáveis pela comunicação entre o céu e a terra (BATH, p. 14). Os tempos pré-históricos certamente testemunharam momentos em que um grupo Neanderthal, cansado de um período de carnificina, desejou a paz momentânea para curar seus feridos e enterrar seus mortos (NICOLSON, p. 17).
Já nesses tempos, antes mesmo do surgimento do homo sapiens, aflorava em nossos ancestrais o conflito entre Eros e Tânatos que marcaria a natureza humana de forma indelével. Substituindo o desejo de destruição pelo sentimento da vida e por uma racionalidade incipiente, aqueles grupos pré-históricos logo perceberam a necessidade de negociações e de proteção dos emissários selecionados para o diálogo com as comunidades rivais. Nascia aí a atividade diplomática, em sua acepção mais primitiva.
A evolução da diplomacia sedimentou as três funções que a caracterizam atualmente: a representação, a negociação e a informação (BATH, p. 19). A diplomacia das cidades-Estados gregas consolidou a função da representação por meio da oratória de seus mais experimentados tribunos (NICOLSON, p. 20). Deles não se exigiam a obtenção de informações sobre as cidades que visitavam ou a produção de relatórios; o que era esperado é que fizessem discursos magníficos que representassem os interesses de suas cidades-Estados, à maneira de Tucídides.
Dos romanos a diplomacia herdou as noções incipientes do Direito Internacional. Tendo alcançado a supremacia militar, Roma teceu suas relações exteriores do ponto de vista administrativo e não diplomático (NICOLSON, p. 23). Os arquivistas romanos eram hábeis nos precedentes jurídicos, mas não na arte da negociação e do uso da informação, algo que o Império Bizantino agregaria à atividade diplomática.
Os imperadores bizantinos exercitavam essa arte com consumada astúcia, basicamente fomentando a rivalidade entre os inimigos e cooptando alianças por meio de recompensas, bajulações ou mesmo pela difusão da fé cristã entre os infiéis (NICOLSON, p. 24). Esse método de manipulação, observação e cooptação garantiu aos bizantinos a antecipação estratégica quanto às ambições, fraquezas e recursos dos inimigos, tendo representado um divisor de águas entre a diplomacia meramente representativa e a diplomacia informativa e negocial.
Começou-se a delinear aí a bifurcação básica da atividade diplomática, entre a confrontação e a cooptação. As nações podem considerar-se reciprocamente como parceiras em uma causa comum ou como perigosas rivais. E tanto a cooptação quanto a confrontação podem surgir como método diplomático padrão, a depender das opções que o contexto épico estabeleça para os estrategistas (KISSINGER).
O uso simultâneo da persuasão e da força e a união entre a atividade representativa e a inteligência trouxeram para a diplomacia a sinergia necessária ao equilíbrio entre os extremos – a paz e a guerra – na medida em que ela se tornava mais empoderada pelo poder bélico dissuasório, ao mesmo em que as forças militares eram magnificadas pela estratégia da informação de alto refinamento.
Em resumo, se os gregos praticavam a diplomacia mediante a representação clássica e os romanos, por meio da dissuasão pura da força militar, os bizantinos alcançaram o equilíbrio entre a confrontação e a cooptação nas suas relações com os demais Estados.
Essa é a marca que caracteriza a atividade diplomática atual, cujo produto resulta de um elaborado cálculo frio e realista de centenas de camadas e que comporta a mais ampla e variada gama de atitudes. Em certas ocasiões, a linha correta de ação será a guerra; em outras, a aliança e a cooperação. E em ambos os casos, a diplomacia terá um papel fundamental para decidir o melhor caminho. Vencerá a estratégia que prometer mais ganhos com menor custo e não aquela que for mais equitativa, mais justa ou mais humana (FONSECA JR., p. 54).
Entre o imprevisível e o inesperado: a essência da diplomacia
O advento do Estado-nação no modelo westfaliano consolidou a soberania como fonte principal de projeção das comunidades perante o mundo. A ruptura com a antiga ordem internacional, formada por civilizações amorfas, conferiu aos novos Estados nacionais o status da igualdade, ao menos em seu aspecto formal.
Encerrados em fronteiras definidas muitas das vezes de maneira fortuita, em clara dissonância com a realidade, os Estados encarnaram a aura da perenidade, resumindo em si mesmos a ficção jurídica do pacto social definitivo, alcançado pelas respectivas comunidades de origem.
A questão é que a própria história nos mostra que a vontade e a capacidade do povo para influenciar o seu meio está sempre em constante mudança (KENNAN). A lei da mudança, regida pela massa impulsiva e inconsciente, é o parâmetro que fez – e faz –evoluir a história social, e o sistema internacional porventura vigente acompanha necessariamente esse processo de mudança.
A diplomacia, enquanto meio de entendimento entre os Estados, não pode cingir-se às amarras de concepções predeterminadas que ignorem o ímpeto de transição contínua das sociedades.
O imprevisível e o inesperado, mais do que o arcabouço jurídico, moral ou costumeiro, sempre estiveram na conta da atividade diplomática, mas o advento dos Estados-nações e da juridicidade no plano mundial, refletida no desenvolvimento do Direito Internacional e no robustecimento das organizações internacionais, relegou o viés estratégico da diplomacia – tão bem construído pelos bizantinos – ao segundo plano.
A essência da atividade diplomática – a criatividade aguçada pelo imprevisível e pelo inesperado – foi esquecida em razão do juridicismo e da imposição de fronteiras, ao mesmo tempo em que se estabeleceu a premissa ficta de que a natureza humana – oscilante entre Eros e Tânatos (ou entre a paz e a guerra) – poderia ser contida por uma concepção jurídica, conservadora e estática da política internacional.
Com a propriedade que lhe era peculiar, George Kennan bem asseverou uma conclusão espantosa: a de que a juridicização da política internacional, levada a efeito cegamente para conter a guerra, a violência e a injustiça, resultaria no efeito justamente contrário, ao tornar aqueles fenômenos deletérios mais duradouros, mais terríveis e mais destrutivos para a estabilidade da política mundial do que as antigas motivações dos interesses nacionais contrapostos (KENNAN). E, de fato, as guerras travadas em nome de sumos princípios morais e jurídicos foram as mais longas, devastadoras e diretamente identificadas com a concepção de vitória total.
Enquanto cada nação tiver de pensar em sua própria salvação ao mesmo tempo em que pensa na sobrevivência do sistema internacional e da raça humana, o comportamento diplomático-estratégico nunca será determinado racionalmente, mesmo em teoria (ARON, p.109). E é precisamente por essa razão que o imprevisível e o inesperado serão sempre os elementos inafastáveis nas relações entre os Estados.
Essa concepção realista das relações internacionais geralmente se opõe à doutrina idealista e gera o eterno debate entre o Maquiavélico e o Kantiano. Ocorre que as duas concepções, ao contrário do que estabeleceu o senso comum, não são contraditórias, mas complementares, na medida em que o racional e o ideal constituem momentos sucessivos, e não excludentes, na elaboração conceitual do universo social (ARON, p.110). E admitir a superação desse senso comum é o requisito primordial para que se possa entender a essência da atividade diplomática.
Não por acaso, o militar e o diplomata, as duas figuras que personificam o Estado, enfrentam a arena internacional, ambiguamente cooperativa e competitiva. A condução da política externa, assim como a condução da guerra, tem, por sua natureza, algo de aventura, na medida em que o estrategista militar e o diplomata tomam decisões e agem antes de reunir todo o cabedal de conhecimento desejável.
Assim, a ação diplomática de uma negociação, tal como a planificação de uma operação militar, fundamenta-se em probabilidades, decorrentes da própria imprevisibilidade das reações humanas, do segredo de que se revestem os Estados e da impossibilidade de saber tudo o que é relevante antes de agir.
A simbiose entre o racionalismo e o idealismo nas relações internacionais atesta que a diplomacia e a guerra não passam de modalidades complementares no intercâmbio entre as nações, sujeito ao conflito estratégico, à oposição de vontades, à hostilidade e à imprevisibilidade. Esse cenário sempre obrigou que a diplomacia se valesse de improvisações e adaptações necessárias à adequação dos interesses dos Estados ao eventual jogo geopolítico estabelecido, tal qual o recuo ou avanço tático de tropas em uma batalha.
Em não sendo (e nem podendo ser) organizada, a diplomacia foge do padrão estático e norteia-se em princípios subordinados aos ditames da empiria, e não o contrário. Como bem observou Otto Von Bismarck, na qualidade de instrumento da grande estratégia de um país, a diplomacia obedece aos esboços gerais dos objetivos a serem alcançados, e não cegamente aos detalhamentos próprios dos planos de longo alcance. (ALSINA, p. 340).
Na visão global de Rudolf Kjellen, os Estados falam, comerciam, promovem congressos ou lutam nos campos de batalha, invejam-se, odeiam-se ou simpatizam-se uns com os outros, atraem-se ou evitam-se, destruindo-se entre si como seres vivos de uma comunidade. A única coisa que entre eles difere das relações pessoais é a linguagem diplomática. Nessa via de comunicação não existe o “nunca” ou o “sempre” ou o “certo” ou o “errado” e sim interesses e objetivos nacionais, almejados com o máximo de satisfação e o mínimo de perdas políticas ou econômicas (MENEZES, p. 20).
A maximização dos objetivos nacionais é seguramente o maior desafio da diplomacia – e também da grande estratégia de uma nação – e o sucesso dessa empreitada passa por definir, antes dos eventuais oponentes, as táticas indispensáveis ao êxito.
Essa não é uma tarefa fácil, na medida me que os diplomatas e estadistas devem discernir entre a intenção hostil (fundada na capacidade militar e no poder dissuasório racional) e o sentimento de hostilidade (o elemento passional, pertencente ao povo e fundado na violência, no acaso e no ódio – a trindade paradoxal de Clausewitz, tão reflexiva da ambiguidade freudiana entre Eros e Tânatos).
O jogo binário entre capacidades e intenções na arena internacional é extremamente instável e apenas as ações e negociações diplomáticas habilmente conduzidas mediante um criativo planejamento político-estratégico multifacetado são capazes de responder adequadamente aos anseios globais. É precisamente por essa razão que a diplomacia segue viva e operante. Na guerra, o resultado nunca é definitivo e o Estado derrotado geralmente considera o resultado como um mal meramente transitório, cujo remédio poderá ser encontrado nas condições políticas de algum momento posterior (CLAUSEWITZ).
A guerra não é definitiva, assim como a paz também não o é. É justamente o ciclo paz-guerra-paz que aproxima diplomacia e estratégia como aspectos complementares na direção das relações internacionais e que possibilita que Estados beligerantes sigam com negociações diplomáticas em busca de vantagens que permitam encerrar o conflito em seu favor.
O mundo arde, mas a diplomacia segue viva e operante
Vimos que a evolução histórico-social da humanidade tem oscilado basicamente entre a paz e a guerra – o Eros e o Tânatos enraizados na psique coletiva –, replicados, grosso modo, nas tentativas filosóficas de explicação da violência no dualismo entre a ótica Hobbesiana e a Rousseauniana.
Para alguns, os seres humanos, em seu estado natural, são brutos e só a aplicação da lei e da ordem reprimiria o instinto natural da agressão. Para outros, os seres humanos são naturalmente criaturas gentis e a sociedade restritiva é que os forçaria a serem hostis e agressivos.
Independentemente do mérito desse eterno debate, é possível alcançar algumas conclusões irrefutáveis: que as mortes em massa não são peculiaridades da nossa era; que existem ciclos alternativos entre paz e guerra; que a história mundial encerra mais eventos violentos do que períodos de paz (ARONSON); e que a manifestação da agressividade depende das condições que a fomentem ou reprimam.
O pensamento idealista, resumido nas palavras de Steven Pinker, permitiria inferir mais uma conclusão: que ao longo dos séculos, a violência humana vem declinando graças, em parte, à ascensão dos Estados-nações que cuidam de decisões sobre guerra, justiça e recompensa, e à condenação e banimento quase universal da escravidão, de castigos cruéis e de maus tratos a crianças (ARONSON).
Esse contraponto à concepção realista – que enxerga o Estado-nação orgânico e a juridicização da política internacional como fatores de engessamento da ação diplomático-estratégica – apenas confirma a própria natureza da atividade diplomática, tida como abstrata, nebulosa e indeterminada, e cujos resultados só se tornam visíveis após os infinitos, pequenos e obscuros passos de estratégia silenciosa e perseverante (RICUPERO).
É justamente o trabalho frio, sutil e paciente da diplomacia, fundado na difícil arte da negociação que, a despeito do engessamento do seu viés estratégico e criativo, permitiu a minoração da violência humana em um mundo que ainda arde.
O trabalho diplomático de negociação entre os Estados ao longo dos séculos permitiu – e continuará permitindo – a acomodação das estruturas de poder entre períodos de paz e de guerra, na medida em que os governos assimilam a premissa de que a paz de amanhã depende de boas medidas tomadas hoje para cooptar aliados, e de que não há Estado tão poderoso por si só que não necessite se aliar para resistir às forças de outras potências inimigas ou invejosas de sua prosperidade (CALLIÈRES).
O ciclo entre a paz e a guerra – entre a racionalidade e a emoção – é precisamente o que mantém vivo e operante o trabalho diplomático. Se os tempos atuais acusam um alto nível de tensão no cenário geopolítico global, a diplomacia deve relegar a retórica herdada dos gregos e a força dissuasória pura e os preceitos de Direito Internacional herdados dos romanos para alcançar o equilíbrio entre a cooperação e a confrontação nas relações interestatais, à maneira da diplomacia estratégica dos bizantinos.
A diplomacia não perdeu espaço – e nunca perderá. Os novos desafios, ao invés de constituírem uma ameaça de sua anulação, reforçam a necessidade de sua modernização e adequação à ordem internacional em transformação (WESTMANN, p. 56).
Referências
ALSINA JR., João Paulo Soares. Rio-Branco, grande estratégia e o poder naval. Rio de Janeiro: FGV, 2015.
ÁLVARES, Obino Lacerda. Estudos de estratégia. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército e Editora de Brasília S.A., 1973.
ARON, Raymond. Paz e guerra entre as nações. São Paulo: WMF Martins Fontes/ Universidade de Brasília, 2018.
ARONSON, Elliot. O animal social. São Paulo: Goya, 2024.
BATH, Sérgio F. Guarischi. O que é diplomacia. São Paulo: Brasiliense, 1989.
CALLIÈRES, François de. Negociar: a mais útil das artes. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2018.
CAMARGO, Leda Lúcia (org.). Os diplomatas e suas histórias. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2021.
FONSECA JR., Gelson. A legitimidade e outras questões internacionais: poder e ética entre as nações. São Paulo: Paz e Terra, 1998.
FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer. Criciúma: Convivivm Editorial, 2023.
FREUD, Sigmund. Psicologia das massas e análise do eu. Criciúma: Convivivm Editorial, 2023.
KENNAN, George. American diplomacy. Chicago: The University of Chicago Press, 2012.
KISSINGER, Henry. Diplomacy. New York: Simon & Schuster Paperbacks, 1995.
LUTTWAK, E. N. The grand strategy of the Byzantine Empire. London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009.
MENEZES, Delano Teixeira. O militar e o diplomata. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1997.
NICOLSON, Harold. Diplomacy. London: Oxford University Press, 1942.
SILVA, Carlos Teixeira da e LEÃO, Karl Schurster Sousa (orgs.). Por que a guerra? Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.
WESTMANN, Gustavo (org.). Novos olhares sobre a política externa brasileira. São Paulo: Contexto, 2017.
Conheça os Cursos de Política Externa da Revista.
Advogado formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestre em estudos estratégicos da defesa e da segurança (INEST/UFF), atuante na advocacia internacional, autor de artigos e palestrante na área de relações internacionais.