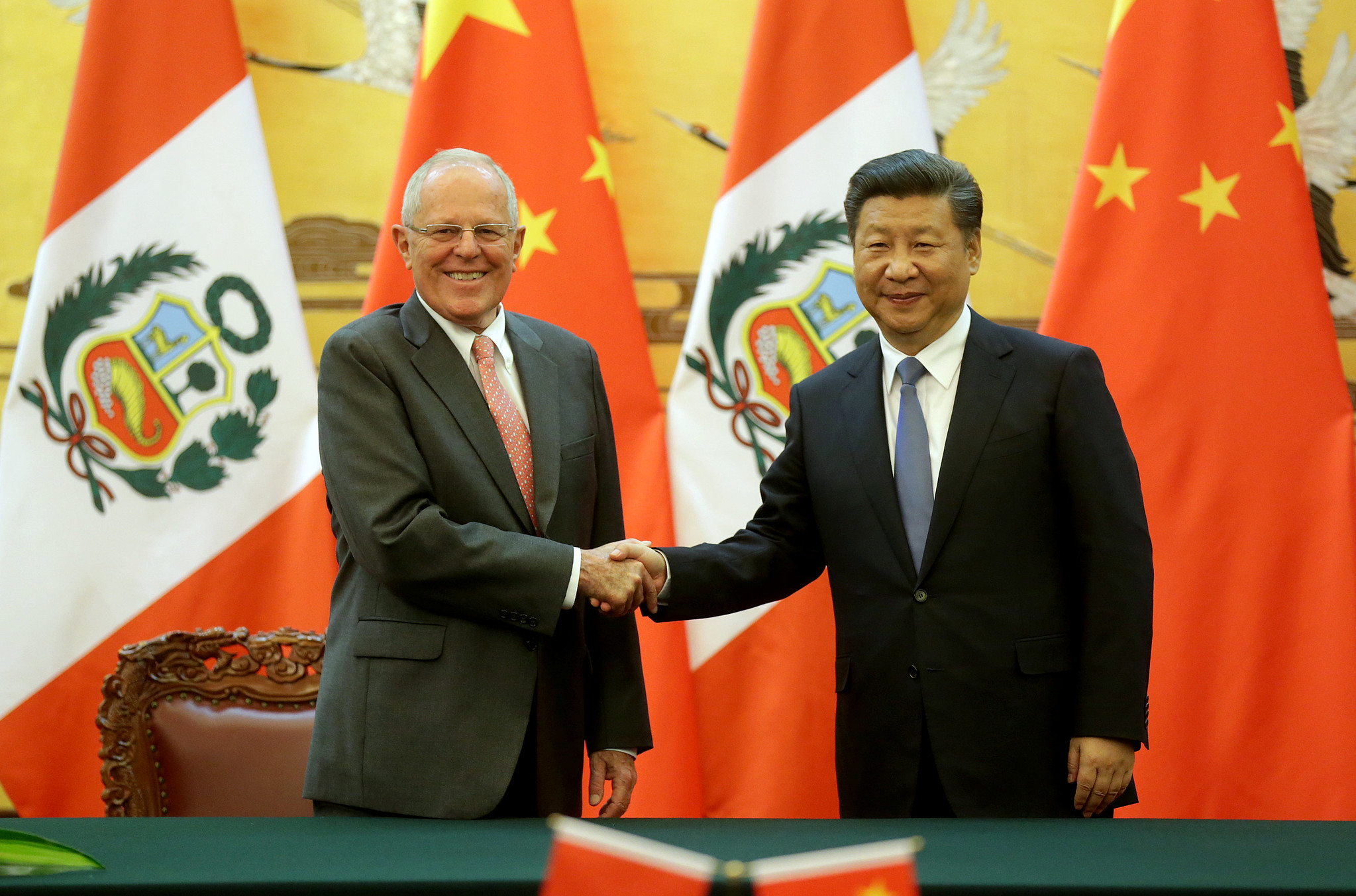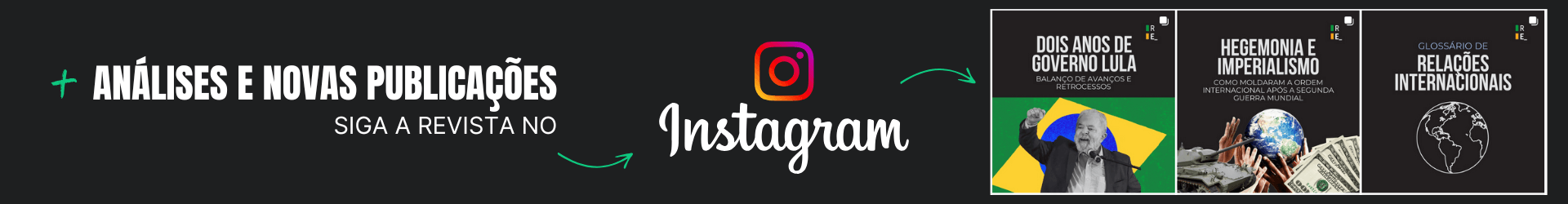A narrativa escreve a si mesma: um rapaz que, para libertar-se da pobreza, deixa sua família e se junta ao exército. Um homem que, para libertar(nos) da opressão, deixa seu posto e se junta à resistência. Carlos Lamarca, assim como Carlos Marighella, Dilma Rousseff e outros ícones da luta armada durante a Ditadura Militar, é retratado como um mito, seja como herói, seja como traidor. No contexto histórico de crise e reformulação da identidade brasileira, a criação destas narrativas era essencial para a identificação com o povo. Mas será que isto se reflete na realidade histórica e política da redemocratização brasileira? No aniversário da entrada de Lamarca na resistência, portanto, exploramos seu impacto nas iconografias e nos movimentos emancipatórios do período, a fim de definir o que sua história nos permite aprender hoje.
Lamarca: uma narrativa biográfica
Um dos retratos mais célebres desta figura histórica, Lamarca, o Capitão da Guerrilha (MIRANDA e JOSÉ, 1980), retrata a vida do filho de um sapateiro e uma dona de casa, nascido em 1937 no Rio de Janeiro, que se destacou na infância pela persistência acadêmica que eventualmente possibilitou sua ascensão social. Ainda assim, demonstrava traços de rebeldia desde cedo: se casa ainda na Academia, arriscando expulsão; lia desde então obras de Tolstoi (o que seria a porta de entrada para seu interesse em Sartre e Rosa de Luxemburgo mais tarde); e foi um dos cadetes interessados nos panfletos de propaganda contrabandeados pelo Partido Comunista do Brasil (PCB) em 1957. Como militar, inicia a carreira em Osasco em 1960 e, quando servia na Polícia do Exército de Porto Alegre em 1964, é em um de seus plantões que o capitão da Aeronáutica Alfredo Daudt, um preso político, consegue fugir (MIRANDA e JOSÉ, 1980; FILHO, 1999; NOGUEIRA, 2008).
Consegue transferir-se de volta para Osasco, onde se reencontra com Darcy Rodrigues e seu novo “clube de amigos” destinado à discussão de política dentro do quartel – e que, como escrevem Miranda e José (1980), desde já estava interessado no foquismo de Che Guevara. É dito que Lamarca, em particular, defendia que apenas a ação armada de guerrilhas poderia catalisar as lutas populares que levariam à revolução. Na mesma época em que se tornou capitão, aos 29 anos de idade, começou a entrar em contato com a resistência organizada e dispor-se a desertar.
O plano era para 26 de janeiro de 1968: os companheiros de Lamarca desertariam com a posse de centenas de fuzis e munição, que utilizavam para bombardear o Palácio dos Bandeirantes, a Academia de Polícia e o Quartel General do II Exército e, assim, criar uma guerra civil. Nada muito grandioso. Na realidade, porém, uma série de coincidências infelizes fez com que as preparações fossem descobertas, obrigando a antecipação do ato. Lamarca, Darcy e dois outros membros do grupo entram imediatamente para a clandestinidade, com apenas 63 fuzis e três metralhadoras. Termina o capítulo militar de sua vida (FILHO, 1999).
Sua vida de combatente, a partir de então, é marcada por três eventos de ação armada. O primeiro ocorreu em maio de 1969, em um assalto simultâneo aos bancos Mercantil de São Paulo e Itaú. O segundo, que o próprio comandou, foi um assalto à amante do ex-governador de São Paulo Adhemar Barros e, segundo boatos, responsável por guardar o dinheiro. Apesar de ter sido associado a diversos sequestros e lutas armadas, a terceira e última ação em que Lamarca participa ocorre em 1970, no sequestro do embaixador suíço Giovanni Bucher. O sequestro, que de acordo com Miranda e José (1980) ocorreu com extrema cordialidade, tinha como objetivo negociar a libertação de 70 presos políticos, a divulgação de um manifesto e a distribuição de passagens gratuitas de trem no subúrbio do Rio de Janeiro. Apenas a primeira exigência foi considerada pelo governo, mas ainda assim o sequestro é considerado um sucesso e o reconhecimento de Lamarca aumenta (FILHO, 1999).
É o começo do fim: a partir deste momento, ele se aproxima de outra organização, o MR-8, e desliga-se da VPR. Frente a tantas prisões e mortes, o movimento começa a desmoronar. Após a morte da segunda esposa de Lamarca, Iara Iavelberg, a prisão ou morte de mais de seus aliados, como Zequinha e Cezar Benjamim, e o período o passado como fugitivo na caatinga. a posição de Lamarca é comprometida e inicia-se uma perseguição, que resulta em sua morte (MIRANDA e JOSÉ, 1980; FILHO, 1999; NOGUEIRA, 2008).
Esta é a narrativa, adaptada no filme “Lamarca” (dir. Sérgio Resende), de 1994. Ocorre, no entanto, que o fato de que ele rapidamente se tornou um mito político torna seu perfil biográfico uma tarefa difícil. Em meio a todos os relatórios, comissões, filmes e livros, a figura de Carlos Lamarca é demonizada, santificada e profundamente contraditória (ROLLEMBERG, 2008; NOGUEIRA, 2008). Há fatos indiscutíveis: os locais de formação e serviço militar, seu envolvimento na resistência, seus casamentos, e, sem dúvida, sua canonização do imaginário nacional (FILHO, 1999). Ela serve um propósito. Para entendê-lo melhor, nós voltamos rapidamente para a contextualização histórica do período em que Lamarca viveu.
Pra frente, Brasil: política e sociedade durante o regime militar
O que ficou conhecido como golpe civil-militar, no qual as Forças Armadas, em conjunto com setores tradicionais da sociedade brasileira – a exemplo da elite civil conservadora e do Alto Clero da Igreja Católica – participaram da Marcha da Família com Deus pela Liberdade com o expresso objetivo que impedir que o Brasil se tornasse socialista. De fato, o golpe militar brasileiro se encaixa no contexto maior da Guerra Fria e das intervenções estadunidenses na América Latina, e por isso compartilha elementos chave com os regimes que se instauraram na Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.
Ainda assim, há alguns fatores que distinguem o regime brasileiro de seus vizinhos. A participação popular na marcha, aliada à manutenção do bipartidarismo, eleições locais e sem a centralização do poder nas mãos de um só ditador, permitiu a formação de um aspecto essencial do regime: a fachada democrática, distinta do sangue e violência associados às demais ditaduras. O corporativismo é amplamente estudado no âmbito das ditaduras; e assim, com o máximo de automação e normativismo possível, além das mudanças impostas nos Atos Institucionais (AIs) que mantiveram a transição e as ações do governo nos limites legais, a ditadura brasileira de fato não favorece as características de populismo ou fascismo tradicionalmente vistas (GONÇALVES, 2011).
Esta fachada democrática foi um aspecto essencial do controle durante o regime: o bipartidarismo fornecia uma válvula de escape ao descontentamento e a repressão ocorreu contra movimentos ilegais, como as guerrilhas (GONÇALVES, 2011). Com crimes contra a humanidade legitimados pelos AIs, a propaganda ocupou-se em transformar opositores em criminosos aos olhos do público e abrir espaço para as vitórias do período, como a Copa do Mundo de 1970, enquanto a população se concentrava em aproveitar o crescimento econômico. Como resultado disto, os dados sobre a repressão da ditadura militar são escassos. Basta recordar que as mortes e desaparecimentos atribuídas oficialmente ao regime, 434 pela Comissão Nacional da Verdade, nem de longe se comparam às mais de 40000 vítimas reconhecidas no Chile, dentre as quais 3065 óbitos e desaparecimentos, ou os números na Argentina, estimados entre 9000 e 30000.
Se, por um lado, a imagem “branda” da ditadura tem efeitos diretos na política brasileira até hoje, por outro, a repressão, tortura e violência do período também é amplamente discutida e retratada. Isto porque desde o começo, já haviam falhas visíveis na pintura que apresentavam os militares, e estas eram exploradas pela esquerda politizada que se articula dentro do contexto maior da Guerra Fria. No entanto, com a atividade criminalizada, estes dissidentes precisavam de outras formas de alcançar a população geral. De imediato, isto justifica o uso do foquismo por parte de guerrilheiros como Lamarca (ROLLEMBERG, 2008) . No contexto de guerra ideológica, ainda, outro fator acabou por ter um maior alcance: a narrativa.
O que é isso, companheiro? a luta armada e os ícones da resistência
A Guerra Fria não foi o início da repressão aos movimentos comunistas e socialistas no Brasil: houveram conflitos durante o Levante Comunista de 1935 e no Estado Novo, enquanto o Partido Comunista do Brasil (PCB) foi cassado em 1947. Com a queda de João Goulart, escreve Rollemberg (2008), já era mesmo fraca a esperança, por parte destes movimentos, de que o país seria transformado a partir das regras institucionais. Dentro desta perspectiva, não adiantava se adequar às regras do jogo, já que elas mudaram no meio da partida, e o golpe militar se dá por meio parlamentar.
Para alguns guerrilheiros, a questão estava clara: o caminho pacífico não era capaz de levar ao socialismo e, na realidade, havia aberto o caminho da ditadura. Não é à toa que são tantos os grupos revolucionários da época: a Vanguarda Popular Revolucionária, a Ação Libertadora Nacional (ALN), a Resistência Democrática (REDE), o Movimento Revolucionário Tiradentes, etc. (FILHO, 1999). Para Marighella, por exemplo, a guerrilha chamava atenção precisamente porque permitia independência do partido, que ele entendia estar excessivamente burocratizado e hierarquizado, excluindo o povo do processo de tomada de decisão (ROLLEMBERG, 2008).
O sucesso das guerrilhas em alcançar a população brasileira, no entanto, pode ser questionado: a sociedade em geral da época não se reconheceu na luta armada, seja por conta de seus meios violentos, seja pelos sus fins de instaurar o socialismo, seja por causa da propaganda e há, ainda, quem argumente que o próprio movimento perdeu-se na excessiva militarização (ROLLEMBERG, 2008). Ainda assim, os nomes foram imortalizados para o alcance das gerações futuras, transformando estes guerrilheiros em filmes, livros e presidentes. Eis o poder da narrativa, seja construída pelos biógrafos, pelos próprios militares, ou pelos Geraldos Vandrés, Henfils e outras dezenas de artistas que sucederam em imortalizar as injustiças do período. Foi assim, afinal, que Lamarca se tornou o “capitão guerrilheiro”, por vezes até equiparado a Che Guevara, que é ao mesmo tempo um underdog, homem que venceu a pobreza e se tornou um libertador; um guerreiro solitário, representante do isolamento da luta armada e da caatinga; um simples trabalhador indignado (ROLLEMBERG, 2008); ou um admirável intelectual (MIRANDA e JOSÉ, 1980).
Há, no entanto, um risco em transformar a luta em um mito e as pessoas em ícones. Sempre um personagem com o qual as audiências podem se identificar, Lamarca é imortalizado ao mesmo tempo em que se torna uma versão sintetizada da figura histórica (FILHO, 1999; ROLLEMBERG, 2008; NOGUEIRA, 2008). De forma similar, retirar o papel das guerrilhas e dos movimentos de resistência de seu contexto histórico só permite ver um lado do processo incrivelmente complexo que foi a redemocratização. Ideias e mobilização social tiveram um papel importante na reta final do regime, com os movimentos Diretas Já e a atuação de artistas, intelectuais e militantes em sua disseminação. Passado o “milagre econômico”, a população já via as sementes da crise e começava a demonstrar insatisfação (LIMA, 2012). Mas o que trouxe a transformação política, afinal, não foi a revolução ‘de baixo para cima’ que os guerrilheiros foquistas queriam. Outro ator fez questão de ter a palavra final.
O Mão de Veludo: o papel das elites e poder sobre a transformação social
Outro aspecto que difere o regime militar brasileiro do restante da América Latina é a transição democrática, que ocorreu de forma “lenta, gradual e segura” e foi iniciada pelos próprios militares no processo de abertura do governo de Geisel. Isto é, de certa forma, uma característica nacional: basta lembrar das principais transformações sócio-políticas da nossa história, desde a independência e a proclamação da república aos direitos laborais conquistados no Estado Novo. Quem esteve por trás destas transformações? Se Estados Unidos, Argentina e México tiveram guerras para a independência, e se a França teve uma revolução para a república, as mudanças políticas no Brasil, como argumenta Thiago Torres em seu ensaio “Lutas Políticas na América Latina”, foram regidas pelas elites no poder.
No caso da ditadura, a transição ‘de cima para baixo’ ocorreu quando a presença militar no Estado importou uma série de conflitos internos, dentre os quais a divisão entre os nacionalistas e a Linha Dura, que revezavam a presidência. A transformação não foi concebida originalmente “como uma volta dos militares aos quartéis, mas como a expulsão da política de dentro deles” (MARTINS, 1979-1980, apud. CODATO, 2005, p. 84), para retornar à hierarquia tradicional (CODATO, 2005).
Que não haja erro: esta necessidade surgiu precisamente porque os militares se viram encurralados pela pressão popular (LIMA, 2012). A manutenção do controle sobre a situação, no entanto – o mesmo que permitiu que a culpabilidade sobre mortes e desaparecimentos do período seja mínima – é sintomática de uma estrutura histórica muito mais antiga. Tendo em vista a automação e normativismo da ditadura, isto dialoga com a noção mecanizada e “desindividualizada” de poder que Foucault (1979) apresenta em Crime e Castigo, no qual elabora, ainda, que ele é intrinsecamente relacionado à construção do discurso.
Em Foucault, o discurso é a produção de conhecimento, e este por sua vez é uma parte integral do poder (SLATER, 2006). Ao extrapolar esta noção para as narrativas, verifica-se precisamente por que a criação de ícones e mitos históricos são tão importantes para a identidade nacional. Dom Pedro I, Deodoro da Fonseca, Getúlio Vargas, assim, se tornam faces da transformação social elevados a heróis, embora suas decisões tenham sido tomadas como forma de controlar animosidades antes que estas se tornassem verdadeiramente revolucionárias.
Ainda assim, a noção foucaultiana de poder denota, em si mesmo, o estado de dominação e a habilidade de resistir a esta. Nos termos deste texto, isto se relaciona à transformação ‘de cima para baixo’ e ‘de baixo para cima’, pelo que uma é conduzida pelas elites, neste caso militares, e a outra é conquistada pela população. O povo, aqui, ganha ele mesmo o poder emancipatório, através de movimentos sociais e demais formas de expressão (SLATER, 2006).
Durante a ditadura, o discurso era controlado e a resistência era criminosa, e assim o regime era capaz de manter o poder. Carlos Lamarca se destaca aqui precisamente por se encontrar na contramão deste processo, pelo que abdica o poder que já tinha e junta -se à luta revolucionária com intenção, inclusive, de influenciar a população a fazer o mesmo. Se o sucesso prático de seus métodos é questionável, é por isso que sua narrativa é tão atraente – qualquer um pode resistir.
O bêbado e a equilibrista: o legado de Carlos Lamarca
Carlos Lamarca foi um lutador. Um rebelde. Um tópico de atenção na história da ditadura militar não por ter pessoal e singularmente virado a direção do conflito, mas pelo que representou como desertor do Exército. Ainda assim, é preciso tomar cuidado para que o mito histórico não apague os fatos e, a partir disto, as lições históricas que se deve tirar com Lamarca e com o contexto de transformação social durante a ditadura: os guerrilheiros dificilmente alcançarão seu objetivo de envolver a população no processo emancipatório e, enquanto houver pressão popular as rédeas do processo foram inteiramente controladas pela elite militar.
O Brasil é uma democracia jovem, mas suas tradições e estruturas políticas são antigas – e estas não foram construídas pelo e para o povo, mas como forma de exercer controle sobre ele. A profundidade destas estruturas de poder na formação social brasileira faz com que influenciar toda uma população a resistir seja uma tarefa particularmente difícil. Enquanto não se alcança o potencial revolucionário, no entanto, as resistências dificilmente serão verdadeiramente emancipatórias.
Mas que este artigo não termine de uma forma pessimista: Lamarca como ícone da resistência, assim como as demais narrativas e obras de arte criadas, durante e após da ditadura, é um aspecto essencial da conscientização popular. Se as guerrilhas não despontaram em revolução, as personagens da resistência permanecem símbolos da esperança pela transformação – esperança esta que, como sabem os fãs da canção imortalizada na voz de Elis Regina, é uma equilibrista que “sabe que o show de todo artista tem que continuar”. Não obstante a fachada democrática ou o controle militar sobre o fim da ditadura, é graças a figuras como ele demais narrativas populares que essas perspectivas, previamente censuradas, se tornam uma parte essencial da memória brasileira. É um passo lento, mas que leva na direção certa.
Referências Bibliográficas
CODATO, A. Uma história política da transição brasileira: da ditadura militar à democracia. Revista Sociologia Política, n. 25, p. 83-106, 2005.
FILHO, Z. R. A. Lamarca: Mito e História (Monografia). Titulação em História – Departamento de História da Universidade Federal De Uberlândia, 1999.
FOUCAULT, M. Discipline and Punish. Harmondsworth: Peregrine Books. 1979.
GONÇAVES, L. L. O lugar das eleições na transição para a democracia no brasil (Dissertação). Mestrado em Política Comparada – Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 2011.
MIRANDA, O e JOSÉ, E. Lamarca, o Capitão da Guerrilha. Global Editora, 1980.
NOGUEIRA, J. G. Carlos Lamarca no imaginário político brasileiro: o papel da Imprensa na construção da imagem do “Capitão Guerrilheiro”. Revista Ágora, [S. l.], n. 7, 2008.
ROLLEMBERG, D. Carlos Marighela e Carlos Lamarca: memórias de dois revolucionários. Acervo, Rio de Janeiro, v. 21, no 2, p. 105-122, 2008
SLATER, D. Geopolitics and the Post-colonial: rethinking north–south relations. Oxford: Blackwell Publishing, 2006.
WANDERLEY, E. K. C. A institucionalização da repressão judicial na ditadura civil-militar brasileira. São Carlos, 2009.
Mestranda em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa. Pesquisa nas áreas de Desenvolvimento, Negociações Internacionais, Teorias Queer e Pós-colonialistas, Mídia e Cultura.