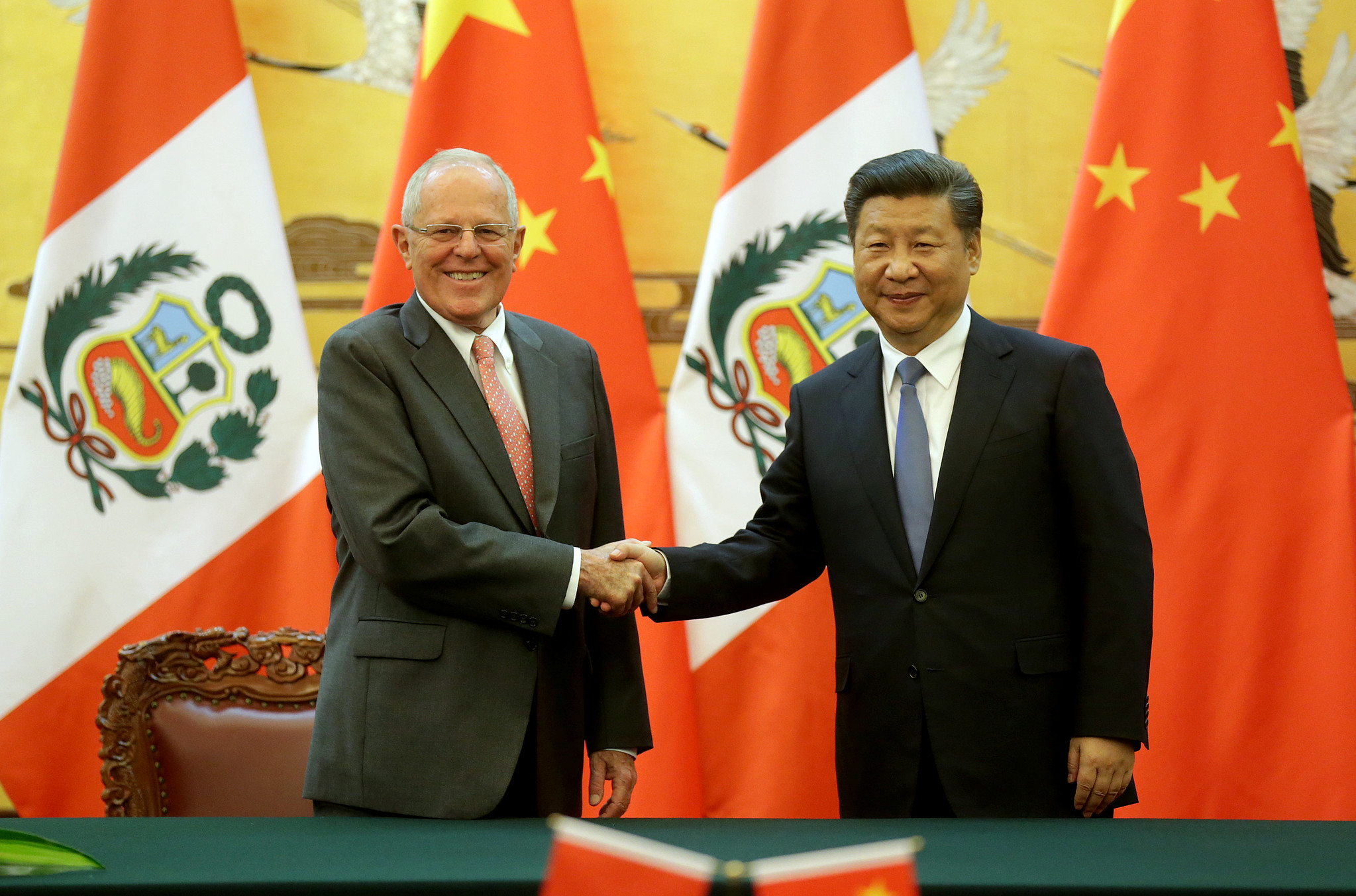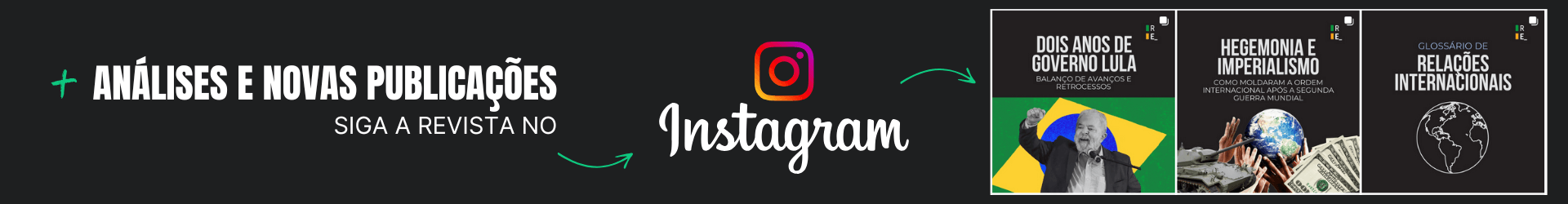Nada no Tratado de Roma previa fazer da União Europeia (UE) um grande ator em high politics. Entretanto, atualmente, a UE poderia, em teoria, intervir praticamente em qualquer área do mundo e em quase qualquer aspecto de política externa. Tendo um grande arsenal de instrumentos e atividades que ela pode mobilizar para alcançar seus objetivos no mundo extrabloco, a União possui tecnicamente capacidades normativas de caráter militar e diplomático; os quais muitos Estados nacionais de menor desenvolvimento relativo ainda não têm (SMITH, 2002).
Bruxelas é, portanto, dotada de conselhos políticos que fazem a ponte entre a União e seus Estados-membros, como os representantes nacionais para assuntos de relações exteriores (RELEX) e militares (REPMIL). Além de comitês político-administrativos de cunho cívico-militar que regem internamente as ações comunitárias, como: o Grupo Político-Militar (GPM), o Comitê Político e de Segurança (COPS) e o Comitê Militar da União Europeia (CMUE) e o Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE). Tudo isso somado às estruturas decisórias militares comunitárias construídas à imagem e semelhança de Estados nacionais; como é o caso do Estado-Maior da União Europeia (EMUE); e às estruturas físicas de capacidade militar; como a Agência Europeia de Defesa (AED), Centro de Análise de Crises (SitCen) e até forças armadas de reação rápida, as quais se formam batalhões multinacionais em diversos EU battlegroups.
Poderíamos passar largo tempo estudando cada órgão ou agência de política externa da União Europeia e sua construção histórica. Porém, essa análise descritiva não nos ajudaria a entender a questão atual que desejamos responder: poderia a União Europeia ser autônoma em matéria de segurança e defesa dos Estados Unidos, seu principal parceiro e mantenedor de sua proteção desde o fim da Segunda Guerra? E quais os perigos de sê-lo? Toda essa composição organizacional que foi supracitada é importante para entendermos a seguinte passagem que descreve o que iremos explicitar ao longo deste trabalho, a partir da tese do professor francês Zaki Laïdi (2008) de que: “a União Europeia é a norma sem a força”.
Em sua tese, Laïdi afirma que a narrativa europeia foi construída em torno da normatização de suas possíveis ações em vez da força. O autor afirma que o poder normativo da UE é bastante relevante, mas que limita muito de sua autonomia. Como mostrado, a UE possui toda uma normatização interna que lhe dotou de ferramentas de ação externa, mas que não conseguem ser usadas pelos obstáculos que se tornarão nossos objetivos de análise.
Os obstáculos da Europa em se assentar como ator independente dos EUA nas relações internacionais em matéria de segurança e defesa são devidos a alguns elementos específicos. O primeiro obstáculo é o fator intrabloco, que reforça a dependência europeia dos Estados Unidos e que confirma a tese de Laïdi. O segundo deles, e tema principal da discussão deste trabalho, é como esse primeiro fator mina a autonomia da Europa em matéria de segurança e defesa frente aos Estados Unidos
POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM UNIÃO EUROPEIA
Por muito tempo, a Europa esteve inteiramente sob o guarda-chuva de proteção americano e sob a preeminência da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). A OTAN funcionava como um elo de segurança e defesa dos Estados Unidos tanto na prevenção de atritos de aspiração hegemônica entre as potências da Europa Ocidental, quanto na contenção soviética; o que dava à Europa a possibilidade de ser um free rider na Aliança Atlântica, pois Washington a sustentaria a todo custo, sendo a principal ferramenta de dissuasão dos Estados Unidos durante a Guerra Fria (DOVER, 2010; MEARSHEIMER, 2014). Dessa forma, a Europa poderia concentrar toda sua atenção em sua integração e evitar novos conflitos internos ao não precisar se preocupar com sua própria segurança e defesa intra e extrabloco.
Entretanto, o cenário global vem mudando e os Estados Unidos não se encontram mais inclinados a sustentar a segurança e defesa europeia. Isso devido à mudança da perspectiva de ameaças que Washington passou a ter a partir do colapso da União Soviética e que foi intensificada depois os ataques de 11 de setembro. Assim, a Europa não seria mais o centro estratégico da política externa de segurança e defesa dos Estados Unidos. Os europeus perceberam que precisariam aceitar o fato que muitos de seus interesses extrabloco só poderiam ser satisfeitos por processos que transcendessem as fronteiras nacionais de seus Estados-membros (SCHMITTER, 2010).
Mas, porque essa aceitação aconteceu internamente tão tardiamente? Londres, Paris e Berlim; o “centro nevrálgico” da UE; mantiveram grande diálogo nesse tema na Cúpula de Saint-Malo, em 1998, devido à nova conjuntura europeia integrada pós-Maastricht. Existia na Europa do fim do século XX um novo cenário no qual, de um lado, havia um Reino Unido que não abriria mão da libra esterlina frente ao euro e não via outra forma de se aproximar do continente que através da integração política. Por outro lado, havia uma Alemanha que trocaria o seu forte marco por uma moeda comunitária. Para equilibrar o jogo, uma vez que a potência financeira continental abria mão de sua moeda, deveria a potência militar continental francesa abrir mão de parte de sua soberania militar ao aceitar que, finalmente, uma Política Externa e de Segurança Comum (PESC) fosse desenvolvida e incluindo nela o Reino Unido, a maior força militar de toda a Europa (STARK, 2012).
A declaração conjunta final da Cúpula de Saint-Malo deixava claro esse novo espírito europeu em direção aquisição pela União “de uma capacidade para ação autônoma, embasada por forças militares credíveis. Os meios para que se pudesse as usar de maneira pronta a responder às crises internacionais”. A declaração conjunta também enfatizava que “a União deve dar as estruturas apropriadas e a capacidade para análise de situações, fontes de inteligência a capacidade para planejamento estratégico, sem desnecessária duplicação [da OTAN]” (CHAILLOT PAPER, 2000, p. 8, tradução própria).
As conversas nesse sentido avançaram rapidamente e a parceria franco-britânica de Saint-Malo, com o apoio da presidência alemã do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 1999, impulsionaram algumas inovações. O foco, agora, seria mais nas capacidades militares da União do que na mudança institucional. Os europeus foram desafiados a redesenhar sua estrutura militar para receber instruções comunitárias de ação de manutenção de paz que não dependessem dos Estados Unidos para equipamentos essenciais e reforço técnico (DOVER, 2010). Assim, até 2009, além de todos os órgãos citados na introdução já estarem criados, a UE já possuía um Alto Representante para Negócios Estrangeiros e de Segurança e era dotada de uma Política de Segurança e Defesa Comum (PSDC), que complementa a PESC.
Porém, numa organização de 28 Estados que são zelosos de sua soberania em política externa é difícil de envolver-se em uma realpolitik ou machtpolitik no mundo extrabloco. A necessidade de a União ser responsável por ter que se assegurar o apoio de 28 conjuntos de opinião pública e 28 governos e parlamentos e 28 conjuntos de mídia nacional, impede qualquer atividade política externa que não seja sustentada por um nível muito amplo de consenso comunitário (KROTZ, 2009; SMITH, 2002). E isso leva ao ponto mais delicado da tese da norma sem a força: a capacidade militar europeia.
O jornal britânico The Economist (2011) cunharia um termo bem propício à Europa nos dias de hoje em uma manchete intitulada: “Always waiting for the US cavalry”. Quando a Europa parecia enfim superar sua dependência dos Estados Unidos, em uma nova era de ativismo global em suas intervenções na Líbia e, posteriormente, no Mali, foi demarcado com mais força ainda os limites da Europa. A UE precisou pedir aos EUA que lhe suprisse armamento e transporte. Posteriormente, ela não conseguiu atuar em seu próprio continente, na crise da Ucrânia, por exemplo; nem politicamente, muito menos militarmente ou humanitariamente. Sanções econômicas foram passadas contra Moscou, mas nada realmente vexante à ação russa, devido à forte dependência energética que a Europa, sobretudo a Alemanha, ainda tem da Rússia; conforme já explorado no artigo A diplomacia dos dutos e a região do Cáspio como fonte alternativa de energia à UE.
Os britânicos estão programando encolher seu exército para 82 mil soldados ativos, o seu menor contingente desde as Guerras Napoleônicas. Em 1990, Londres tinha 27 submarinos (excluindo aqueles que apenas carregam mísseis balísticos) e a Paris tinha 17. Os dois países têm agora sete e seis, respectivamente. Ainda assim, o Reino Unido e a França são comumente considerados como os dois únicos países europeus que ainda levam a sério a segurança e defesa (RACHMAN, 2013).
Mas, mesmo após a atual rodada de cortes, o Reino Unido ainda terá o quarto maior orçamento para o exército do mundo. O Reino Unido com a França são, no momento, um dos quatro únicos Estados europeus a atingir a meta da OTAN de dedicar 2% do PIB para a defesa. Os outros são a Grécia e a Albânia (RACHMAN, 2013), países pouco influentes no cenário da PESC-PSDC, o primeiro por seu tamanho e condição fiscal e o segundo por sequer fazer parte da UE.
A situação na maioria dos outros países europeus é muito pior. A Espanha agora dedica menos de 1% do seu PIB aos gastos militares. Além disso, muito dos gastos militares europeus são despesas em pensões ou salários e não em equipamento e logística. Este é o caso da Bélgica. Mesmo tendo os belgas se destacando na Líbia em 2011, cerca de 70% de seus gastos militares vão para despesas com pessoal (RACHMAN, 2013). A Alemanha, a grande potência econômica do continente, apesar de possuir um enorme parque industrial bélico, reduz às suas ações externas a medidas diplomáticas hard power ao seu poder de persuasão econômico e financeiro. Além de manter, sob os governos de Schröder e Merkel, uma política em relação à Rússia que destoa do restante do bloco.
No final, os Estados Unidos se deparam com uma situação em que eles sozinhos, hoje, representam aproximadamente 75% do orçamento de defesa da OTAN, o que inclui a defesa da Europa. (RACHMAN, 2013). Assim, de pouco adianta ter um intrincado conjunto normativo e organizacional se Bruxelas não consegue avançar em sua PESC-PSDC e não consegue fazer os europeus verem a necessidade de se adequarem a uma realidade de século XXI na qual a União poderia fazer mais, passando de uma situação de consumidora de segurança internacional para produtora de segurança internacional (SCHMITTER, 2010).
A AUTONOMIA DOS ESTADOS UNIDOS
Contudo, o que fazer com os Estados Unidos, país que não aceitam uma construção regional da qual eles não pudessem participar ou controlar, e que não acatam uma integração que engendre um dilema de segurança com Washington (SCHMITTER, 2010); mas, que hoje, não querem cobrir sozinhos os gastos com a proteção da UE? No início da PESC os EUA não viam com tão bons olhos a política europeia. Washington queria que o pilar europeu de segurança se contivesse dentro do escopo da OTAN (WALTZ, 2000). Tanto é que no discurso de Saint-Malo os europeus relembravam que sua política era a de não duplicar a OTAN. Robert Kagan (2001) coloca que na divisão internacional do trabalho, do período pré-2001, cabia aos Estados Unidos “fazer o jantar” e à Europa “lavar a louça”. Franck Petiteville (2006) colocava de forma mais profunda ainda: “the US fights, the UN feeds, the EU funds”. Ou seja, até 2001, um papel militar à Europa não era nem requerido nem aceitável pelos Estados Unidos. A UE deveria continuar a ser o grande ator civil que já era.
Mas, quando ocorreram os ataques de 11 de setembro essa balança mudou. Os europeus se lançaram em uma atitude solidária em relação aos Estados Unidos e, pela primeira vez na história, o Artigo 5º do Tratado de Washington foi usado efetivamente no Conselho Atlântico. Porém, dado que os Estados Unidos já haviam planejado de forma autônoma a invasão do Afeganistão, sem o uso inicial da OTAN, a única missão que essa poderia assumir, naquele momento, era o de substituir as tropas americanas nos Bálcãs para que as forças americanas pudessem ser usadas na campanha afegã (PÉREZ, 2003).
Todavia, em setembro de 2003, as tropas da OTAN teriam que assumir, por influência americana, outro front, o ISAF (International Security Allied Forces), na campanha americana no Afeganistão, porque os Estados Unidos iniciavam outra frente de batalha no Iraque, em maio de 2003, e precisavam de mais efetivo disponível. Assim, a Europa seria dragada e cooptada a agir em uma partilha de encargos com os Estados Unidos, uma vez que os Bálcãs não poderiam ser abandonados no meio de um conflito civil e de uma crise humanitária. Dessa forma, em 31 de março de 2003 a União Europeia não teve alternativa senão gestar sua primeira operação militar para repor a retirada de tropas da OTAN da península: a Operação Concordia, na Macedônia. Como se vê, os Estados Unidos passaram de ver com desconfiança a PESC para usá-la como complemento de sua própria política e, a partir daí, continuaram a chamar pela Europa em outras ocasiões.
Dessa forma, a UE passou, a partir de 2003, a ter uma espécie de “papel a cumprir” com os EUA. Assim, como deixa explícito o secretário de defesa de Barack Obama, Robert Gates, a divisão de trabalho “US fights, UN feeds, EU funds” não mais existe. Não existe mais a divisão de Kagan na qual os Estados Unidos fazem o jantar e a Europa lava a louça. A Europa não só deve pagar como também deve ter capacidade de lutar. Muito embora, na maioria das vezes, não consiga fazer nenhum dos dois:
I’ve worried openly about NATO turning into a two -tiered alliance: Between members who specialize in “soft’ humanitarian, development, peacekeeping, and talking tasks, and those conducting the “hard” combat missions. Between those willing and able to pay the price and bear the burdens of alliance commitments, and those who enjoy the benefits of NATO membership – be they security guarantees or headquarters billets – but don’t want to share the risks and the costs (EUA, 2011).
Como Gates deixa bem explícito, a Europa sofre hoje mais de uma letargia política do que de uma restrição o por parte dos Estados Unidos para se tornar um ator autônomo. A Europa atualmente é, retomando a Operação Concordia, uma comunidade de nações que tem todas as bases lançadas institucionalmente para se tornar um ator autônomo, mas não o faz porque não desenvolve nem sua força física nem sua força política.
O perigo advém do fato da impaciência americana e do fato que os Estados Unidos não mais verem a Europa como essencial em sua política externa:
The blunt reality is that there will be dwindling appetite and patience in the U.S. Congress – and in the American body politic writ large – to expend increasingly precious funds on behalf of nations that are apparently unwilling to devote the necessary resources or make the necessary changes to be serious and capable partners in their own defense. Nations apparently willing and eager for American taxpayers to assume the growing security burden left by reductions in European defense budgets. Indeed, if current trends in the decline of European defense capabilities are not halted and reversed, Future U.S. political leaders– those for whom the Cold War was not the formative experience that it was for me – may not consider the return on America’s investment in NATO worth the cost (EUA, 2011, grifo nosso)
Os discursos de Gates reforçam a hipótese de que um dia, talvez em breve, os europeus possam acordar e não mais achar os o poderio de segurança e defesa dos Estados Unidos à sua disposição. O Pentágono não existe simplesmente para lidar com qualquer ameaça que bate às fronteiras da Europa, pois é fato é que os próprios Estados Unidos estão se preparando para uma nova era de austeridade militar.
Mesmo que os Estados Unidos evitem tais medidas drásticas, a tendência de longo prazo é claramente descendente. Os Estados Unidos também estão determinados a concentrar a maior parte de seu poderio militar na Ásia e no Pacífico. A Marinha americana atualmente dedica 50% dos recursos para a o Pacífico e 50% por cento para a Europa e o Oriente Médio. Mas, no futuro, o Pacifico terá 60% (RACHMAN, 2013).
Do ponto de vista do Pentágono e da Casa Branca, dar maior atenção à Ásia do que à Europa faz pleno sentido. Enquanto a defesa europeia despesa baixou em cerca de 20% na última década, os gastos de defesa chineses aumentaram quase 200%, colocando-a em segundo lugar nos orçamentos militares mundiais, ultrapassando os gastos de Estados europeus como França e Reino Unido (PERLO-FREEMAN et al., 2012). No ano passado, pela primeira vez em séculos, nações asiáticas gastaram mais na força militar do que os países europeus (RACHMAN, 2013).
O que se quer afirmar aqui é que a Europa vem perdendo em gastos militares relativos com a China. Além disso, uma vez que a Europa não se mostra comprometida com a própria defesa e sendo o continente não mais estratégico ao Pentágono, como era na Guerra Fria, os Estados Unidos voltam sua atenção à China, uma possível superpotência militar, de suma importância estratégica no século XXI para os americanos.
No entanto, não é preciso ir muito longe para além das fronteiras europeias para ver uma série de potenciais ameaças à Europa se juntando ao longo da próxima década. O Oriente Médio está em crise e milhares estão morrendo na Síria, ameaçando a estabilidade da totalidade da região. O Programa Nuclear do Irã poderia levar a um confronto, seja ele pacífico ou não, e ameaçar aprovisionamento energético da Europa. Os gastos militares russos estão aumentando, colocando-os em terceiro lugar no quadro de despesas militares globais (PERLO-FREEMAN et al., 2012), e crescentes tensões entre China e outras potências do Pacífico um dia poderiam ameaçar a liberdade de navegação da qual o comércio europeu depende (RACHMAN, 2013). Como já foi demonstrado na recente atuação territorialista de Pequim no Mar da China Meridional.
Entretanto, hoje, há pouca evidência que os Estados Unidos estarão lá para defender a Europa novamente ou, pior ainda, que a Europa sozinha poderá se defender. Os europeus continuam a serem dragados para o mundo hobbesiano extrabloco, mas parecem se recusar a se dar conta que precisam contribuir para sua própria segurança.
Apesar dos discursos de Gates, os americanos não irão abrir mão da OTAN. Eles continuarão a tê-la para não perder o controle total de sua ação da Europa, nem dar brecha a ameaças russas. Mas, Washington, hoje, em não conseguindo lidar sozinho com as ameaças do século XXI, não irá se opor a uma União Europeia que consiga atuar autonomamente dele. A Europa poderia conseguir sua autonomia de ação total, inclusive de decisão de iniciar uma ação sem o apoio dos Estados Unidos, se conseguisse se mostrar apta a isso. Mas não tem a força, apenas a organização e as ferramentas normativas. E a realidade corrente só demonstra o contrário. Haja à vista sua inabilidade para contornar a situação da Ucrânia.
REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS
DOVER, Robert. From CFSP to ESDP: the EU’s Foreign, Security, and Defence Policies. In: CINI, Michelle; BORRAGÁN, Nieves Pérez-Solórzano. European Union Politics. Oxford: Oxford University Press, 2010.
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Departamento de Defesa. The Security and Defense Agenda (Future of NATO). Bruxelas: Discurso do Secretário da Defesa Robert M. Gates, 10 jun. 2011. Disponível em: <http://www.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1581> Acesso em: 01 nov. 2013.
From Saint-Malo to Nice: European Defence Core Documents. Chaillot Papers. Compilado por Maartje Rutten, Paris, Instiute for Security Studies, Chaillot Paper, n. 47, maio 2001.
KAGAN, Robert. Power and Weakness. Policy Review, Stanford, June & July 2011, pp.3-28.
KROTZ, Ulrich. Momentum and Impediments: Why Europe Won’t Emerge as a Full Political Actor on the World Stage Soon. Journal of Common Market Studies, Londres, vol. 47, n. 3, 2009, pp. 555-578.
LAÏDI, Zaki. La norme sans la force: l’énigme de la puissance européenne. Paris: Presses de la Sciences Po, 2006.
LIBYA, EUROPE AND THE FUTURE OF NATO: Always Waiting for the US cavalry. The Economist, Brussels, edição eletrônica, 10 jun. 2011. Disponível em: <http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2011/06/libya-europe-and-future-nato>. Acesso em: 01 nov. 2013.
MEARSHEIMER, John. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W. W. Norton & Company, 2014.
PÉREZ, Rafael García. Política de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. Madrid: Insituto Universitario Gerenal Gutiérrez-Mellado, 2003.
PERLO-FREEMAN, Sam; SKÖNS, Elisabeth, SOLMIRANO, Carina; WILANDH, Helén. Trends in World Military Expanditure, 2012. SIPRI Fact Sheet, Stockholm International Peace Research Institute, Estocolmo, Abr. 2012, Disponível em < http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1304.pdf> Acesso em 08 nov. 2013.
PETITEVILLE, Franck. La politique internationale de l’Union européenne. Paris: Presses de la Sciences Po, 2006.
RACHMAN, Gideon. The Pivot: Test of Europe as a Security Actor? Paris: The German Marshall Fund of the United States, Transatlantic Security Task Forces Series, Policy Brief, maio 2013. Disponível em: http://www.gmfus.org/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1370532357TSTF_Rachman_PivotTest_May13.pdf Acesso em : 01 nov. 2013.
SCHMITTER, Philippe. A experiência da integração europeia e seu potencial para integração regional. São Paulo: Lua Nova, 80, 2010, pp. 9-44.
SMITH, Hazel. European Union Foreign Policy. Chippenham, Inglaterra: Pluto Press, 2002.
STARK, Hans. Politique extérieure de l’Union européenne. Notas de aula em Études européennes (M1). Institut d’Études européennes de la Sorbonne (Paris 3) em 10 de fevereiro de 2012.
WALTZ, Kenneth. Structural Realism after the Cold War. International Security, Boston, vol. 25, n. 1, Summer, 2000.
Possui graduação em Bacharelado em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina(2014) e mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília(2016). Atualmente é Membro de corpo editorial da Portal Relações Internacionais (Portal Eletrônico), Boslsista de Mestrado CNPq da Universidade de Brasília, Programme and Policy SSA da World Food Programme e do Centro Universitário de Brasília. Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em Política Internacional. Atuando principalmente nos seguintes temas:Integração Regional, UNASUL, Segurança Regional, Segurança Pública, Violência e Política Exterior.