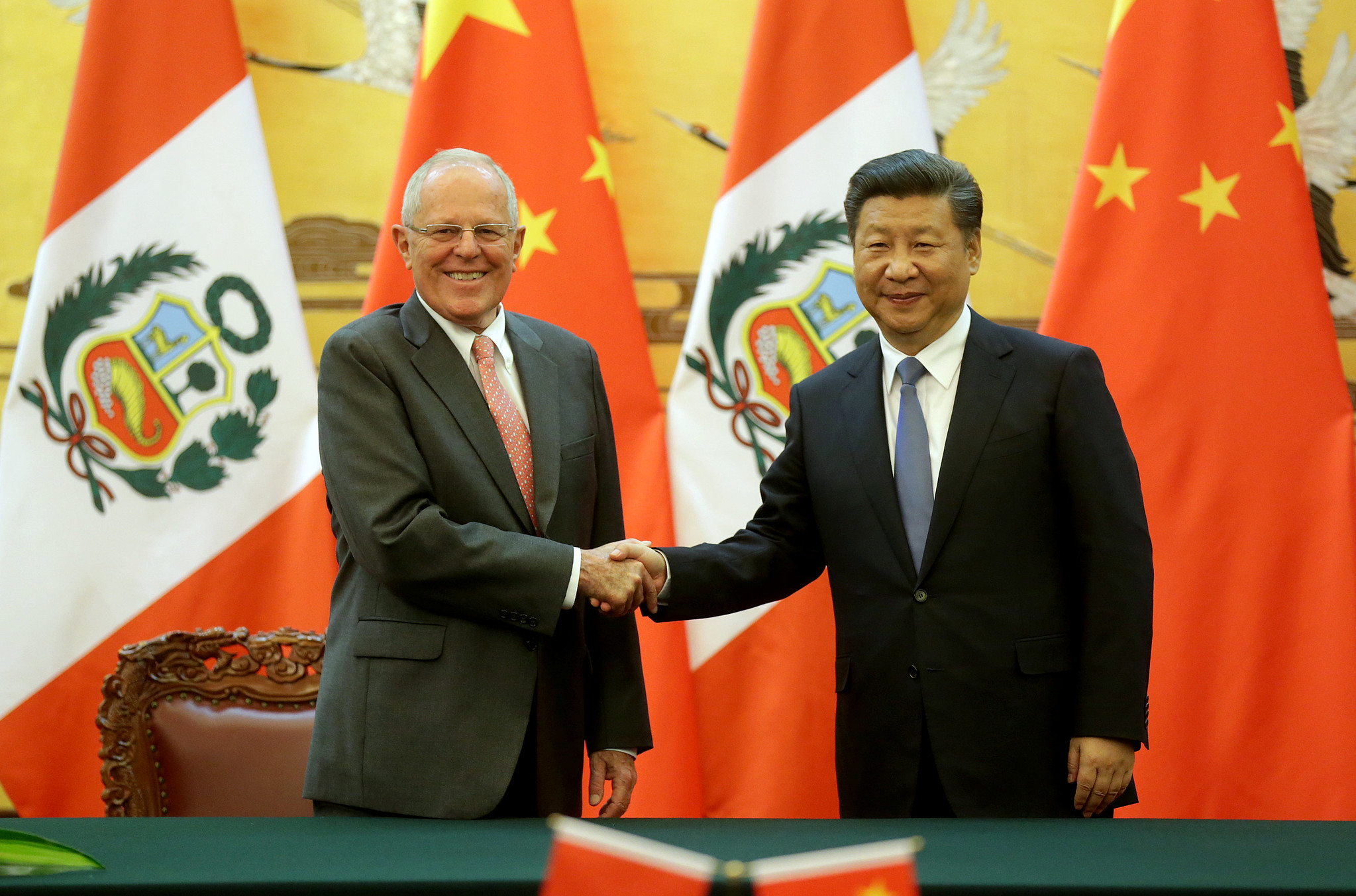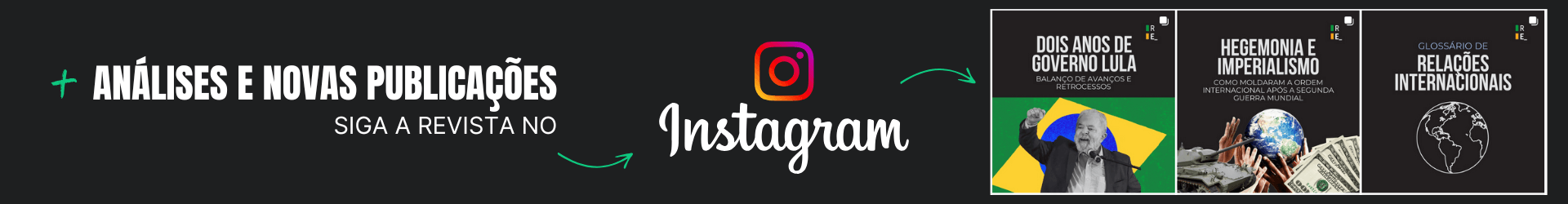No dia 8 de novembro de 2020, após uma longa semana de apuração e contagem dos votos americanos, o candidato Joseph Robinette Biden Jr, do partido Democrata, fora projetado como o grande vencedor da eleição mais acirrada da história americana. Após uma maratona eleitoral que parecia não ter fim, recontagens, alegações de fraude eleitoral, e até mesmo uma tentativa de autogolpe por meio da invasão do Capitólio no começo deste ano, o republicano Donald Trump faz a transição de poder para o vencedor, Joe Biden.
Todavia, esta nova transição de poder deixa questões pertinentes presentes no ar; o que podemos esperar da política americana nestes próximos quatro anos? Quais serão as estratégias utilizadas pelo democrata para reafirmar a liderança norte-americana nas relações exteriores após o legado Trump? A fim de tentar responder estas questões, fá-lo-ei neste artigo um pouco acerca das propostas apresentadas pelo novo governo Joe Biden, ao mesmo tempo em que faço paralelos destas com as teses de poder estabelecidas pelo teórico Joseph Nye, como hard power, soft power e smart power.
O poder e suas várias formas de usar
Não é de hoje que quando um novo governo vence uma disputa eleitoral e assume a liderança de uma nação, trazendo consigo uma nova premissa de gestão diferente das antecessoras, cria-se muita expectativa e ceticismo entre os analistas com relação à condução a ser adotada para as principais pautas de governo. Entre as principais pastas que merecem atenção em qualquer gestão, podemos facilmente destacar: economia, desenvolvimento, meio ambiente, segurança e, claro, a política externa.
A política externa é sempre um tema demasiado importante e delicado na agenda de qualquer Estado. Afinal, esta acaba por envolver diretamente os objetivos estratégicos, orientações, tratativas e diretivas que um governo nacional utilizará no curto e médio prazo, para mediar suas relações com os demais Estados-nação, organizações internacionais e atores não governamentais (Jackson & Sørensen, 2018, p. 350).
A elaboração e o gerenciamento de uma política externa transcorrem pelos altos funcionários em postos de liderança. Normalmente, esta tem como sua base estrutural uma linha de pensamento político-estratégico, podendo variar entre depender das adversidades encontradas no percorrer do caminho ou da postura do novo governo frente a tais temas e crises.
Todavia, todo pensamento político-estratégico reflete em si uma determinada leitura de mundo e se traduz por via de planos e ações de governo, estes podendo ser diretos ou indiretos, mas que carregam em si o escopo daquilo que é prioridade ao Estado a nível internacional.
Em outras palavras, a política externa corresponde à forma como determinado Estado-nação se apresenta para o mundo “lá fora” e assim tenta auferir seus interesses de maneira concreta e efetiva. A maneira como se busca atingir tais interesses torna-se a grande variável da questão, especialmente com uma nova transição de governo em vista e uma nova leitura a respeito do poder. Nesse sentido, convém primeiramente abordar nessa sessão, o que vem a ser a natureza do poder e bases com que esta opera.
Quando nos debruçamos sobre a literatura relativa aos estudos de Ciência Política e Relações Internacionais, encontramos diversas explicações acerca do que vem a ser o poder e o que este representa em si. Por exemplo, para o pensador realista clássico Hans Morgenthau, os seres humanos são por natureza animais, propensos desde o seu nascimento à competição, busca pelo poder e a luta pela sua própria sobrevivência – C. Darwin e T. Hobbes com certeza concordariam.
Logo, esta busca incessante pelos ganhos é o principal elemento característico da natureza humana relativo ao poder político, nas palavras do teórico,
“Na medida em que a essência e o objetivo da política é o poder sobre o homem, a política é má; pois é nesse grau que ela degrada o homem a um meio para outros homens. Conclui-se que o protótipo dessa corrupção pelo poder encontra-se no cenário político. Pois aqui o animus dominandi não é meramente mesclado com objetivos dominantes de um tipo diferente, mas é a própria essência da intenção, o próprio sangue vital da ação, o princípio constitutivo da política como uma esfera distinta da atividade humana. A política é uma luta pelo poder sobre os homens e, qualquer que seja seu objetivo final, o poder é seu objetivo imediato e os modos de adquiri-lo, mantê-lo e demonstrá-lo determinam a técnica da ação política (Morgenthau, 1947, p. 167 – tradução nossa)”.
Outro teórico das relações internacionais com uma visão bastante cética acerca da natureza do poder era o pensador norte-americano John Mearsheimer. Assim como seus antecessores, Mearsheimer endossava o discurso realista sobre o chamado balanço de poder. Segundo o teórico, a distribuição e a natureza do poder militar são as principais razões causais para a chamada “paz duradoura” que perdurou durante a segunda metade do século XX (Jackson & Sørensen, 2018, p. 127).
Logo, Mearsheimer considera que o comportamento dos Estados é modelado pela estrutura anárquica das relações internacionais. Todavia, ele difere de alguns de seus colegas, como Waltz, em que os Estados buscariam o poder apenas como elemento garantidor de sua segurança e sobrevivência estatal.
Nesse sentido, Mearsheimer dá um passo além e aponta para o poder como elemento motivador por parte das grandes potências em querer tornar-se hegemonias regionais. De acordo com o teórico realista (2001), “As grandes potências, afirmo, estão sempre em busca de oportunidades para ganhar poder sobre seus rivais, tendo a hegemonia como objetivo final (p. 29 – tradução nossa)”. Ou seja, para o pensador norte-americano, o intento de grandes potências, como Estados Unidos, Rússia e China, é expandir seu poder militar e influência política na região da qual pertencem geograficamente, e assim ter uma autogarantia de que nenhum outro Estado ameaçaria seu status quo.
Destarte, podemos assumir que a busca pelo poder é, de fato, algo inerente à natureza humana e à natureza política dos Estados, por consequência. Porém, este acaba sendo uma espécie de meio para um fim. Em outras palavras, o poder é nada mais do que uma medida para os Estados alcançarem um objetivo final de sua agenda internacional.
Tais objetivos podem variar dependendo dos interesses e prioridades estabelecidas a priori pela gestão doméstica do país, mas, para todos os fins almejados, o poder é sempre o meio utilizado para tal intento. Conforme nos elucida o acadêmico Joseph Nye (2009), “O poder é a capacidade de afetar o comportamento dos outros para conseguir o que deseja (p. 01 – tradução nossa)”. Mas, se o poder é um meio para se chegar a um determinado fim ou satisfação de um objetivo, teria este uma forma correta de se usar? Ou melhor, teria este apenas uma maneira válida de ser aplicado? Dado ao fato que nações possuem leituras de mundo diferentes e enfrentam dilemas políticos, econômicos e sociais diferentes uns com os outros?
O professor Joseph Nye (2009) nos responde acertadamente esta indagação. Segundo este,
“Existem três maneiras básicas de fazer isso: coerção, pagamento e atração. Hard power é o uso de coerção e pagamento. O poder brando é a capacidade de obter os resultados preferidos por meio da atração. Se um estado pode definir a agenda para outros ou moldar suas preferências, ele pode economizar muito em incentivos e castigos. Mas, raramente pode substituir totalmente qualquer um. Daí a necessidade de estratégias inteligentes que combinem as ferramentas do hard e soft power (p. 01 – tradução nossa)”.
Em uma síntese geral, o poder pode ser classificado em três vias gerais de entendimento: hard power, soft power e smart power.
Hard power refere-se ao uso do poder militar ou da coerção por um determinado Estado para com outro. Ou seja, quando um determinado Estado realiza algo que supostamente ameace a segurança ou a soberania estatal de outro, este pode responder com o uso de força militar adequada, sanções político-econômicas, bloqueio marítimo, embargo, suborno ou ameaças políticas.
Ao olharmos para a história mundial, encontrar-se-ão inúmeras crises e situações adversas plausíveis de se encaixar no descritivo hard power, como por exemplo: Em abril de 1982, o ditador da Argentina, Leopoldo Galtieri, lançou uma forte invasão militar ao arquipélago das Ilhas Falklands, um território formalmente britânico desde 1883. Ao considerar tal evento como uma ameaça a sua soberania nacional, a então primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, enviou uma força-tarefa inglesa para a região, a fim de contornar a tentativa de invasão por parte dos líderes argentinos e assim recuperar seu território (Navarro, 2011). A Guerra das Ilhas Falklands ilustra perfeitamente esse exemplo do uso de hard power em situações de crise, afinal, um Estado considerou que parte de sua soberania estava sendo ameaçada, por razões políticas de outro ator, e assim optou por utilizar a intimidação e a resposta militar a fim de sanar a problemática vigente de forma idônea.
No entanto, não é somente de forças-tarefas e intimidação militar que os países dispõem para alcançarem seus objetivos estratégicos, estes muitas vezes também podem ser atingidos por outra via, a diplomática e a cultural. O soft power, conforme estabelecido por Nye (2009), propõem que os atores internacionais possam adquirir melhores resultados por via do diálogo e de elementos que promovam a atração.
Ou seja, ao invés de utilizar a intimidação militar ou até mesmo restrições político-econômicas contra seus adversários, pode ser mais proveitoso o uso de ferramentas como: diplomacia, negociação, valores, cultura, e ideias que melhor consolidam o relacionamento entre os atores envolvidos no curto e médio prazo.
Assim como no primeiro caso, algumas situações de soft power podem ser facilmente encontradas na história recente, por exemplo: Em 1990, a Coreia do Sul apostou todas as suas fichas em uma nova estratégia de expansão cultural e diplomática, a Hallyu Wave. O objetivo era aumentar os incentivos e investimentos no setor cultural coreano, promovendo uma espécie de “onda” dos valores e da cultura nacional no estrangeiro. Com o intuito de vender uma imagem mais simpática do país para o restante do mundo, hoje a Coreia do Sul é o sexto país do mundo que mais investe em cultura, tendo na música e no cinema alguns de seus principais expoentes – Bong Joon-ho e o BTS que o digam.
Desta forma, chegamos ao último conceito sobre o uso do poder estabelecido por Joseph Nye, e que acaba por fazer uma junção dos dois conceitos anteriormente salientados, o smart power. Segundo Nye (2011),
“Ter poucos recursos de poder significa uma probabilidade menor de obter os resultados preferidos, mas muito poder (em termos de recursos) pode ser uma maldição, ao invés de um benefício, se levar ao excesso de confiança e estratégias inadequadas de conversão de poder. (…) Uma narrativa inteligente de poder para o século XXI não trata de maximizar o poder ou preservar a hegemonia. Trata-se de encontrar maneiras de combinar recursos em estratégias de sucesso no novo contexto de difusão de poder e a ‘ascensão do resto’ (p. 207-208 – tradução nossa)”.
Em síntese, Joseph Nye nos adverte para a ideia de que uma potência com demasiado poder militar e de coerção pode acabar por cometer erros estratégicos graves dado seu excesso de confiança em suas peças pré-dispostas no tabuleiro. No entanto, o autor norte-americano também alerta que somente o soft power por si só “não é a solução para todos os problemas (Nye, 2011, p. 13 – tradução nossa)”, sendo necessário, por vezes, uma reserva distinta de recursos e defesa a fim de assegurar seus interesses, segurança, soberania e liderança.
Neste sentido, o smart power se apresenta quase como um “caminho do meio” para as novas lideranças emergentes em pleno século XXI, em que a boa combinação de recursos tanto de um prisma como do outro, mostra-se primordial para assegurar boas relações com os demais Estados e agentes internacionais.
Segundo Joseph Nye (2009), a forma como as lideranças políticas descobrem e determinam a combinação dos recursos necessários de hard e soft power em uma estratégia de smart power, depende daquilo que o teórico chamou de inteligência contextual. Nas palavras dele,
“Inteligência contextual é uma habilidade de diagnóstico intuitivo que ajuda um líder a alinhar táticas com objetivos para criar estratégias inteligentes em várias situações (…) implica tanto uma capacidade de discernir tendências em face da complexidade e adaptabilidade ao tentar moldar eventos (. ..) requer o uso do fluxo de eventos para implementar uma estratégia. Ele permite que os líderes ajustem seu estilo à situação e às necessidades de seus seguidores. Ele permite que eles criem fluxos de informação que educam suas intuições. Envolve a ampla habilidade política de não apenas avaliar a política de grupo, mas de compreender as posições e os pontos fortes de várias partes interessadas, a fim de decidir quando e como usar as habilidades transacionais e de inspiração (Nye, 2008, p. 87-88 – tradução nossa)”.
Ao analisarmos a história recente, podemos encontrar alguns exemplos interessantes do uso do smart power, como por exemplo: Em seu último ano na Casa Branca, o presidente norte-americano Barack Obama e sua equipe conseguiram firmar um importante acordo nuclear com o Irã. O acordo, chamado de P5+1, assinado pelos Estados Unidos, Irã, Reino Unido, França, China, Rússia e Alemanha – previa medidas que limitavam numerosos tipos de atividade nuclear no país, como o enriquecimento de urânio, em troca da suspensão de sanções econômicas estabelecidas anteriormente pelos Estados Unidos (BBC News Brasil, 2015).
O acordo nuclear com o Irã pode ser visto dentro de um modelo de smart power, pois ele é fruto de um longo processo de negociação, diálogo e prática diplomática conjunta entre diversos Estados, em prol de um mesmo objetivo comum (soft power). Entretanto, o acordo também estabelecia que caso o Irã não cumprisse com as exigências propostas, não fosse transparente com as informações fornecidas, ou tentasse violar o acordo de alguma maneira, as sanções políticas e econômicas tornariam rapidamente a ser aplicadas (hard power).
Logo, temos aqui uma tentativa de “equilíbrio” das pautas postas à mesa de discussão, com uma ênfase maior por parte do ex-governo americano na aposta de soft power (dado o contexto vigente de possível ameaça nuclear), todavia sempre deixando posta a possibilidade de retaliação com um eventual retorno das sanções, caso o Irã não cumprisse sua parte no trato.
Assim sendo, dentre as três formas fundamentais de uso do poder no âmbito internacional, Nye chama nossa atenção para a escolha do soft e do smart power, como ferramentas elementares, dada a complexidade das relações globais em pleno século XXI e demais aspectos transnacionais. Neste sentido, tendo concluído este breve enquadramento teórico, vem a grande questão; qual será a posição do novo governo Joe Biden frente aos desafios internacionais que se projetam sobre os Estados Unidos neste momento; e qual seria a estratégia que ele adotará durante sua gestão referente ao uso do poder?
O que esperar da nova gestão Biden?
A chegada do novo presidente norte-americano, Joe Biden, cria algumas expectativas, assim como dúvidas acerca de como será a presença americana no cenário internacional nos próximos anos. Sendo um forte crítico do ex-presidente, Donald Trump, e das decisões que este tomou durante sua gestão, Biden já deu alguns sinais de quais serão seus primeiros passos relativos à agenda internacional do país.
Inicialmente, devido a todo o contexto de ameaça transnacional que o seu país ainda está a enfrentar por causa do novo coronavírus, é provável que Biden foque o primeiro ano de sua gestão em casa. Tendo à sua frente a missão de unir um país profundamente polarizado politicamente e que se mostrou fragmentado em aspectos-chave, Biden desprenderá sua atenção em assuntos-chave para o aprimoramento e crescimento da sociedade americana. Nas palavras do atual presidente,
“Em primeiro lugar, devemos restaurar e revigorar nossa própria democracia, ao mesmo tempo que fortalecemos a coalizão de democracias que estão conosco em todo o mundo. A capacidade dos Estados Unidos de ser uma força para o progresso no mundo e mobilizar a ação coletiva começa em casa. É por isso que vou refazer nosso sistema educacional (…) reformar o sistema de justiça criminal (…) restaurar a Lei do Direito ao Voto para garantir que todos possam ser ouvidos, e devolver transparência e responsabilidade ao nosso governo (…) Como nação, temos que provar ao mundo que os Estados Unidos estão preparados para liderar novamente – não apenas com o exemplo de nosso poder, mas também com o poder de nosso exemplo. Para tanto, como presidente, darei passos decisivos para renovar nossos valores fundamentais (Biden, 2020 – tradução nossa)”.
Logo neste argumento inicial, percebe-se que Biden demonstra uma forte inclinação às chamadas “velhas pautas”, outrora tão defendidas pelos democratas. Temas como saúde pública, educação, racismo, direitos humanos e mudanças climáticas, mostram-se demasiado pertinentes em sua agenda. De um lado, essa abordagem pode ser lida como uma certa alusão a antiga gestão Obama-Biden, por outro, também pode ser lida como uma abordagem de soft power no médio prazo.
“Meu governo equipará os americanos para terem sucesso na economia global – com uma política externa para a classe média. Para vencer a competição pelo futuro contra a China ou qualquer outra pessoa, os Estados Unidos devem afiar sua vantagem inovadora e unir o poder econômico das democracias ao redor do mundo para combater práticas econômicas abusivas e reduzir a desigualdade (Biden, 2020 – tradução nossa)”.
Assim como seu antecessor, Biden reconhece o quão forte e influente a China tornou-se no âmbito global. Todavia, ao contrário do isolacionismo político do ex-presidente republicano, que buscava na China uma espécie de bode expiatório para sustentar sua narrativa política de divisão e isolamento, Biden demonstra uma estratégia mais pragmática, visando a qualificação da sua mão de obra nacional a fim de competir no mercado internacional. Desta feita, ao fazer isso conseguir-se-ia restaurar a posição de liderança americana na economia no médio prazo, ao mesmo tempo em que incentiva uma restauração da indústria americana.
Outra atitude bastante provável do novo governante referente ao antigo império do meio, será um possível retorno ao acordo Transpacífico de Cooperação Econômica (TPP). O acordo de comércio multilateral assinado por doze países fora uma das memórias da antiga administração Obama; reunindo cerca de 40% da economia mundial e um mercado de 800 milhões de consumidores (BBC News Brasil, 2017).
Porém, para além de simbolizar um modelo de integração econômica, o tratado possuía um importante fator geopolítico, uma vez que a China está ausente do tratado e este unificava a legislação relativa às barreiras econômicas, acesso à internet, proteção de investidores, propriedade intelectual e a proteção ao meio ambiente. Logo, um possível retorno ao TPP poderia sinalizar uma tentativa de maior coalizão dos EUA com antigos aliados, a fim de restabelecer a influência americana na região. De acordo com Zelleke (2021),
“O objetivo mais crítico a ser alcançado por meio da coalizão é equilibrar – com uma margem de segurança – o poder chinês, de forma sustentável ao longo do tempo. Existem muitas outras questões importantes e relevantes para a coalizão, mas elas são mais restritas e menos consequentes do que obter e manter um equilíbrio de poder favorável (The Diplomat, 2021 – tradução nossa)”.
Outros velhos acordos que podem acabar sendo resgatados logo no início do primeiro ano de Biden na Casa Branca são: o Acordo Nuclear com o Irã e o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Relativo ao acordo nuclear com o Irã, Biden já sinalizou que pretende retornar à mesa de negociações com as autoridades iranianas, a fim de renegociar os termos do acordo estabelecido em 2015. O ex-presidente Trump, que era um crítico ferrenho do acordo, havia retirado os EUA do acordo nuclear. Sob uma diretriz de “política de pressão máxima”, o republicano voltou a aplicar sanções econômicas ao país, deixando os iranianos à beira do colapso econômico e social.
Um possível retorno de lideranças iranianas e norte-americanas à mesa de negociação evidenciaria uma tentativa de aproximação por parte de ambos os Estados por meio da prática diplomática. O mesmo pode ser dito em caso de um retorno ao Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas – ambos já retomados pelo presidente Biden, logo após sua posse na semana passada. Biden provavelmente irá regressar ao acordo de 2016 numa tentativa de reafirmar o compromisso americano para com as mudanças climáticas; todavia é provável que este também se esforce ao mostrar uma postura também intransigente dos Estados Unidos para com países que não cumprem com o exigido, um destes países pode inclusive ser o Brasil.
Durante o primeiro debate eleitoral americano, Biden inclusive chegou a citar o Brasil por conta da crise das queimadas na Amazônia. O então candidato democrata chegou a declarar que se eleito fosse, começaria a reunir o hemisfério e o mundo no intuito de prover 20 bilhões de dólares ao Brasil, para conter o desmatamento na Amazônia – quase como uma espécie de FMI Ambiental. No entanto, ele também alegou que, caso o governo brasileiro não se comprometesse com a proposta, poderia sofrer consequências econômicas significativas (BBC News Brasil, 2020).
Tal posição pode ser interpretada neste sentido como uma forma de smart power, pois ao tentar mais governos e lideranças internacionais a conceder um incentivo fiscal ao Brasil para combater o desmatamento e as queimadas, este também salienta que em caso de violação ou não cumprimento dos termos estabelecidos a priori, estes estão passíveis de receberem sanções ou até mesmo demais represálias econômicas.
Em ambos os casos citados a priori, Biden precisará daquilo que Nye (2008) definiu como sendo a inteligência contextual. Em outras palavras, será necessário que este demonstre boa capacidade de análise crítica e julgamento para mediar as negociações e restabelecer antigos vínculos outrora firmados. Todavia, este também precisa fazê-lo de forma própria e autoral, moldando seu próprio estilo às situações, de forma que este não acabe ficando refém da antiga sombra da gestão Obama.
Considerações finais
Desta maneira, podemos esperar uma abordagem demasiada singular no uso de soft power e smart power. Embora saibamos que os presidenciáveis do partido Democrata carregam consigo um histórico político bastante intervencionista na sua política externa – basta lembrarmos de presidentes como Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Lyndon B. Johnson, Bill Clinton e até mesmo Barack Obama – Biden parece ir um pouco na contramão desse sentido.
No entanto, não estou afirmando que durante sua gestão este não pode, de repente, adotar uma postura intervencionista em algum momento do mandato. No entanto, tendo em vista as digressões internas que o 46° presidente terá de enfrentar e até mesmo o seu discurso em prol da unificação nacional, sugere-se que este adotará uma postura mais tendente à velha prática diplomática e a elementos de atração.
Obviamente que Biden sabe, como qualquer bom democrata, que a democracia uma vez ameaçada precisa mostrar que sabe como se defender. Logo, é improvável que ele descarte totalmente medidas de coerção e sanções econômicas; mas é provável que este não as torne o “cartão de visita” do seu governo. Optando pelo equilíbrio, cooperação e mútuo entendimento, ao contrário de pôr fogo no ideal e nos valores da democracia liberal. Neste sentido, basta apenas aguardarmos no futuro os próximos movimentos que este complicado tabuleiro da política mundial nos reserva.
Referências bibliográficas
Jackson, R. & Sørensen, G. (2018). Introdução às Relações Internacionais. 03, Zahar, Rio de Janeiro.
Morgenthau, H.J. (1965). Scientific Man versus Power Politics. Phoenix Books, Chicago.
Mearsheimer, J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. W.W. Norton, New York.
Nye, J. S. (2008). The Power to Lead. Oxford University Press, New York.
Nye, J. S. (2009). Get Smart: Combining Hard and Soft Power. Foreign Affairs, Council on Foreign Relations.
Nye, J. S. (2011). The Future of Power. Public Affairs, New York.
Mestre em Relações Internacionais pela Universidade da Beira Interior em Portugal; Licenciado em Letras - Português e Inglês pela Faculdade São Bernardo do Campo.