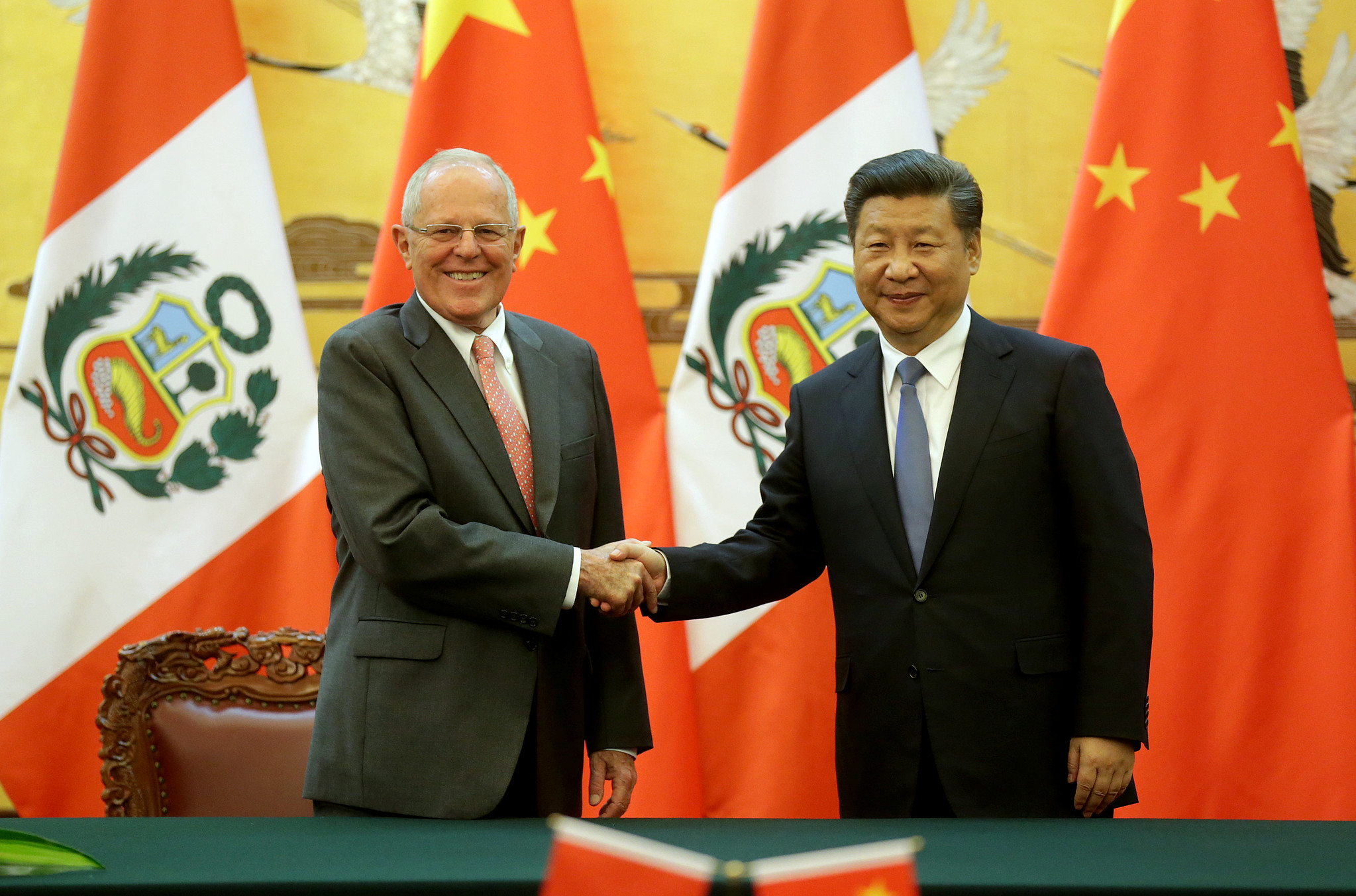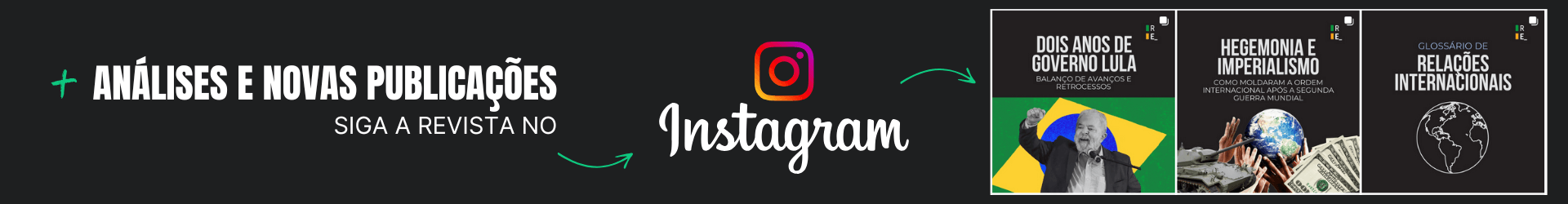O uso de sanções como instrumento de política externa tem se expandido significativamente no século XXI, incorporando novas modalidades de pressão estatal além das medidas econômicas tradicionais. Em julho de 2025, o governo dos Estados Unidos, sob a liderança do presidente Donald Trump e por meio de seu Secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou a imposição de restrições de visto a membros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, incluindo o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares. A medida foi justificada com base no parágrafo 212(a)(3)(C) da Immigration and Nationality Act, que permite ao Departamento de Estado barrar o ingresso de estrangeiros cujas ações sejam consideradas prejudiciais à política externa norte-americana.
Embora o ato tenha sido enquadrado como uma resposta à suposta violação da liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos por parte de autoridades brasileiras, sua natureza, motivação e repercussão levantam questionamentos fundamentais para o campo das Relações Internacionais. A iniciativa revelou-se menos como uma defesa de princípios universais e mais como uma retaliação de cunho político-ideológico — em um movimento que aproxima as restrições de visto de um tipo de sanção simbólica e unilateral, aplicada fora do escopo multilateral e sem respaldo de instituições internacionais legitimadas.
Essa prática reacende o debate sobre os limites e os fundamentos das sanções internacionais em uma ordem internacional fragmentada. Enquanto a teoria da Escola Inglesa reconhece as sanções como um dos instrumentos centrais da sociedade internacional — especialmente quando aplicadas de forma coletiva e institucionalizada —, cresce a tendência de instrumentalização das sanções por grandes potências, que transformam mecanismos de enforcement normativo em ferramentas de imposição de interesse nacional, descoladas de padrões jurídicos universais.
Este artigo propõe uma análise crítica e conceitualmente fundamentada sobre a utilização de sanções não econômicas — particularmente, as restrições de visto — como instrumento de política externa. A partir do caso das sanções dos EUA contra membros do Judiciário brasileiro, busca-se:
- Examinar a natureza jurídica e política dessas medidas à luz das teorias sobre sanções internacionais;
- Identificar seus objetivos declarados (sinalização, dissuasão, coerção) e seus efeitos simbólicos e práticos;
- Avaliar se tais medidas se aproximam do modelo de sanções normativas (legítimas, coletivas e institucionalizadas) ou do modelo de sanções políticas (unilaterais, seletivas e ideológicas).
A investigação está estruturada com base em uma revisão teórica das sanções como instituição primária da sociedade internacional (Wilson & Yao, 2018), na literatura empírica sobre eficácia e falhas das sanções econômicas (Lumen, 2018), e nos impactos diplomáticos e institucionais de medidas coercitivas unilaterais (Saaida & Amro, 2023). Em diálogo com esses referenciais, o artigo contribui para a compreensão das sanções não tradicionais como um campo emergente de disputa normativa e poder no sistema internacional contemporâneo.
Sanções Internacionais como Instituição da Sociedade Internacional
O conceito de sanções internacionais tradicionalmente evoca medidas coercitivas adotadas por Estados ou organizações internacionais com o objetivo de punir comportamentos considerados violadores das normas fundamentais da ordem internacional. No entanto, ao longo das últimas décadas, esse instrumento passou por um processo de institucionalização e complexificação normativa que ultrapassa sua função meramente instrumental. A partir da perspectiva da English School, especialmente na formulação de Peter Wilson e Joanne Yao (2018), as sanções devem ser entendidas como uma instituição primária da sociedade internacional, ainda que sua classificação definitiva como tal permaneça objeto de debate teórico.
Segundo Wilson e Yao (2018), o desenvolvimento das sanções como prática coletiva organizada configura um processo de institucionalização comparável a outras instituições primárias, como a soberania, a diplomacia e o equilíbrio de poder. A prática sancionatória, nesse sentido, não se limita à busca de resultados concretos em termos de mudança de comportamento estatal, mas também expressa normas compartilhadas e valores constitutivos da sociedade internacional. Ou seja, trata-se de um instrumento que visa não apenas à dissuasão ou coerção, mas à reafirmação de normas internacionais fundamentais, com forte conteúdo simbólico e normativo.
A teoria distingue ainda entre instituições primárias — aquelas que constituem as bases normativas e ontológicas da sociedade internacional — e instituições secundárias, como as organizações internacionais, que operam de forma derivada e organizacional. As sanções, embora muitas vezes operacionalizadas por instituições secundárias como a ONU ou a União Europeia, adquirem valor institucional primário quando representam a defesa de normas universais, como a proibição da agressão, o respeito aos direitos humanos ou a não-proliferação nuclear (Buzan, 2004).
Contudo, esse reconhecimento das sanções como instituição depende de dois critérios fundamentais: coletividade e legitimidade normativa. Para que uma medida coercitiva seja considerada sanção internacional no sentido pleno, é necessário que:
- Ela seja decidida e imposta por um coletivo significativo de Estados, preferencialmente no âmbito de uma organização com autoridade reconhecida (como o Conselho de Segurança da ONU);
- Tenha como objetivo a defesa de uma norma internacional compartilhada, e não apenas a promoção de interesses nacionais de curto prazo.
Quando essas condições não são atendidas, a ação se aproxima mais de um instrumento unilateral de política externa do que de uma sanção internacional propriamente dita.
É nesse ponto que a crítica contemporânea ganha força: o uso crescente de sanções unilaterais — especialmente por grandes potências como os Estados Unidos — levanta questionamentos sobre a erosão do caráter normativo das sanções. Em vez de refletirem uma comunidade de valores e uma solidariedade internacional, tais medidas passam a expressar a vontade de um ator dominante, em um movimento que desloca as sanções do paradigma da autoridade para o paradigma do poder (Bull, 1966; Clark, 1980).
No caso recente das restrições de visto impostas a membros do Supremo Tribunal Federal brasileiro, essa distinção torna-se particularmente relevante. A medida foi unilateral, justificada por uma norma doméstica norte-americana e sem respaldo institucional internacional. Ainda que embasada na Immigration and Nationality Act, a ação foi apresentada como resposta à suposta violação da liberdade de expressão, mas direcionada a agentes públicos de um país democrático, o que distorce a própria lógica moral das sanções internacionais.
Além disso, como destacam Wilson e Yao (2018), o uso legítimo de sanções demanda uma inteligibilidade comum acerca da norma violada. Quando tal norma é invocada seletivamente ou de forma ideologicamente enviesada, o próprio princípio de universalidade é comprometido. Em vez de reforçar o direito internacional, as sanções se tornam expressão da fragmentação normativa e da instrumentalização política das instituições.
Portanto, a análise conceitual aqui proposta permite compreender por que as restrições de visto aplicadas unilateralmente por um Estado, sem coordenação multilateral ou consenso normativo, não constituem sanções internacionais no sentido pleno, mas sim ações unilaterais de coerção diplomática com pretensão simbólica e estratégica.
Entre Disciplinamento, Sinalização e Retaliação Política
A aplicação de sanções na política internacional pode ser motivada por distintas finalidades, que não necessariamente estão orientadas à obtenção de resultados práticos imediatos. Conforme destacado por Lumen (2018), as sanções podem servir a múltiplos objetivos, entre os quais se destacam: dissuasão (deterrence), coerção (compliance), desestabilização (subversion), sinalização (signaling) e expressão simbólica (symbolic tool). Embora essas categorias não sejam mutuamente excludentes, sua identificação analítica é essencial para compreender o papel que as sanções exercem na construção (ou erosão) da ordem internacional.
1. Dissuasão e coerção
Sanções são frequentemente justificadas como mecanismos preventivos contra a repetição de comportamentos considerados inaceitáveis à luz das normas internacionais. No entanto, como observa Lumen (2018), a dissuasão raramente é eficaz quando não há ameaça real de escalada ou de consequências mais amplas. No caso das restrições de visto impostas por Washington a ministros do Supremo Tribunal Federal, não há evidência de que a medida tenha como meta alterar uma conduta futura. Ao contrário, a medida possui forte caráter retroativo e punitivo, voltado a um episódio específico — as decisões judiciais relacionadas à liberdade de expressão e à contenção de desinformação no Brasil.
Ainda que o governo norte-americano invoque a defesa da “liberdade de expressão” como justificativa, não há evidências de que o objetivo seja coagir a reversão de decisões judiciais ou interferir diretamente em futuras ações do Judiciário brasileiro. A ausência de canais diplomáticos formais e de diálogo institucional reforça a tese de que a coerção, aqui, funciona mais como retórica do que como estratégia deliberada de modificação de comportamento estatal.
2. Subversão e desestabilização institucional
Outro possível objetivo da aplicação de sanções é o de enfraquecer a legitimidade ou a estabilidade política de determinado regime ou ator estatal, seja por meio da deslegitimação externa, seja pelo estímulo a forças opositoras internas. No caso brasileiro, ao direcionar a medida contra o Supremo Tribunal Federal — e não contra o governo executivo — os Estados Unidos operam uma forma atípica de pressão institucional, que coloca em questão a autonomia do Judiciário como um dos pilares democráticos do Estado brasileiro.
Ainda que não se trate de uma tentativa aberta de desestabilização, a sanção enfraquece a autoridade simbólica de uma das principais instituições de controle constitucional no país, especialmente em um contexto de intensa polarização política. O efeito potencial pode ser interpretado como uma tentativa de deslegitimar o sistema de justiça brasileiro no plano internacional, minando sua capacidade de atuar como referência normativa legítima.
3. Sinalização e posicionamento político internacional
A função mais evidente da sanção norte-americana é a de sinalizar para suas audiências domésticas e internacionais um posicionamento político claro: apoio à figura de Jair Bolsonaro e crítica às decisões judiciais que o atingem. Nesse sentido, a sanção se assemelha ao que Lumen (2018) define como “signaling sanctions”, cujo objetivo não é alterar diretamente o comportamento do alvo, mas transmitir uma mensagem ao público externo e interno sobre os valores e alinhamentos do Estado emissor.
No caso dos Estados Unidos, trata-se de afirmar o compromisso com uma determinada leitura da liberdade de expressão, que, no limite, relativiza os limites jurídicos impostos a discursos antidemocráticos, conspiratórios ou violentos. A medida tem alto valor de marketing político, reforçando a imagem de um governo que se posiciona em favor de figuras políticas alinhadas ideologicamente, mesmo que isso envolva atacar instituições democráticas estrangeiras.
4. Instrumento simbólico e uso interno
As sanções também exercem um papel simbólico, voltado à reafirmação de princípios, narrativas ou posições morais, mesmo quando sua eficácia material é nula. Essa dimensão é particularmente visível quando a sanção visa reforçar o capital político interno do governo que a aplica. A retórica do “combate à censura” e da “defesa da liberdade” é mobilizada como instrumento de legitimação diante de setores da opinião pública estadunidense, especialmente em períodos pré-eleitorais ou de disputa partidária acirrada.
Nesse ponto, a medida assemelha-se a outras sanções simbólicas de baixo impacto real, como o embargo a Cuba ou as reiteradas sanções contra autoridades do Irã e da Venezuela, que cumprem mais uma função de reforço identitário e ideológico do que de transformação política efetiva. No caso brasileiro, a medida reforça a narrativa trumpista de perseguição a aliados ideológicos e reinterpreta a atuação de instituições judiciais nacionais como se fossem ameaças à liberdade internacional.
A análise dos objetivos da sanção aplicada pelos EUA aos ministros do STF brasileiro revela uma ação predominantemente simbólica e de sinalização política, sem fundamentos normativos robustos ou objetivos estratégicos coerentes com o sistema multilateral. A medida serve para afirmar valores internos do governo emissor e atacar politicamente atores estrangeiros, corroendo a credibilidade das sanções como instrumentos legítimos de enforcement internacional. Trata-se, portanto, de uma manifestação da crescente ambiguidade entre sanção e retaliação, entre norma e interesse, no campo da política internacional contemporânea.
Efeitos das Sanções Unilaterais nas Relações Internacionais
O uso recorrente de sanções unilaterais, sobretudo por grandes potências como os Estados Unidos, tem levantado preocupações crescentes sobre seu impacto estrutural nas relações internacionais. Conforme destacam Saaida e Amro (2023), embora essas medidas possam ser eficazes em contextos específicos, sua generalização fora de estruturas multilaterais fragiliza os mecanismos cooperativos internacionais, deteriora a confiança entre Estados e deslegitima o princípio da igualdade soberana.
A imposição de restrições de visto a ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro, sem qualquer processo de deliberação coletiva ou respaldo de organismos internacionais, insere-se nesse contexto de unilateralismo normativo. A seguir, são analisadas três dimensões dos efeitos desse tipo de sanção: as implicações diplomáticas, os riscos institucionais e os precedentes geopolíticos que ela estabelece.
1. Fragilização das relações diplomáticas e erosão da confiança mútua
A diplomacia moderna baseia-se na noção de previsibilidade institucional, regida por tratados, costumes e práticas reconhecidas. Quando um Estado impõe sanções de forma unilateral e com base em interpretações ideológicas de normas universais, como no caso da liberdade de expressão, ocorre uma ruptura com os princípios da proporcionalidade e do devido processo (Saaida & Amro, 2023).
No caso brasileiro, a sanção contra um magistrado da mais alta corte do país representa uma afronta direta à independência do Poder Judiciário, rompendo com o princípio da não-intervenção e interferindo na separação de poderes. Essa atitude enfraquece os canais diplomáticos formais, gera ressentimentos institucionais e pode comprometer o diálogo bilateral em áreas estratégicas, como defesa, meio ambiente e cooperação judicial.
Além disso, a medida deteriora a confiança no compromisso dos EUA com o Estado de Direito e com os valores do multilateralismo, já que demonstra seletividade no uso de princípios universais, aplicando-os apenas a aliados políticos e reinterpretando decisões legítimas como violações arbitrárias.
2. Precedente perigoso contra a autonomia institucional e o direito internacional
A imposição de sanções a membros de tribunais nacionais representa um novo patamar de interferência externa com implicações sistêmicas. Historicamente, medidas coercitivas de caráter diplomático ou econômico visaram líderes executivos, altas autoridades militares ou regimes autoritários. A novidade do caso brasileiro é a penalização de agentes do Judiciário de um país democrático por decisões institucionais tomadas no exercício de suas funções.
Esse tipo de ação representa uma violação indireta do princípio da imunidade funcional de magistrados, garantida por diversos instrumentos internacionais. Além disso, cria um precedente normativo perigoso, abrindo margem para que outros Estados adotem medidas semelhantes contra juízes, promotores ou servidores públicos estrangeiros em função de decisões soberanas — especialmente em países do Sul Global, cujas instituições são frequentemente colocadas sob suspeição política por potências ocidentais.
Nesse cenário, a prática sancionatória perde sua função de proteção de normas universais e transforma-se em instrumento de vigilância ideológica e punição seletiva, corroendo o próprio edifício do direito internacional contemporâneo.
3. Impacto geopolítico e descredibilização da ordem normativa liberal
Ao aplicar sanções unilaterais com base em critérios ideológicos, os Estados Unidos contribuem para a erosão do regime liberal que historicamente ajudaram a construir. Ao invés de reforçar a legitimidade das normas internacionais, a seletividade e o uso político de sanções descredibilizam o multilateralismo, alimentam discursos de hipocrisia normativa e incentivam outros Estados a recorrerem a medidas semelhantes, fora dos marcos institucionais coletivos.
A desconfiança crescente em relação ao sistema internacional regulado é particularmente aguda entre países emergentes, como o Brasil, que percebem incoerência entre o discurso de defesa dos direitos e sua aplicação prática. A sanção contra o STF reforça a percepção de que valores como democracia, liberdade e legalidade são utilizados conforme conveniências estratégicas, e não como pilares universais da ordem internacional.
Nesse contexto, aumenta-se o risco de fragmentação normativa e de consolidação de blocos jurídicos paralelos, nos quais grandes potências como China e Rússia, por exemplo, possam justificar seus próprios atos de coerção sob alegações simétricas. O resultado é um sistema internacional mais polarizado, menos institucionalizado e propenso à lógica da força em detrimento da regra.
As sanções unilaterais, especialmente aquelas dirigidas a instituições do Estado de Direito como o Judiciário, representam um sério desafio à estabilidade normativa das relações internacionais. Ao combinar seletividade política, desprezo por instâncias multilaterais e ataques simbólicos a instituições legítimas, essas medidas agravam a desconfiança interestatal, enfraquecem o direito internacional e alimentam dinâmicas de rivalidade geopolítica. O caso do STF brasileiro ilustra como a banalização de sanções pode produzir efeitos profundos e duradouros sobre a arquitetura da ordem internacional.
Impactos das Sanções Não-Econômicas
As sanções internacionais nem sempre se manifestam por meio de embargos econômicos ou restrições comerciais. A crescente utilização de medidas não-econômicas, como restrições de visto, exclusão de fóruns diplomáticos ou limitações em acordos educacionais e científicos, demonstra que o arsenal de pressão internacional está se diversificando e, ao mesmo tempo, tornando-se mais ambíguo. Essas novas formas de sanção, embora menos visíveis, geram impactos relevantes na estabilidade institucional, na legitimidade normativa internacional e na confiança entre Estados (Saaida & Amro, 2023).
No caso das restrições unilaterais impostas pelo governo norte-americano a ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, os impactos não se limitam ao campo jurídico ou simbólico. A medida produziu repercussões sistêmicas, com potencial para desorganizar marcos de cooperação interestatal e afetar a credibilidade das instituições internacionais. A seguir, destacam-se três frentes principais de impacto.
1. Erosão da confiança mútua entre Estados
A confiança é um pilar fundamental das relações internacionais contemporâneas, sobretudo em contextos democráticos e de interdependência normativa. Sanções unilaterais, impostas sem consulta prévia ou coordenação multilateral, enfraquecem os mecanismos de previsibilidade que sustentam a diplomacia tradicional. Segundo Saaida e Amro (2023), o uso de sanções fora de regimes coletivos tende a gerar desconfiança crônica entre os Estados, tornando o ambiente internacional mais instável e propenso a disputas ideológicas prolongadas.
A decisão dos EUA de restringir o ingresso de autoridades do Judiciário brasileiro em território norte-americano, com base em critérios internos e politicamente seletivos, rompe com o princípio de boa-fé nas relações diplomáticas. Além de ignorar os canais formais de diálogo bilateral, a medida representa uma violação tácita da lógica da reciprocidade e do respeito mútuo à soberania institucional. Isso desestabiliza o campo da cooperação interinstitucional, incluindo iniciativas em áreas como combate à corrupção, justiça transnacional, segurança cibernética e proteção de dados.
2. Precedente perigoso contra a independência judicial
Ao atingir diretamente ministros de uma corte constitucional, a sanção americana inaugura um precedente inédito na história recente da diplomacia coercitiva: a punição de membros do Poder Judiciário de um país democrático por decisões tomadas no exercício de suas funções. Trata-se de um ataque indireto à autonomia funcional do Judiciário, e, por extensão, aos princípios de separação de poderes e de independência judicial — pilares do constitucionalismo contemporâneo.
Esse tipo de ação enfraquece a autoridade de tribunais constitucionais perante a comunidade internacional, e pode desencadear dinâmicas imitativas por parte de outros Estados com baixa tolerância a decisões judiciais que contrariem seus interesses. Além disso, ao sancionar juízes em vez de membros do Executivo, os EUA reconfiguram os alvos tradicionais das sanções — que geralmente visam regimes autoritários ou figuras governamentais de alto escalão — e ampliam o escopo da punição para agentes institucionais autônomos.
Na prática, isso afeta a estabilidade jurídica transnacional, inviabiliza cooperações jurídicas sensíveis e abre margem para o uso instrumental das sanções como forma de intimidação institucional, em vez de resposta legítima a violações normativas internacionalmente reconhecidas.
3. Efeitos colaterais: antiamericanismo e fragmentação normativa
Além dos efeitos diretos sobre a relação Brasil–EUA, a sanção gerou repercussões indiretas de amplo alcance. A narrativa de que os Estados Unidos estariam promovendo uma intervenção simbólica em instituições nacionais democráticas fortaleceu discursos críticos à hegemonia americana, inclusive entre atores moderados do sistema internacional. Tal cenário é particularmente problemático em países do Sul Global, que já percebem o multilateralismo como seletivo e vulnerável ao duplo padrão.
A sanção contribui, assim, para a consolidação de posições antiamericanas, sobretudo entre atores políticos e acadêmicos que veem na medida um sintoma da instrumentalização das normas liberais para fins geopolíticos. Isso alimenta a erosão da legitimidade de regimes jurídicos globais, como o sistema ONU, e pode impulsionar esforços de reconfiguração institucional alternativa, com base em blocos regionais ou alianças de conveniência — como já se observa no caso dos BRICS ampliado ou nas resistências à jurisdição da Corte Penal Internacional.
A médio e longo prazo, a tendência é que ações como essa desacreditem o discurso normativo que sustenta a ordem liberal internacional, contribuindo para sua fragmentação funcional e simbólica.
As sanções não-econômicas, como restrições de visto direcionadas a autoridades judiciais, não são neutras nem inofensivas. Elas operam como mecanismos de coerção simbólica, cujos efeitos — embora menos visíveis que os embargos comerciais — corroem a arquitetura institucional das relações internacionais, enfraquecem a autonomia dos poderes democráticos e minam a legitimidade das normas universais que deveriam proteger. O caso EUA–STF é emblemático de um novo ciclo de politização das sanções, no qual a norma é subordinada ao interesse estratégico, e o multilateralismo é substituído por ações unilaterais de curto alcance e alto custo sistêmico.
Para Onde Caminham as Sanções Internacionais?
A análise das sanções impostas pelos Estados Unidos a membros do Supremo Tribunal Federal brasileiro evidencia um processo mais amplo de reconfiguração do papel das sanções nas Relações Internacionais. O que antes era concebido como uma prática coletiva voltada à defesa de normas compartilhadas e legitimada por organismos multilaterais, passa a ser progressivamente utilizado como instrumento unilateral de pressão política, muitas vezes com motivações ideológicas ou eleitorais.
Esse movimento gera implicações significativas para o futuro do sistema internacional. Conforme argumentado ao longo deste artigo, a prática sancionatória, quando descolada de marcos institucionais e princípios universais, perde sua capacidade normativa e se aproxima perigosamente de práticas arbitrárias de coerção interestatal.
1. A crise da legitimidade das sanções
A legitimidade das sanções internacionais sempre dependeu de dois elementos centrais: o respaldo coletivo (preferencialmente multilateral) e a defesa de normas claramente violadas e reconhecidas pela comunidade internacional. No entanto, quando sanções são impostas unilateralmente — como no caso em questão — e com base em interpretações subjetivas e seletivas de princípios como liberdade de expressão, rompe-se a cadeia de legitimidade que sustenta a eficácia moral e diplomática dessas medidas.
A consequência imediata é a banalização do instrumento: se qualquer Estado, especialmente potências globais, pode impor sanções com base em valores interpretados de forma parcial, abre-se a possibilidade para que qualquer desavença política ou ideológica seja tratada como violação de norma internacional — desvirtuando completamente a lógica do enforcement jurídico e normativo que caracteriza o direito internacional contemporâneo.
2. O risco de um sistema sancionatório fragmentado
Esse cenário leva a uma fragmentação do regime de sanções. Em vez de contar com mecanismos legitimados e estruturados — como os do Conselho de Segurança da ONU ou de órgãos regionais —, assistimos à proliferação de medidas unilaterais, com justificativas cada vez mais ambíguas. Isso enfraquece os fóruns multilaterais, já tensionados por disputas entre grandes potências, e fortalece a ideia de que o uso das sanções está menos vinculado à justiça e mais ao posicionamento estratégico de poder.
Além disso, a ausência de mecanismos de accountability internacional para sanções unilaterais gera assimetria estrutural: países com maior poder de coerção podem aplicar medidas punitivas com alto impacto político e simbólico, sem qualquer consequência legal ou diplomática, ao passo que países com menor influência raramente têm acesso aos mesmos recursos coercitivos. Isso aprofunda desigualdades no sistema internacional e institucionaliza a seletividade das normas.
3. Alternativas: recentralizar, regular e qualificar o uso das sanções
A superação desse impasse exige uma dupla resposta normativa e institucional. Em primeiro lugar, é necessário recentralizar o regime de sanções no sistema multilateral, reforçando os processos deliberativos em fóruns como o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral da ONU e os organismos regionais, como OEA, União Africana ou Mercosul. Isso requer não apenas revisão de mandatos, mas também a construção de critérios mais claros e objetivos sobre o que constitui violação de normas fundamentais — distinguindo entre valores universais e interesses particulares.
Em segundo lugar, deve-se avançar para uma regulamentação internacional mais robusta do uso de sanções unilaterais, com mecanismos de notificação, contestação e revisão em instâncias jurídicas internacionais, como a Corte Internacional de Justiça. Esse esforço poderia evitar abusos e garantir que sanções direcionadas a agentes públicos — como juízes, parlamentares ou servidores — respeitem os princípios da imunidade funcional, da proporcionalidade e do devido processo legal.
Por fim, urge qualificar o debate público e acadêmico sobre as sanções. A comunidade internacional precisa ser capaz de distinguir sanções legítimas — com base em violação de normas universais e aprovadas coletivamente — de sanções arbitrárias ou ideológicas, cuja função primária é reforçar posicionamentos domésticos, exportar valores de forma assimétrica ou punir adversários políticos externos.
O caso das restrições de visto impostas pelos Estados Unidos ao STF brasileiro serve como alerta para os riscos de uma ordem internacional fundada não em regras compartilhadas, mas em ações unilaterais mascaradas de justiça normativa. O futuro das sanções dependerá da capacidade dos atores internacionais de reconectar esses instrumentos às suas raízes institucionais e normativas, fortalecendo a legitimidade, a legalidade e a transparência de sua aplicação. Somente assim será possível recuperar a confiança internacional e reafirmar o papel das sanções como ferramenta legítima de defesa da ordem internacional — e não como arma retórica nas disputas de poder do presente.
Conclusão
O caso das restrições de visto impostas pelos Estados Unidos a ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, sob alegações de censura e violação da liberdade de expressão, ilustra uma mutação preocupante no uso contemporâneo das sanções internacionais. Ao invés de expressar um compromisso com normas universais e com o direito internacional, a medida representa uma ação unilateral motivada por interesses políticos e ideológicos, aplicada fora de qualquer instância multilateral ou consenso normativo.
A partir da abordagem da English School, foi possível compreender que as sanções podem se constituir como instituições primárias da sociedade internacional — desde que operem sob critérios de legitimidade, coletividade e defesa de normas reconhecidas. No entanto, o uso seletivo e politicamente direcionado das sanções, como no caso em análise, rompe com essa lógica institucional, transformando-as em instrumentos de retaliação simbólica e sinalização ideológica.
A tipologia funcional das sanções, conforme proposta por Lumen (2018), demonstra que a ação norte-americana cumpre predominantemente funções de sinalização e simbolismo doméstico, sem produzir efeitos reais no comportamento do Estado-alvo. Ao invés de dissuadir, coerir ou proteger normas, a medida serve para reforçar narrativas internas e alianças políticas externas, com altos custos diplomáticos e institucionais.
Como demonstrado por Saaida e Amro (2023), sanções não-econômicas como restrições de visto têm efeitos concretos sobre a estabilidade das relações internacionais: deterioram a confiança mútua, ameaçam a autonomia das instituições democráticas e enfraquecem o regime jurídico multilateral. Quando aplicadas contra atores judiciais de sistemas democráticos, como no caso do STF brasileiro, essas medidas inauguram precedentes perigosos que podem ser replicados em contextos menos estáveis, com sérias consequências para o equilíbrio normativo global.
Diante disso, o artigo conclui que as sanções internacionais estão em risco de perder sua função normativa, tornando-se ferramentas de coerção assimétrica e deslegitimando o multilateralismo. Para que recuperem sua autoridade moral e sua eficácia política, é fundamental que sejam recentralizadas em instituições multilaterais, submetidas a critérios objetivos e verificáveis e reconectadas às normas universais que afirmam defender.
O caso do Brasil é um ponto de inflexão que exige não apenas críticas pontuais, mas uma reflexão mais profunda sobre os rumos da ordem internacional e sobre a responsabilidade dos grandes poderes em sustentar — ou subverter — os princípios que regem o convívio entre as nações.
Referências
BULL, Hedley. The Grotian Conception of International Society. In: BUTTERFIELD, Herbert; WIGHT, Martin (Org.). Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics. London: George Allen & Unwin, 1966. p. 51–73.
BUZAN, Barry. From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalisation. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
CLARK, Ian. Reform and Resistance in the International Order. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
LUMEN, Christine. The power of sanctions as a tool of international relations: factors that define its success. 2018. Master’s Thesis (MA in International Relations and European-Asian Studies) – Tallinn University of Technology, Tallinn, 2018. Disponível em: https://digikogu.taltech.ee. Acesso em: 20 jul. 2025.
SAAIDA, Mohammed; AMRO, Azzam. The Effects of Economic Sanctions on International Relations. Al Istiqlal University, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/377827663. Acesso em: 20 jul. 2025.
WILSON, Peter; YAO, Joanne. International sanctions as a primary institution of international society. In: KNUDSEN, Tonny Brems; NAVARI, Cornelia (Org.). International Organization in the Anarchical Society: The Institutional Structure of World Order. London: Palgrave Macmillan, 2018. p. 126–148. (Palgrave Studies in International Relations).
Analista de Relações Internacionais, organizador do Congresso de Relações Internacionais e editor da Revista Relações Exteriores. Professor, Palestrante e Empreendedor. Contato profissional: guilherme.bueno(a)esri.net.br