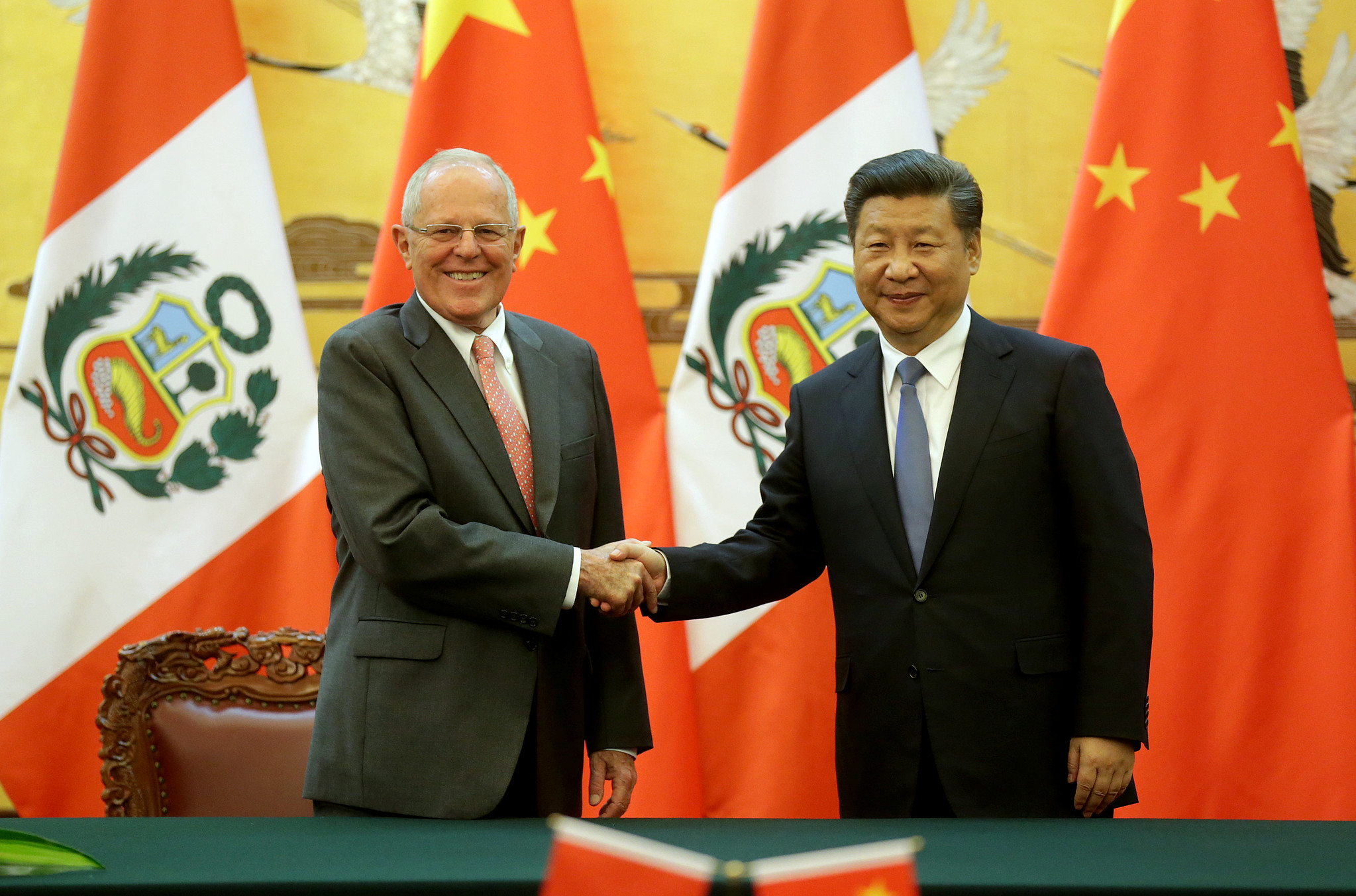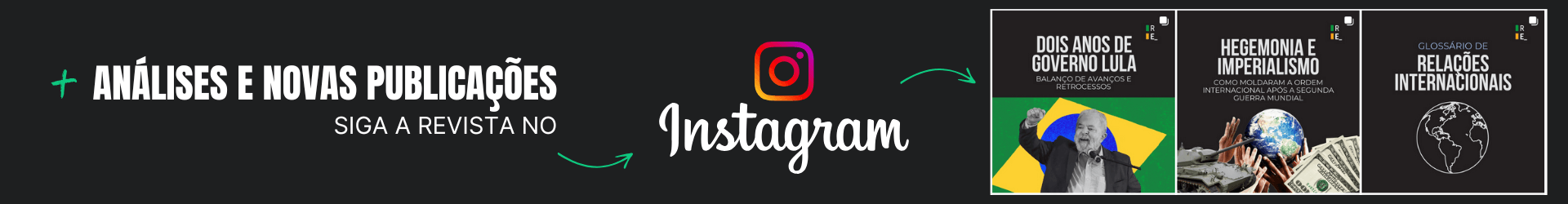Nas primeiras horas de 3 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que forças americanas haviam conduzido uma operação militar de grande escala na Venezuela, resultando no rapto do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa. O pronunciamento foi marcado por uma exaltação explícita do poder militar, pela descrição minuciosa do emprego de ar, terra e mar, pela menção direta à Doutrina Monroe e, de forma igualmente clara, pela vinculação da ação aos interesses energéticos dos Estados Unidos.
Mais do que informar, o discurso presidencial buscou produzir sentido político imediato. A operação foi apresentada como um feito histórico, juridicamente justificado, militarmente incontestável e moralmente necessário. Antes mesmo de qualquer avaliação internacional, Trump declarou a ação justa, anunciou uma transição sob tutela americana e indicou a possibilidade de novas ondas de ataque. A linguagem utilizada não deixou margem para ambiguidade: tratava-se de uma demonstração de força e de um recado político que extrapola o caso venezuelano.
O episódio ocorre em um contexto internacional marcado pelo enfraquecimento do multilateralismo, pela crescente tolerância a ações unilaterais e pela revalorização do poder duro como instrumento de política externa. Em um cenário de competição estratégica, crises energéticas recorrentes e transição climática incompleta, recursos fósseis continuam a ocupar lugar central nos cálculos das grandes potências. A Venezuela, detentora das maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, reaparece, assim, como espaço privilegiado dessa disputa.
Ao mesmo tempo, a América do Sul assiste ao evento sem capacidade efetiva de coordenação política. A ausência de uma resposta regional articulada, somada à fragilidade de mecanismos multilaterais e à incapacidade de mediação, abriu espaço para que a coerção externa se impusesse como solução de fato. A crise venezuelana, que há anos exige saída política negociada, passa a ser reorganizada sob a lógica da força.
Este artigo parte da premissa de que o sequestro de Maduro não pode ser analisada apenas como a queda de um líder autoritário. Trata-se de um marco político que revela transformações mais profundas na ordem regional e internacional. Argumenta-se que a operação americana expressa três movimentos simultâneos: a centralidade crescente da disputa de narrativas como instrumento de poder; o retorno explícito do big stick como mecanismo de ordenamento hemisférico; e o papel estrutural do petróleo no cálculo estratégico dos Estados Unidos.
Ao analisar esses três eixos, o texto sustenta que a ação não garante mudança de regime nem estabilidade política na Venezuela. Ao contrário, ela inaugura uma fase de maior incerteza, normaliza a coerção unilateral e cria precedentes que fragilizam a soberania estatal como princípio organizador do sistema internacional. Mais do que sobre Caracas, o episódio é sobre como o poder volta a ser exercido e legitimado no século XXI.
1. A disputa de narrativas: captura/sequestro, legalidade e poder
Desde as primeiras horas após a operação militar na Venezuela, a disputa central não se deu apenas no terreno estratégico ou jurídico, mas no campo da linguagem. Ao anunciar que Nicolás Maduro havia sido “capturado”, o presidente dos Estados Unidos não apenas descreveu um fato, ele produziu um enquadramento político. Em contextos de alta assimetria de poder, palavras não são neutras: elas organizam percepções, delimitam o aceitável e tentam antecipar legitimidade.
A escolha do termo captura cumpre uma função clara. No vocabulário político-jurídico, capturar sugere legalidade, perseguição a um criminoso, cumprimento de uma ordem de justiça. Sequestro, ao contrário, remete à arbitrariedade, à violação de soberania e à coerção ilegítima. Ao adotar o primeiro termo, Washington busca deslocar o debate do direito internacional público para uma narrativa de justiça penal transnacional.
Essa operação discursiva não é acidental. Ela visa normalizar o ato antes que ele seja questionado, reduzir o custo político internacional e enquadrar qualquer crítica como defesa do regime deposto. Trata-se de uma estratégia recorrente nas grandes intervenções do pós-Guerra Fria: primeiro, define-se o vocabulário; depois, constrói-se o consenso possível.
No entanto, do ponto de vista do direito internacional, a questão é objetiva. A Venezuela permanece um Estado soberano, independentemente da natureza autoritária de seu governo. Sem mandato do Conselho de Segurança da ONU, a entrada de forças estrangeiras, o uso da força armada e a retirada compulsória de um chefe de Estado configuram ação unilateral coercitiva e violação de soberania. A disputa semântica não altera esse dado estrutural.
A centralidade da narrativa, contudo, vai além da legalidade formal. Como observou Hannah Arendt, a violência pode destruir um poder existente, mas é incapaz de criar legitimidade política. Legitimidade nasce do reconhecimento, da institucionalidade e da participação e não da força. Quando a violência tenta ocupar o lugar da política, o resultado não é emancipação, mas instabilidade prolongada.
Nesse sentido, tratar a operação como regime change bem-sucedido, como parte da mídia americana passou a fazer quase imediatamente, é mais um passo na tentativa de fechar o futuro no presente. Ao declarar vitória antes da transição, o discurso busca converter um ato militar em fato político consumado, pressionando atores regionais e internacionais a aceitarem o novo arranjo como inevitável.
O problema é que regimes não se dissolvem com a remoção física de um líder. Estruturas de poder, redes de patronagem, forças armadas, burocracias e clivagens sociais permanecem. A história recente demonstra que a distância entre sucesso militar e estabilidade política costuma ser grande e, frequentemente, trágica.
Assim, a disputa em torno das palavras não é periférica. Ela é constitutiva do próprio evento. Ao definir o que ocorreu, os Estados Unidos tentam definir também o que pode voltar a ocorrer, com quem, em que condições e com que grau de contestação internacional. Em um sistema internacional cada vez mais marcado pela erosão de normas, controlar a narrativa é um multiplicador de poder.
A questão central, portanto, não é apenas se Maduro foi capturado ou sequestrado. É quem tem o poder de nomear, de impor sentidos e de transformar exceções em precedentes. Quando a linguagem se antecipa ao direito, a ordem internacional entra em terreno instável e todos os Estados, grandes ou pequenos, tornam-se potencialmente vulneráveis.
2. Big stick, soberania e o colapso da liderança regional
A operação militar dos Estados Unidos na Venezuela não pode ser compreendida apenas como um episódio isolado de política externa. Ela sinaliza a reativação explícita da lógica do big stick no espaço hemisférico. Isto é, o uso aberto da força como instrumento legítimo de ordenamento político. Ao mencionar diretamente a Doutrina Monroe em seu discurso, o presidente Donald Trump não apenas recorreu a um símbolo histórico, mas atualizou seu significado para o século XXI: a América Latina volta a ser tratada como zona de influência direta, sujeita à intervenção quando interesses estratégicos estiverem em jogo.
Esse retorno não ocorre no vazio. Ele se dá em um contexto de erosão do multilateralismo, enfraquecimento das instituições internacionais e crescente tolerância a ações unilaterais por parte das grandes potências. A ausência de mandato do Conselho de Segurança da ONU não foi tratada como obstáculo, mas como detalhe irrelevante. A mensagem implícita é clara: quando os custos são considerados aceitáveis e os ganhos estratégicos elevados, as normas podem ser contornadas.
Do ponto de vista do direito internacional, a operação representa uma violação direta do princípio da soberania, pilar fundamental da ordem internacional moderna. A soberania não é um prêmio concedido a governos virtuosos, mas uma condição estrutural do sistema internacional. Confundir avaliação moral do regime com autorização para intervenção militar é abrir caminho para a arbitrariedade sistêmica, na qual o poder substitui o direito.
O aspecto mais revelador, contudo, é a resposta regional ou a ausência dela. A América do Sul mostrou-se incapaz de articular uma posição comum, seja de condenação, seja de mediação. Em particular, o Brasil, que historicamente buscou exercer papel de liderança diplomática e mediadora em crises regionais, apareceu politicamente desarticulado e sem capacidade de coordenação. A inexistência de um concerto regional efetivo abriu espaço para que a coerção externa ocupasse o vazio.
Essa fragilidade regional não é apenas conjuntural. Ela reflete o desmonte progressivo de mecanismos de coordenação sul-americanos, a politização extrema das relações regionais e a perda de capacidade de ação coletiva. Sem uma arquitetura regional funcional, crises deixam de ser tratadas como problemas políticos compartilhados e passam a ser resolvidas por atores externos, segundo seus próprios interesses.
O risco desse movimento vai além do caso venezuelano. Ao normalizar a intervenção unilateral como resposta a crises políticas internas, cria-se um precedente perigoso. Estados com menor capacidade militar tornam-se estruturalmente vulneráveis, e a estabilidade regional passa a depender da disposição ou do cálculo de potências extrarregionais. Em vez de reduzir a instabilidade, esse modelo tende a reproduzi-la, ao incentivar disputas internas, alinhamentos forçados e ciclos de dependência.
A coerção pode impor silêncio temporário, mas raramente produz ordem sustentável. Sem legitimidade interna, sem acordo político mínimo e sem instituições capazes de absorver conflitos, a força externa apenas adianta crises futuras. O big stick resolve o curto prazo, mas corrói o longo prazo.
Nesse sentido, a operação na Venezuela expõe não apenas a estratégia americana, mas o colapso da capacidade regional de produzir soluções políticas próprias. Onde a política falha, a força entra. E quando isso ocorre, a soberania deixa de ser um princípio compartilhado para se tornar uma variável negociável.
3. Petróleo, poder e o cálculo estratégico
Embora apresentada como resposta a crimes transnacionais e à instabilidade política venezuelana, a operação dos Estados Unidos não pode ser compreendida sem considerar o papel estrutural do petróleo no cálculo estratégico americano. O próprio discurso presidencial foi explícito ao vincular a ação militar à infraestrutura energética, aos investimentos realizados por empresas dos EUA e à necessidade de garantir controle sobre cadeias críticas de suprimento.
Os Estados Unidos permanecem o maior consumidor de petróleo do mundo, com uma economia industrial fortemente dependente de energia abundante e barata. Setores como petroquímica, siderurgia, transporte pesado e agronegócio exercem pressão constante por previsibilidade energética, especialmente em um contexto de competição geoeconômica crescente. A transição energética, embora presente no discurso, não eliminou essa dependência estrutural… apenas a tornou mais politicamente sensível.
Há, ainda, um dado técnico frequentemente ignorado no debate público: grande parte das refinarias americanas é antiga e foi projetada para processar petróleo pesado, exatamente o tipo produzido pela Venezuela. Isso cria um incentivo material direto para garantir acesso a esse recurso específico, reduzindo custos de adaptação tecnológica e preservando a competitividade industrial no curto e médio prazos.
Nesse contexto, a fala de Trump sobre a indústria petrolífera venezuelana ser “propriedade americana” não é mero excesso retórico. Ela revela uma concepção patrimonial do poder, na qual investimentos históricos são mobilizados como argumento para reivindicar controle político e econômico. O petróleo deixa de ser apenas um recurso estratégico e passa a ser tratado como ativo a ser recuperado.
Essa lógica ajuda a explicar por que derrubar o regime aparece como solução preferencial. Controlar o ambiente político é, para Washington, mais rápido e menos custoso do que negociar acesso em um cenário de autonomia venezuelana ou liderar um processo mundial de transição energética profunda, que exigiria coordenação internacional, investimentos de longo prazo e concessões políticas internas. A coerção oferece resultados imediatos; a transição, não.
Ao afirmar que os Estados Unidos permanecerão na Venezuela “por um período” para garantir uma transição e ao mencionar a possibilidade de novas ondas de ataque, o discurso presidencial indica que o objetivo vai além da remoção de um líder. Trata-se de reorganizar o espaço político de forma funcional aos interesses energéticos e estratégicos americanos, assegurando previsibilidade em um mercado considerado vital.
Essa estratégia, contudo, carrega riscos significativos. A dependência excessiva da força para garantir recursos tende a aumentar a instabilidade, gerar resistência interna e regional e aprofundar a percepção de imperialismo. Além disso, ao priorizar o controle de mercados fósseis, os Estados Unidos reforçam uma trajetória de curto prazo que adianta custos econômicos, ambientais e políticos para o futuro.
O caso venezuelano, portanto, ilustra um dilema mais amplo da política internacional contemporânea. Em um mundo que exige coordenação para enfrentar desafios comuns de toda a humanidade, como climáticos, energéticos e sociais, a opção pela coerção revela a dificuldade das grandes potências em abrir mão de instrumentos tradicionais de poder. Quando a escolha recai sobre a força, o discurso de segurança e justiça serve como cobertura para um cálculo material simples: quem controla o regime, controla o recurso.
Assim, a operação na Venezuela não é apenas sobre Caracas. Ela expressa uma visão de mundo na qual a ordem internacional é reorganizada pela capacidade de impor decisões, e na qual o petróleo segue ocupando posição central na definição de vencedores e perdedores. A promessa de estabilidade, nesse arranjo, é sempre condicional e frequentemente ilusória.
Conclusão
O sequestro de Nicolás Maduro pelas forças dos Estados Unidos marca mais do que o colapso de uma liderança política. Ela explicita uma transformação mais profunda na forma como o poder volta a ser exercido e legitimado na política internacional. Ao optar pela ação militar unilateral, Washington sinaliza que, diante de interesses estratégicos considerados vitais, normas, procedimentos multilaterais e mecanismos políticos podem ser tratados como obstáculos secundários.
O episódio evidencia que derrubar um líder não equivale a desmontar um regime. Estruturas de poder, redes institucionais e dinâmicas sociais permanecem, frequentemente agravadas pela ruptura imposta de fora para dentro. A história recente demonstra que intervenções justificadas como cirúrgicas e excepcionais tendem a produzir efeitos duradouros de instabilidade, fragmentação e dependência, especialmente quando não acompanhadas de processos políticos legítimos e inclusivos.
Ao mesmo tempo, a centralidade do petróleo no discurso presidencial deixa claro que o cálculo estratégico foi material, não normativo. Controlar o ambiente político para garantir acesso a recursos energéticos revelou-se, para os Estados Unidos, uma alternativa mais rápida e menos custosa do que liderar uma transição energética profunda ou negociar novos arranjos multilaterais. Nesse sentido, a operação na Venezuela não representa um desvio, mas uma reafirmação de uma lógica histórica de poder.
O silêncio e a desarticulação regional completam o quadro. A incapacidade da América do Sul e, em particular, do Brasil de exercer liderança diplomática e oferecer uma saída política regional abriu espaço para que a coerção externa se impusesse como solução de fato. Quando a política falha, a força ocupa o vazio. E quando isso ocorre, a soberania deixa de ser princípio compartilhado para se tornar variável estratégica.
A normalização desse tipo de ação tem implicações que vão além da Venezuela. Ao transformar exceções em precedentes, enfraquece-se a previsibilidade da ordem internacional e amplia-se a vulnerabilidade de Estados menos capazes de impor custos à intervenção. A disputa deixa de ser apenas sobre regimes específicos e passa a ser sobre quem pode decidir, em que condições e com quais limites.
Em última instância, o caso venezuelano recoloca uma questão clássica das Relações Internacionais: se a força volta a organizar a política, quem paga o preço da estabilidade aparente? A resposta raramente recai sobre os decisores. Ela recai sobre as sociedades, sobre as regiões fragilizadas e sobre um sistema internacional cada vez mais disposto a trocar legitimidade por eficácia imediata.
Maduro caiu.
A crise venezuelana, não.
Analista de Relações Internacionais, organizador do Congresso de Relações Internacionais e editor da Revista Relações Exteriores. Professor, Palestrante e Empreendedor. Contato profissional: guilherme.bueno(a)esri.net.br