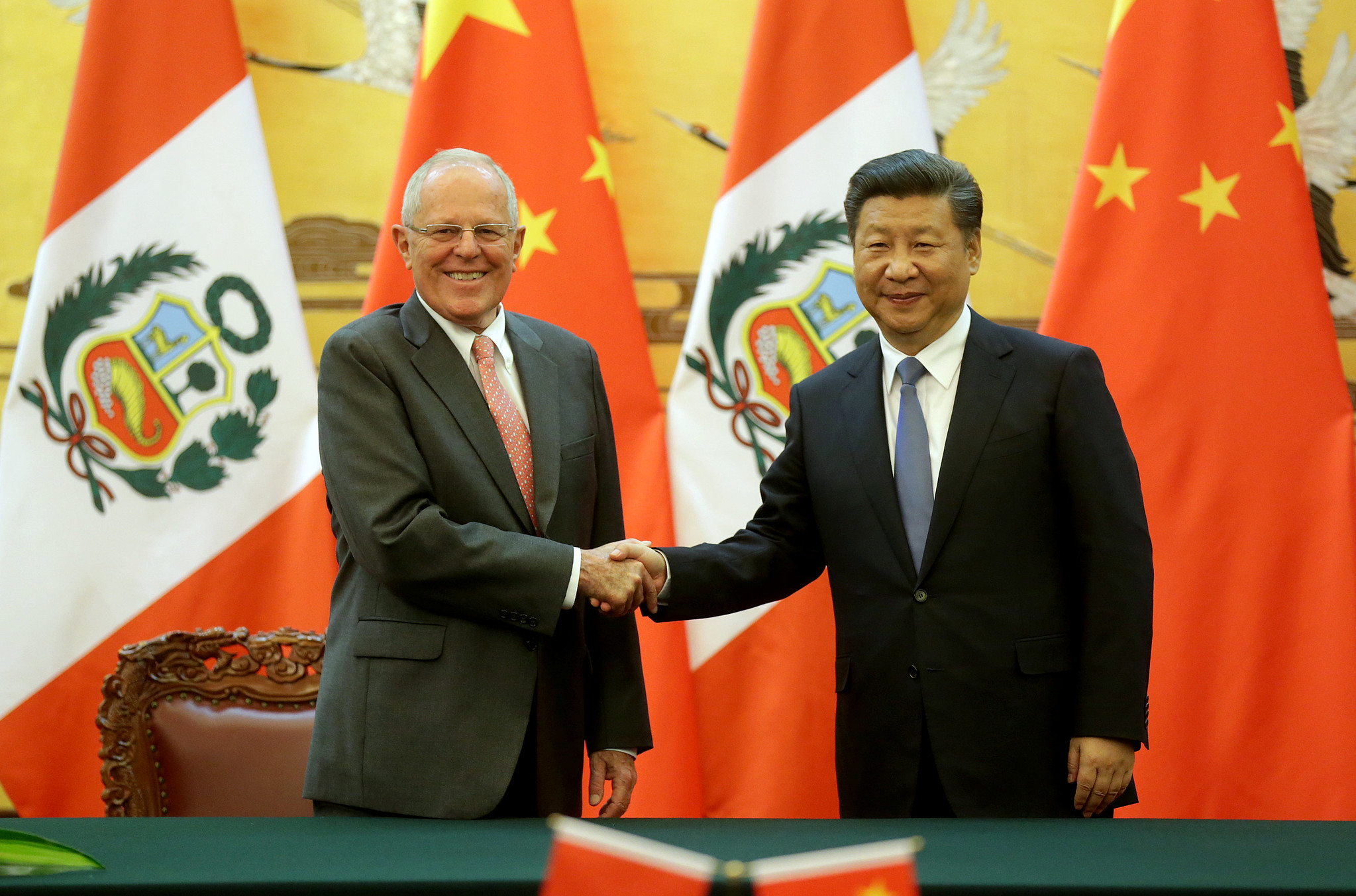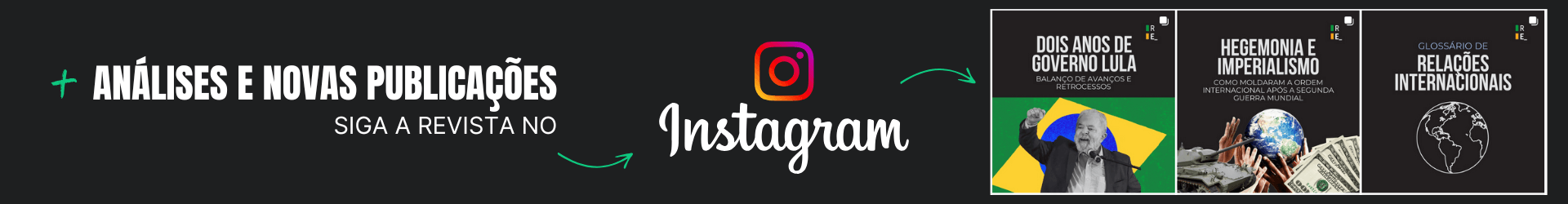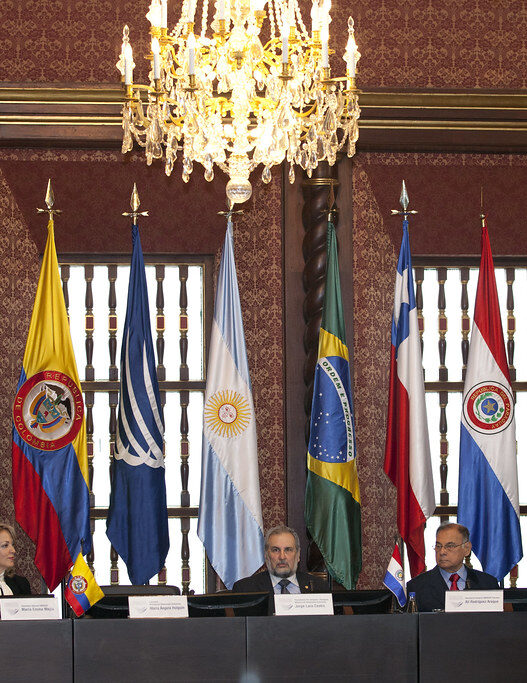Introdução:
Os EUA são a maior potência do planeta e, em nome de uma aliança especial baseada em valores comuns a Israel, tais como a democracia, a liberdade e o pluralismo, eles vêm garantindo apoio militar, financeiro e diplomático incondicional àquele país desde o governo Kennedy.
Até os estertores da Guerra Fria, Israel foi um irrecusável atrativo estratégico para os EUA. A queda do Muro de Berlim e a dissolução da URSS alteraram a lógica dessa equação, em razão da redistribuição de poderes e capacidades no Oriente Médio. Desde então, Israel passou da qualidade de trunfo à de pesada responsabilidade geoestratégica para os EUA, em um verdadeiro processo de inflexão que pode ter atingido o seu clímax no recente conflito com o Hamas.
Israel e EUA: entre a aliança especial e a maximização de poder
A aliança especial entre Israel e EUA nasceu e frutificou durante a Guerra Fria, alicerçada nos vários elementos de conexão entre os dois países e justificada na necessidade de neutralização estratégica do poder da URSS no Oriente Médio.
Paradoxalmente, ao invés de causar o arrefecimento dessa relação, o fim da era bipolar provocou a sua intensificação. O mérito pela sobrevida da aliança especial em tela é inequivocamente do lobby judaico e do seu surpreendente poder político, e a sua poderosa atuação explica porque, a despeito do incremento dos custos de apoio a Israel e do declínio dos seus benefícios, o suporte americano continua a crescer.
O objetivo máximo do lobby judaico é promover e perpetuar a relação especial entre Tel Aviv e Washington por meio da inserção da causa israelense dentro dos EUA e do direcionamento da política externa norte-americana em favor dos interesses de Israel de forma intransigente.
Em não havendo equilíbrio na equação entre custos e benefícios estratégicos na relação de apoio incondicional entre Israel e EUA, é possível inferir que o suporte em tela vai de encontro ao interesse nacional norte-americano. O apoio resoluto dos EUA a Israel faria sentido se o país recebesse benefícios substanciais em retorno e se o valor desses benefícios excedesse os custos econômicos e políticos desse apoio.

Se Israel possuísse recursos naturais vitais, tais como petróleo ou gás natural, ou se o país ocupasse uma localização geográfica estratégica, então os EUA poderiam querer prover apoio de forma a manter boas relações e afastar esses recursos de mãos indesejadas. Em suma, a ajuda a Israel seria justificável se ela ajudasse a fazer os americanos mais prósperos e seguros (MEARSHEIMER, p. 49).
Esse não é, contudo, o quadro tático que se descortina da relação em tela. Após o desaparecimento da URSS, o argumento frequentemente invocado em uníssono pelos dirigentes e estrategistas de Washington e Tel Aviv é o de que o apoio incondicional a Israel é justificado por uma ameaça comum do terrorismo internacional e de um grupo de Estados párias e hostis.
No mesmo sentido, a AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), um dos expoentes máximos do lobby judaico, apregoa que os EUA e Israel têm uma profunda parceria estratégica, focada no confronto de ameaças comuns a ambas as nações e que a cooperação entre EUA e Israel em defesa e segurança interna provou ser de vital importância (MEARSHEIMER, p. 49/51).
A simples análise das próprias condições nas quais o Estado judeu surgiu deixa assente a absoluta ausência de racionalidade desse pensamento. Para que Israel fosse criado, foi necessário desalojar milhares de palestinos que já tinham a sua nação consolidada naquelas terras que seriam dos novos ocupantes dali para diante. Daí surge o ponto nodal que constitui a maior dificuldade no delineamento da grande estratégia de Israel: a inevitável associação do país ao espectro do colonialismo.
Por mais que Tel Aviv tenha sublinhado o caráter anti-imperialista e assimilativo de sua razão de Estado ao longo de sua existência, o fato é que, na prática, a crescente política de absorção de territórios, não só dos palestinos, mas também de outros vizinhos árabes, acaba por anular aquele esforço de desvinculação do viés hegemônico, e cria, pari passu, as recorrentes contradições muito bem exploradas por governos e setores que não são simpáticos a Israel, fundamentalmente baseadas na premissa de que o povo que sofreu as agruras do holocausto teria ele mesmo infligido aquelas inenarráveis atrocidades ao povo palestino.
Não por acaso Israel enfrenta uma dificuldade progressiva na sustentação do discurso existencial como fonte legitimadora de suas ações estratégicas no Oriente Médio. O país é enxergado por parte da comunidade internacional como um Estado pária, na medida em que os palestinos seguem privados de uma pátria, as colinas de Golã seguem ocupadas, e o Líbano segue sofrendo incursões territoriais das forças armadas israelenses.
Mas, a despeito desses conflitos geopolíticos, a questão palestina é a que de longe representa o maior percalço para Israel, e que constitui paradoxalmente o tema que Tel Aviv se recusa terminantemente a ponderar. A questão palestina é para Israel o gerador do isolamento do país no Oriente Médio e do consequente desgaste de sua estratégia.
Esse problema, postergado por décadas a fio em razão do engessamento da estratégia setorial israelense, ressurgiu com força total no fatídico ataque terrorista do Hamas, ocorrido em 07 de outubro de 2023. O referido ataque representou um dilema para Israel: ou o país revê a sua política estratégica setorial para a questão palestina, ou estará fadado a permanecer como um ator colonialista, crescentemente isolado no cenário internacional, e com sério risco de perder o apoio incondicional de seu maior aliado, os EUA.
Washington continua, contudo, provendo o apoio incondicional a Israel, sem adotar uma posição clara de oposição à política expansionista de assentamentos judeus. A forte atuação do lobby judaico junto aos centros de decisão dos EUA realça o discurso de vulnerabilidade e insegurança do Estado judeu como legitimador dessa ação expansionista.
Mas a alegada necessidade de securitização é, na verdade, uma forma de maximização do poder de Israel. O país é hoje muito mais seguro do que era nas primeiras décadas de sua existência e, ao contrário do que é frequentemente alegado pelos estrategistas e dirigentes israelenses, a diretiva de ocupação de territórios deixa Israel mais exposto, ao invés de torná-lo indevassável.
Mesmo a ameaça terrorista de grupos como o Hezbollah e o Hamas, considerada por Tel Aviv como potencialmente letal, não se afigura como um risco existencial para o país. O ataque terrorista perpetrado pelo Hamas confirma isso: a despeito da horripilante ação do grupo terrorista, a existência de Israel não restou ameaçada, e a resposta militar do país em Gaza tem sido alvo de críticas acerbas de setores privados e governamentais em razão de sua desproporcionalidade. A operação militar em Gaza, debatida nas recorrentes reuniões do Conselho de Segurança da ONU, e condenada em um inquérito promovido no âmbito daquela mesma organização internacional, indica que a estratégia subsistêmica de Israel parece ter encontrado o seu limite.

O esgotamento da estratégia de absorção de territórios levada a efeito por Israel é, assim, mais do que evidente, e aliada à cegueira deliberada na relação de apoio incondicional com os EUA, resulta na impossibilidade de integração assertiva de Tel Aviv no próporio espaço geopolítico que lhe é natural. É preciso salientar que, além do isolamento vivenciado em seu entorno estratégico, Israel tem sido escanteado pelos próprios americanos, na medida em que Washington e Tel Aviv simplesmente não juntam forças em operações táticas desenvolvidas em conjunto com os países árabes aliados.
O ponto de inflexão para Israel é, portanto, indisfarçável e gravita em torno da questão Palestina e da solução de dois Estados, amplamente cogitada por inúmeros governantes após o fatídico 07 de outubro. Israel deve rever a sua estratégia de maximização de poder pela absorção de territórios, escudada pelo apoio incondicional dos EUA, sob pena, talvez, da ocorrência de uma dissensão interna da envergadura de uma ruptura institucional ou mesmo de uma revolução.
O subsistema internacional de Israel e os prejuízos estratégicos acumulados pelos EUA

O sistema internacional é composto por uma estrutura e por unidades que interagem entre si. A organização dos Estados dentro do sistema, e não as interações entre eles, é que dão formato tangível a ele, ou seja, o que define o sistema internacional é o modo como os Estados são afetados pela estrutura, e não o modo como eles afetam a estrutura (WALTZ, p. 80).
Desta forma, a estrutura é definida pelo arranjo entre os Estados e impõe uma lógica uniforme a todo o sistema internacional, em seus amplos e variados domínios. Ela não é visível; só distinguimos a estrutura por meio da abstração da realidade concreta do sistema internacional (WALTZ).
Em sendo uma abstração, a estrutura não pode ser definida pela enumeração das características materiais do sistema. Ao invés, ela deve ser definida pela organização dos Estados e pela distribuição de suas capacidades de inserção internacional, tendo como vetor um determinado princípio ordenador que lhe dá direção e sentido. O paradigma bipolar da guerra fria foi precisamente o princípio ordenador que definiu a estrutura internacional e a organização das relações entre os Estados no interregno da formação e consolidação da estratégia fundamental de Israel.
A busca de Israel nas suas relações com os EUA respectivamente era a redistribuição das suas capacidades de poder, medida essencial para a garantia de sua própria segurança. A racionalidade como instrumento central nesse processo político fez com que Tel Aviv, em uma atitude de autoajuda, usasse o seu poder para influenciar o sistema internacional, mais do que serem influenciado por ele, por meio da implementação do subsistema em apreço.
Os ganhos relativos pretendidos por Israel se fizeram notar: as suas capacidades de poder, tomadas em comparação com outros agentes com influência em suas respectivas áreas de ingerência natural, e mesmo com os EUA, cresceram exponencialmente até atingirem um ponto de esgotamento dentro do próprio subsistema internacional criado por ele.
A estratégia subsistêmica tecida por Israel comprovou, na prática, que os Estados são unidades parecidas ou iguais do ponto de vista das funções que desenvolvem. A dinâmica de atuação dos países envolvidos nos mostra que eles procuraram agir de maneira uniforme e homogênea na defesa do interesse nacional, em um consenso acerca dos objetivos possíveis na ordem internacional.
A despeito da equivalência de peso, o jogo de forças na arena internacional privilegiou Israel em detrimento dos EUA justamente porque aquele país soube manejar uma estratégia setorial subsistêmica capaz de assegurar a sua permanência como ator de relevância nas relações internacionais.
Essas redes subsistêmicas concebidas por Israel representaram um verdadeiro bandwagoning “às avessas”, na medida em que esse país passou de uma posição de alinhamento e adesão ao outro Estado mais forte, a uma posição de influência espetacular nos rumos da política externa dos EUA, algo bastante peculiar para uma nação periférica subordinada aos ditames do sistema internacional.
Essa capacidade de instrumentalização e direcionamento da estratégia setorial de Washington é nítida. Em 2001, Benjamin Netanyahu, que certa feita havia caracterizado os ataques terroristas de 11 de setembro como “proveitosos” para Israel, disse, em uma reunião com empreendedores judeus: “eu sei o que a América é. A América é uma coisa que você pode mover muito facilmente, que você pode mover na direção correta” (MEARSHEIMER e WALT). A convicção de Netanyahu é amplamente alicerçada na certeza de que o lobby israelense continuará garantindo a forte influência de Israel nos EUA.
Essa considerável influência reflete o constante “sim” dos EUA a Israel, mesmo em assuntos que são claramente contrários à razão de Estado norte-americana. Apenas ocorre que a recíproca não é verdadeira. Por isso, não por acaso, o premier Netanyahu, em recente coletiva à imprensa, atestou que “um primeiro-ministro de Israel tem que ser capaz de dizer “não” até para os melhores amigos; dizer “não” quando precisar e “sim” quando puder”.
A guerra de 1967 consolidou a aliança entre EUA e Israel para a manutenção do equilíbrio em face dos Estados clientes da URSS na região. Ao mesmo tempo em que garantia a segurança de Israel, os EUA se valiam do poder bélico de Tel Aviv para enfraquecer os países árabes radicais. O apoio popular maciço à posição israelense na Guerra dos Seis Dias, fruto da atuação do lobby judaico, aliado à magnitude da vitória israelense no conflito, acentuou a conexão de Israel com o bloco ocidental e com os EUA.
A estratégia americana de longo prazo para o Oriente Médio objetivava o reconhecimento de Israel pelos países árabes, além da instrumentalização da Turquia e do Irã, em uma nova dinâmica de equilíbrio na região. Essa nova estrutura geopolítica arquitetada pelos EUA no Oriente Médio fez com que a aliança da URSS com os países árabes clientes assumisse um caráter meramente tático, o que, em última análise, significou o acerto da “aliança especial” com Tel Aviv naquele momento.
A derrota do Egito e da Síria na Guerra dos Seis Dias, com o consequente enfraquecimento da liderança de Gamal Abdel Nasser na região, representou o ponto culminante da “aliança especial” entre EUA e Israel, no sentido da maximização estratégica americana no Oriente Médio.
A guerra de 1973 alterou esse quadro, tendo invalidado quase todas as expectativas norte-americanas relativas ao conflito e gerado novas realidades que começaram a dificultar a identificação de interesses entre EUA e Israel. (FELDBERG, p. 173).
A própria opção dos árabes pela guerra deixou claro que a ampla superioridade militar israelense e o apoio irrestrito dos EUA já não eram os elementos diferenciais da estratégia americana para a região. Como desdobramento, a URSS sentiu-se confortável para intervir na guerra, fato que gerou uma complicada situação de escalada entre as duas superpotências. Em suma, em lugar da estabilidade, gerou-se um conflito tão ou mais explosivo do que os anteriores, com repercussões mais amplas e profundas que qualquer dos embates anteriores na região (FELDBERG, p. 175). O uso efetivo do petróleo como arma de guerra selou o quadro caótico que se desenhou.
A Guerra do Yom Kippur deixou claro para os dirigentes americanos que o objetivo estratégico de Israel era a maximização do poder, por meio da garantia de sua supremacia militar convencional e do aprimoramento de sua capacidade de dissuasão. A vulnerabilidade de Israel – o risco existencial – passou a ser o único critério importante para lastrear o apoio incondicional dos EUA e, a partir daí, os frutos estratégicos decorrentes da relação especial minguaram para Washington.
Em 1991, a Guerra do Golfo deu prova de que Israel se tornara um fardo estratégico para os EUA. Os americanos e seus aliados destinaram mais de 400 tropas para libertar o Kwait, mas eles não puderam usar as bases israelenses ou autorizar a participação das forças armadas daquele país no conflito, sob pena de prejuízo à frágil coalizão contra o Iraque.
E quando Saddam Hussein lançou mísseis scud contra Israel, na esperança de provocar uma resposta de Tel Aviv que lograsse fraturar a coalizão, Washington teve que verter recursos para proteger o Estado judeu e mantê-lo fora da zona de risco. A URSS, praticamente exaurida e à beira da dissolução, manteve-se fora do conflito e não representou, portanto, a ameaça estratégica de outrora.
Sem uma função específica para Israel no conflito em tela, o que os estrategistas americanos mais desejaram foi que o país ficasse silente, inativo e, o mais que possível, invisível. Israel não era mais um trunfo, mas uma irrelevância e alguns diriam, até uma inconveniência naquele momento.
Esse quadro de extrema dependência de Israel se arrasta até os dias atuais e prejudica a posição dos EUA no Oriente Médio. Além disso, o apoio incondicional norte-americano a Israel ajuda a incrementar o problema do terrorismo e complica também as relações dos EUA com inúmeras outras nações ao redor do mundo, impondo a Washington custos adicionais que poderiam ser evitados.
A piora da imagem dos EUA, a continuação do sofrimento em ambos os lados da contenda Israel versus Palestina e uma crescente radicalização entre os palestinos constituem também efeitos, ou melhor, prejuízos da manutenção da diretiva da “aliança especial”. Mesmo as relações com a Síria poderiam ter trilhado um caminho alternativo se os EUA não atendessem de forma incondicional aos interesses de Israel. Uma eventual cooperação em limitadas, porém úteis maneiras, teria ensejado uma oportunidade para a celebração de um tratado de paz entre Israel e Síria, o que, em última análise, poderia ter evitado o crescimento do Hezbollah no Líbano.
A relação entre EUA e Irã é outro ponto fortemente afetado pelo intransigente apoio a Tel Aviv. Teerã tem feito diversas tentativas nos últimos anos para melhorar as relações com Washington e resolver diferenças pendentes, mas Israel e seus apoiadores americanos têm conseguido solapar qualquer deténte entre os dois países, mantendo assim o afastamento que perdura desde a revolução de 1979.
Em 1982 os estrategistas israelenses planificaram a operação militar “Paz para a Galileia”, encetada com o objetivo de expulsar as bases da OLP que operavam no sul do Líbano. A operação que supostamente duraria 48 horas se estendeu até o ano 2000, com o envolvimento direto das forças armadas israelenses na guerra civil libanesa.
O conflito gerou uma reação da opinião pública que levou à queda do governo e ao estabelecimento de uma comissão de inquérito, em razão das informações incorretas que estavam sendo utilizadas pelo governo israelense para legitimar a invasão. EUA e URSS se envolveram no conflito, fato que acabou por agravar a situação da segurança regional e que demandou de Washington o aporte de tropas e armamentos para a região.
Além da alteração da dinâmica geopolítica do Oriente Médio, a inclusão de um novo ator não-estatal no cenário estratégico – o Hezbollah – levaria a mais uma invasão de Israel ao Líbano e, consequentemente, a mais um formidável desgaste dos EUA. No verão de 2006 praticamente todos os países no mundo – exceto os EUA – criticaram duramente a campanha que matou mais de 1.000 libaneses, a maioria deles civis.
Na contramão, Washington ajudou Israel a levar a guerra a cabo, com proeminentes membros de ambos os partidos políticos defendendo abertamente a atuação de Tel Aviv. Esse inequívoco apoio a Israel erodiu o governo pró-americano em Beirute, fortaleceu o Hezbollah e deixou Irã e Síria e o próprio Hezbollah mais próximos (MEARSHEIMER e WALT).

Esse complexo jogo de forças no Oriente Médio trouxe como resultado a redistribuição das capacidades de poder dos atores locais, a reinserção da Rússia no tabuleiro geopolítico da região e a estreia da China como ator de peso na dinâmica desse polo regional.
A ausência de uma política ocidental clara para o Oriente Médio, e em particular, os impasses de Washington na região, gerados em grande parte pelas posições engessadas decorrentes do alinhamento incondicional com Israel, permitiram que Moscou e Pequim formassem um eixo tático alternativo com Teerã.
A guerra civil na Síria foi a oportunidade enxergada por Moscou para delinear a sua reinserção no Oriente Médio. A animosidade entre Israel e Síria, seguida e chancelada pelos EUA, impediu diálogos construtivos com o regime Bashar al-Assad; após a tentativa frustrada do apoio francês, Damasco dirigiu o olhar para Moscou, que ainda se mostrava reticente em razão do silêncio do governo em relação aos terroristas fundamentalistas chechenos que se refugiaram no território sírio.
Vencida a hesitação inicial, Moscou colocou em prática o seu plano de projeção de poder no Oriente Médio, em troca do apoio militar ao governo de Bashar al-Assad no decurso da guerra civil síria. Reinserida na região, a Rússia expurgou o passado de vitórias estratégicas avassaladoras dos EUA, as quais resultaram na expulsão de incontáveis conselheiros soviéticos do Egito em 1972, na retração tática nos demais países satélites e na própria obliteração de sua influência no Oriente Médio.
Essa reversão de opostos conseguida pela Rússia no teatro da guerra civil da Síria permitiu a Moscou fortalecer os laços estratégicos com o Irã, especialmente no campo militar, com a troca de tecnologias bélicas, prática acentuada pelas necessidades decorrentes do conflito que se desenrola na Ucrânia.
A crescente convergência entre Moscou e Teerã, cujo regime teocrático é hostilizado no Ocidente, não descaracterizou a tradicional posição equilibrada da política externa russa para o Oriente Médio, na medida em que o governo Putin conserva a estabilidade nas relações com Israel. Ao contrário do verificado com os EUA, que seguem instrumentalizados pelo poderoso lobby judaico nos assuntos relativos a Tel Aviv, a Rússia obtém lucros estratégicos da relevante massa de judeus que saiu da URSS após o seu colapso.
Essa comunidade inserida no Estado judeu é um trunfo nas relações entre Moscou e Tel Aviv e certamente contribui para a continuidade da política russa de equilíbrio no Oriente Médio, o que, pari passu, enfraquece ainda mais a posição norte-americana na região.
Ao lado da Rússia, a China, de forma inédita, também procura projetar a sua influência no Oriente Médio, por meio de pesados investimentos na Nova Rota da Seda, um projeto que ambiciona fazer a ligação entre a Ásia e a Europa por meio do Irã, da Arábia Saudita e da Turquia, três importantes antagonistas de Israel no Oriente Médio.
O contexto geopolítico que se impõe não é, portanto, favorável aos EUA, e a reversão desse quadro desfavorável na região passa necessariamente pela ponderação sábia e equilibrada da guerra em Gaza. Considerando que os EUA tratam Israel como um “supraestado” e que a lógica da relação entre os dois países é fundada no apoio incondicional, a tarefa não será fácil. Assim, o momento é de inflexão estratégica entre Israel e EUA, e o cenário mais previsível é que, continuando o apoio incondicional a Tel Aviv, Washington passe a desempenhar um papel coadjuvante no Oriente Médio.
Israel na perspectiva do sistema internacional: a inevitável inflexão estratégica
Vimos que Israel implementou um subsistema internacional como forma de afirmação de sua posição no mundo e que logrou êxito no alinhamento necessário ao Estado mais forte e influente que poderiam oferecer vantagens estratégicas – os EUA -, de forma a assegurar os ganhos que a sua posição periférica no sistema internacional dificilmente permitiria.
Essa atração dos EUA para as esferas de influência de Israel trouxe consideráveis prejuízos estratégicos para aquele país, baseados fundamentalmente no congelamento da sua estratégia setorial, mas isso já foi exaustivamente delineado. O que devemos ter em conta agora são justamente os efeitos que foram experimentados por Tel Aviv, decorrentes da sua diretriz subsistêmica e da sua estratégia de adesão à superpotência.
Em geral, a premissa básica de um Estado consiste em manter a sua posição no sistema internacional; o objetivo de maximizar o seu poder é, em regra, relegado ao segundo plano das diretrizes e tanto isso é verdade que a regra de organização das nações é a balança de poder e não o bandwagoning – a polarização em torno do Estado mais forte (WALTZ, p. 126). A própria volatilidade do sistema internacional é de tal monta que os Estados raramente poderiam dar-se ao luxo de objetivar a maximização de poder.
Israel ignorou o seu caráter periférico e preferiu investir no elemento poder como objetivo último e não como ferramenta estratégica, implementando a sua política de expansão de territórios à custa dos palestinos, dos libaneses e dos egípcios.
A sólida estratégia que foi tecida por Israel em relação aos EUA permitiu a reposição do apoio que fora dado anteriormente pela URSS e pela França. Tel Aviv logrou êxito na afirmação dos elementos de pressão que dirigia em desfavor de Washington, conseguindo com isso um surpreendente protagonismo estratégico no Oriente Médio, quando encabeçou na região o eixo pró-Ocidente formado em conjunto com a Turquia, o Egito e o Irã.

A política americana na região, chancelada pelos tratados de paz entre Egito e Israel – os Acordos de Camp David – celebrados entre Anwar Sadat e Menachem Begin, significou o êxito do equilíbrio de poder encetado por Washington em relação ao Oriente Médio. Esse êxito seria confirmado anos depois, em 1994, com as iniciativas de paz entre os palestinos e israelenses, levadas a cabo por Yasser Arafat e Shimon Peres, com a assinatura dos Acordos de Oslo, em 1993.
A estratégia de maximização de poder não permitiria, contudo, o êxito dessa tentativa de enquadramento westfaliano à geometria de poder na região. Tanto Anwar Sadat quanto Shimon Peres, paladinos da geometria do Estado moderno e do equilíbrio de poder no cenário geopolítico do Oriente Médio, foram assassinados em decorrência da ação direta de setores sociais engessados que se recusaram a aceitar a inevitável inflexão estratégica que se descortinava na região.
A incolumidade territorial e o lugar no sistema internacional bipolar ao lado do bloco ocidental representam o ponto culminante da estratégia subsistêmica de Israel. Manobras de equilíbrio de poder, implementadas mediante o aperfeiçoamento daquele eixo pró-Ocidente que Israel formou em conjunto com outros países da região teriam bastado para garantir a sobrevivência de Tel Aviv.
Mas, em sendo uma potência regional intransigente, Israel preferiu investir na maximização do seu poder, por meio da utilização ostensiva de instrumentos dissuasórios – a inegável superioridade militar e a não declarada capacidade nuclear. Em particular, as ações militares israelenses contra os palestinos e o Líbano, na busca por mais territórios, representaram o ápice dessa estratégia de maximização de poder, sempre endossada pelo seu aliado incondicional – os EUA.
Mas esse apoio, cada vez mais difícil de ser justificado, na medida em que evolui o quadro geopolítico do Oriente Médio, encontra respaldo apenas no risco à existência de Israel e na ameaça do terrorismo internacional, um paradigma de segurança que, mesmo renovado com o recente ataque do Hamas, encontra também certa dificuldade na legitimação da retaliação de Tel Aviv em Gaza. E embora Washington mantenha o seu tradicional apoio a Israel, nos bastidores há muitas reticências.

O lobby judaico continua fazendo o possível para destilar a sua força na sociedade e no governo dos EUA, na tentativa de manter a profunda parceria estratégica com Israel, focada no confronto de ameaças que acredita serem comuns a ambas as nações. Ainda assim, Tel Aviv tem experimentado uma gradativa dificuldade na manutenção da estratégia de maximização de poder, refletida não só no sobrepeso que representa para os EUA, mas também nos crescentes desafios enfrentados domesticamente, no contexto sócio-político.
A guerra contra o Hamas vem enfrentando forte oposição de setores importantes da sociedade israelense e a recente fricção havida entre a Suprema Corte de Israel e o Knesset demonstra um abalo no equilíbrio entre institucionalidade e expectativa popular. Mesmo dentro do governo de Benjamin Netanyahu, o dissenso assomou: recentemente o general Benny Gantz, declarando-se insatisfeito com os rumos da campanha militar em Gaza e na fronteira libanesa, deixou o governo da União Israelita após liderar a guerra.
O próprio tecido social israelense vem se esgarçando gradativamente; embora majoritariamente judaica, a sociedade do Estado hebreu aprofunda divisões em grupos que vivem juntos no pequeno país, falam a mesma língua, mas que raramente interagem (MARSHALL). As diferenças entre os setores seculares e laicos também crescem na sociedade israelense; os partidos políticos religiosos estão sempre presentes nas coalizões de governo e eles frequentemente tomam posições minoritárias em assuntos-chave, dentre eles a questão da cessão de territórios aos palestinos. A solução de dois Estados é apoiada por 66% da população israelense (MARSHALL), mas encontra resistência na oposição dos partidos políticos que sustentam a solução do Estado único, não necessariamente afinada com a melhor estratégia para o país.
Há, em suma, um inegável esgotamento da grande estratégia israelense, que reflete externamente no risco da própria subsistência do apoio incondicional dos EUA, e internamente, nos desafios que vêm progressivamente se opondo à estrutura sócio-governamental israelense e na própria redistribuição de capacidades e poderes dentro do Oriente Médio.
Conclusões
A estratégia vital de Tel Aviv é puramente existencial, dado o próprio desenho territorial imposto pelo conflito perene com os palestinos, além da ameaça recorrente dos países árabes vizinhos, sem contar o próprio histórico do holocausto infligido em desfavor do povo judeu. A ética da sobrevivência de Israel está ligada, portanto, à necessidade estrita de permanência no planeta, fator que motiva o país a se valer dos elementos de pressão que são direcionados aos EUA.
A relação entre EUA e Israel é descompensada, mas os ganhos estratégicos para Washington se fizeram visíveis, principalmente durante o período da Guerra Fria. Contudo, o fim da era bipolar, marcado pela reconfiguração geopolítica do Oriente Médio, arrefeceu esses ganhos e agudizou como nunca o questionamento acerca da utilidade na manutenção do status da aliança especial entre os dois países.
As escolhas de Tel Aviv se enquadram na categoria de bandwagoning, o comportamento geopolítico adotado por Estados menores que optam por uma aliança estratégica com a potência dominante em razão de sua limitação material de poder. O objetivo último de Israel – a garantia de sua segurança -, resumida à estratégia existencial justificou a utilização dos elementos de pressão analisados, responsáveis pela vasta capacidade de influência exercida por Tel Aviv, e todos esses elementos foram usados em desfavor dos EUA.
Israel, Estado pequeno e periférico, mas considerado diferenciado e merecedor de apoio incondicional na ótica dos dirigentes norte-americanos, assumiu o papel de bastião do ocidentalismo e instrumentalizou o contexto bipolar da Guerra Fria em seu favor, mediante o estabelecimento de um microssistema subordinado ao sistema do bloco ocidental, porém alinhado às suas próprias diretrizes estratégicas.
A articulação de Israel com as diretrizes estratégicas dos EUA em nome da “aliança especial” tornou possível a sua forte influência política e a sua capacidade de interlocução direta com os diversos setores estatais desse país. Contudo, cedo ou tarde Israel experimentará o ponto irreversível de culminância na eficácia de sua estratégia subsistêmica, se já não o sente no atual conflito armado com o Hamas.
Referências
Advogado formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestre em estudos estratégicos da defesa e da segurança (INEST/UFF), atuante na advocacia internacional, autor de artigos e palestrante na área de relações internacionais.