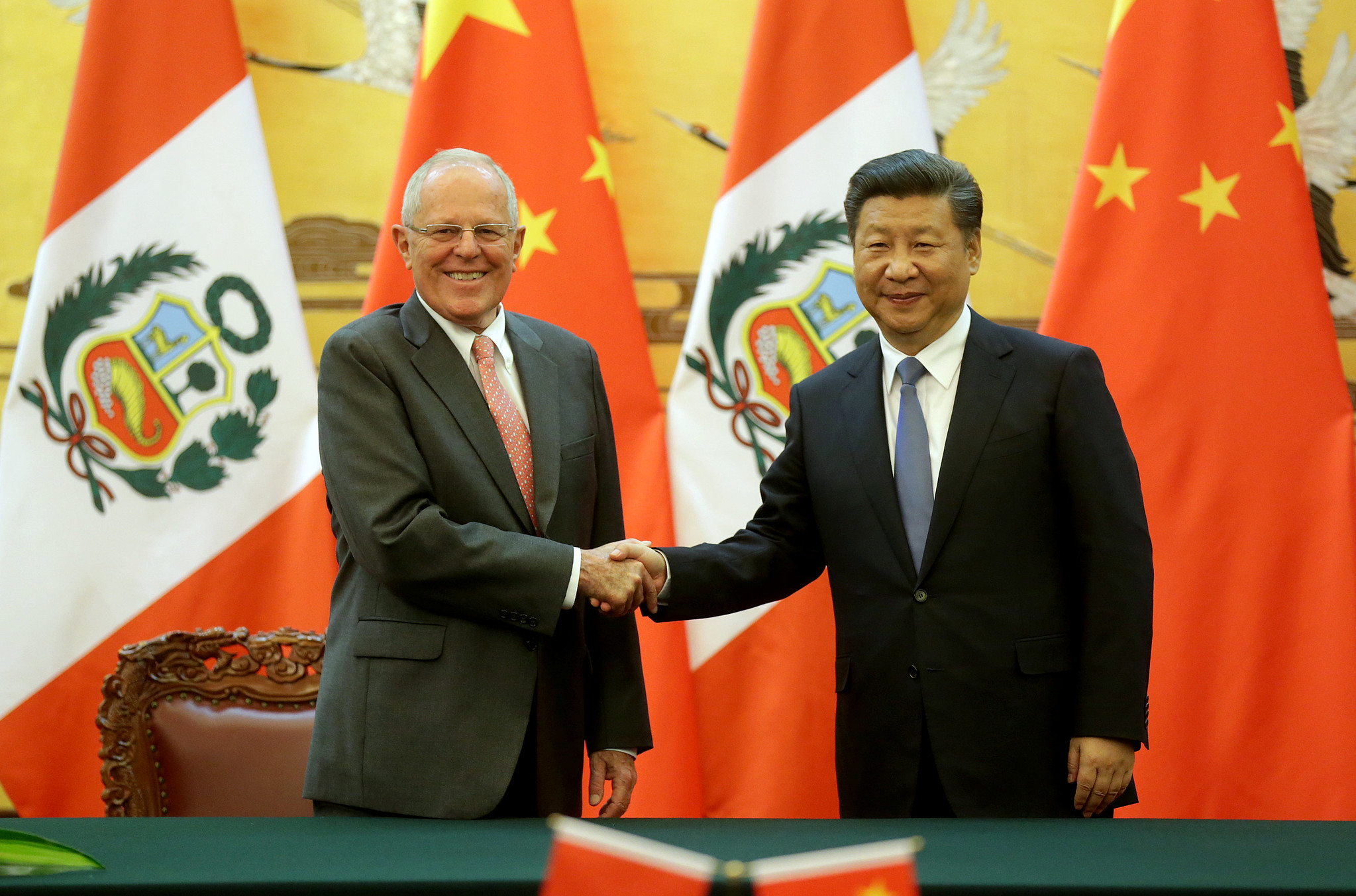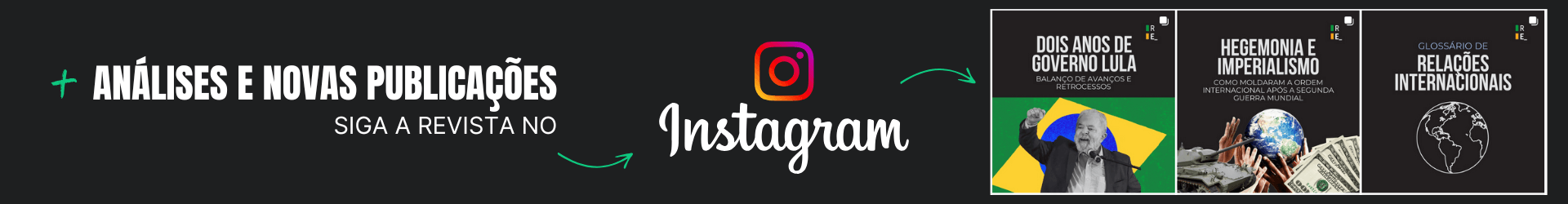Carl von Clausewitz afirma que a guerra nunca é um ato isolado e nunca se deflagra subitamente, ela não é obra de instante. Nós, que a História das Relações Internacionais não é apenas narração, mas, explicação. Entendendo que há nuances na estruturação da história da Guerra Fria que abarcam diferentes métodos, interpretações e relações de poder, fazendo uma “expedição” que busca encontrar uma explicação ou abordagem histórica única que possa abarcar todos os conjuntos de fatores que influenciaram na acentuação dos atritos bipolares entre Estados Unidos e União Soviética. Fazemos aqui uma análise das quatro grandes abordagens historiográficas das origens da Guerra Fria, que são a ortodoxia, o revisionismo, o pós-revisionismo e o corporativismo.
UMA INTRODUÇÃO ÀS QUATRO ABORDAGENS
Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, não ficaram marcados apenas pela tragédia humana que levaria o Japão à sua capitulação e ao encerramento do último grande front da II Guerra Mundial. Com isso, Little Boy e Fat Man, as ogivas que foram lançadas sobre aquelas cidades, simbolizaram também os últimos momentos de um império nipônico ensaísta de uma hegemonia na Ásia e concorrente à disputa global por poder. Mais além, os suspiros de uma agonia europeia, mundializando a guerra em dois flancos, geraram dois grandes pontos de querelas: proporcionou-se à União Soviética a possibilidade de estender-se sobre um dos limites da frente ocidental em relevante dimensão territorial; e gerou um vácuo de poder marcado pela bancarrota ao poder britânico e a emergência americana – e seu novo conceito de superpotência.
Para iniciar nosso trabalho, faremos uma pequena contextualização do momento histórico que concerne ao imediato pós-II Guerra; após isso, passaremos por uma recapitulação das quatro abordagens históricas que avaliaremos; e, finalmente, analisaremos uma a uma num segundo momento, cruzando-as, quando possível, com as teorias das Relações Internacionais, seguido de uma conclusão.
Dado isso, Alexis de Tocqueville já afirmava em seus cânones, ainda em 1835, que havia no mundo duas grandes nações no mundo, as quais historiadores chamariam de “dois gigantes”, esses dois gigantes, para Tocqueville, pareciam ser clamados por alguma Providência a ter em suas mãos o destino do mundo. Tal “Providência” de Tocqueville seria trazida à luz logo após o final da II Guerra e o estabelecimento de uma ordem mundial nova.
Dessa forma, o surgimento de uma ordem internacional diferente, a qual ceifava a supremacia europeia ocidental na política internacional, foi o retrato mais visível do legado da II Guerra (SARAIVA, 2008). A queda inequívoca dessa supremacia – cuja consolidação se deu entre o século XVI e XIX, moldando um sistema mundo de acordo com as necessidades e ditames do arranjo europeu de Sociedade de Estados vestfalianos que precisavam ser legitimados– gerou uma mudança do regime internacional em que duas superpotências emergiram tanto a oriente e como a ocidente das fronteiras europeias (BRAUDEL, 1979; LITTLE, BUZAN, 2001; WATSON, 1992; WHITE, 1982). Um ciclo histórico de longa duração se esgotava e um novo surgia. (BRAUDEL, 1958, 1987). Como coloca Robert Gilpin (1981), quando há mudanças de regime que desestabilizam a ordem hegemônica, novos atores que buscam prestígio e poder ascendem e engendram conflitos, os quais podem culminar em guerras.
Além disso, porque Estados e outros atores procuram antecipar e reagir a comportamentos de outros, a causalidade e suas cadeias encontram dificuldades em serem estabelecidas e expectativas podem ter um papel importante como parte das ações observadas em contabilidade do comportamento dos Estados; com isso, as descrições e suas inferências, comuns na abordagem histórica devem ser levadas em conta (KING, KEOHANE, VERBA, 1994). A metodologia científica política contemporânea concorda, portanto, em parte com a teoria oitocentista de guerra. Esta última formulada por Carl von Clausewitz (2010, p.9-14), quem afirma que a guerra nunca é um ato isolado. O que ela é hoje ensina-nos sobre o amanhã e, então, conclui-se que “a guerra nunca se deflagra subitamente, ela não é obra de instante”. Dessa forma, “cada um dos adversários pode formar uma opinião do outro”, porque “se a guerra é um ato de violência, também a sensibilidade faz parte dela”.
Assim, tendo a Guerra Fria jamais levado os dois gigantes adversários a um conflito direto, as expectativas se sobrepujam às ações reais. E coube à História mostrar como foram montadas essas expectativas e como foram interpretadas algumas das ações reais através de inferências descritivas que puderam ser avaliadas como causais dessa guerra por diversas escolas historiográficas.
Mas, qual seria então a justificativa de reavaliar mais uma vez essa temática? Para René Girault (1998), ser um historiador de relações internacionais não é apenas escrever história das relações internacionais ou desenvolver investigações nessa área. É também refletir constantemente sobre a validade do que é a própria disciplina; seguindo uma linha de prestígio de Pierre Renouvin e Jean-Baptiste Duroselle. Existe um “método Girault”; um método que, relembrando e ampliando aquele de Renouvin, tende a escrever uma história abrangente das relações internacionais, com um horizonte mais amplo do que a história diplomática tradicional. Por escrupulosamente analisar as ligações entre o econômico e o político, medindo o peso das representações e imaginário social, através da remoção de mecanismos de tomada de decisão, René Girault dá luz muito original em questões fundamentais: “imperialismo”, o “poder” e o significado do lugar de certas sociedades no mundo. Eis uma das razões do resgate da Nova História e da teoria realista-crítica do supracitado entendimento sistêmico e de longa duração, de Braudel, e de regimes, de Gilpin.
Portanto, se a revolução epistemológica da historiografia havia mostrado o quão curta estava a visão história diplomática, a disciplina evoluiria ao entender que seria preciso não somente valorizar as relações dos “homens do Estado” com a sociedade e suas “forças profundas”, mas também entender as dinâmicas internacionais de fatores econômicos, geoestratégicos, culturais e da chamada “mentalidade coletiva”, tanto dentro como fora dos governos (ROCHA, 2013). Assim, em um momento quando várias escolas historiográficas lançam reflexões sobre o estado da arte da história das relações internacionais, fazendo referência àquela contribuição francesa, Frank (2012) aponta para a necessidade de os herdeiros de Renouvin refletirem sobre o estado das pesquisas históricas, para não ficarem pelo caminho, de “cultivarem seu próprio jardim”, é esse caminho que nos propomos a seguir aqui.
Os escritos “históricos” do pensador francês Michel Foucault têm sido uma influência seminal no desenvolvimento da historiografia crítica à história diplomática (GWINN, 2009), na mesma seara do que propõe Robert Frank (2012). Sua preocupação central era explicar os processos integrados de “poder/conhecimento” que funcionam para controlar e sociedades modernas e sua historiografia, ou o que ele chamou de um “regime de verdade”.
Compreender essa problemática de Foucault é instrutivo, pois nos permite conceber a historiografia não simplesmente como um discurso sobre eventos do passado, mas como um discurso que produz e legitima o conhecimento no presente, que apoia, embora obliquamente, articulações de ideologia e interesses políticos. Isso porque se percebe que a história da Guerra Fria não é fácil de ser contada (DEIGHTON, 1996).
Retomamos assim, como foram as tentativas historiográficas de contar e recontar a Guerra Fria. Primeiro, houve a abordagem tradicionalista ou tese ortodoxa, que formou a interpretação padrão entre as décadas de 1940 e 1960. Cedo, historiadores ortodoxos, como George Kennan (1946; 1947), Thomas Bailey (1950) e Zibgnew Brzezinski (1986) argumentaram que a Guerra Fria começou por causa da decisão da União Soviética em embarcar em uma deliberada política expansionista na Europa Oriental e em outras regiões do globo na borda de sua fronteira e, nessa visão, os Estados Unidos estariam apenas se defendendo.
O tema central, em grande parte, dessa historiografia tradicionalista foi ideológico: os Estados Unidos, confrontados por um inimigo implacavelmente hostil, para o qual nenhuma conciliação ocidental seria capaz de satisfazer suas ambições globais, saíram em defesa da liberdade e da democracia, para “salvar o mundo da propagação do regime comunista” (GWINN, 2009:30, tradução própria).
A última metade dos anos 1960 testemunhou o surgimento de um rival àquela ortodoxia: o revisionismo. Onde os tradicionalistas interpretam ações soviéticas como partes de um plano geral para a “dominação global”, os revisionistas veem temores quanto à segurança nacional soviética como o centro da política moscovita. Revertendo a ortodoxia, os revisionistas concluem que os Estados Unidos foram os principais responsáveis pelo início da Guerra Fria.
O revisionismo historiográfico da Guerra Fria foi combinado com os escritos de William Appleman Williams (1959) e seus seguidores sobre o Open Door Empire, o trabalho de Gar Alperovitz (1966), na diplomacia atômica, e o levantamento de Gabriel Kolko (1972) do sistema capitalista e as relações exteriores americanas. Eles faziam parte de um ressurgimento historiográfico da esquerda nos Estados Unidos que foi associado com o movimento da New Left; embora, ressalte-se, a relação entre esses historiadores críticos e os políticos radicais fosse ambígua (GWINN, 2009).
Nesse sentido, Peter Novick (1988) observa que o que fez a controvérsia tão altamente carregada foram as questões implícitas levantadas pelos revisionistas, questões as quais tinham a ver com nada menos do que autoridade moral dos Estados Unidos no mundo. Ao cobrar dos Estados Unidos a responsabilidade pela Guerra Fria, focando nas ambições expansionistas de Washington e rejeitando depravação soviética como a principal causa do conflito, os revisionistas “subverteram” não só as distinções morais claras de que havia sancionado a política dos Estados Unidos, mas o próprio sentido do “American” em si. O debate revisionista da Guerra Fria “não era apenas sobre o que deveríamos fazer, mas sobre quem éramos” (GWINN, 2009, p.30, tradução própria). Nesse sentido, é importante frisar que o estudo da historiografia da Guerra Fria é, em si, muito um estudo da historiografia americana (GWINN, 1999).
A partir de meados dos anos 1970, com a intensidade da controvérsia dissipada, abriu-se o caminho para outra reconsideração das origens da Guerra Fria. A nova síntese foi nomeada pós-revisionismo. Afirmou-se ter superado as deficiências da ortodoxia e da literatura revisionista e evitou-se a ênfase em discussões não acadêmicas em culpabilidade. Assim, um dos temas caros ao pós-revisionismo foi a geopolítica; tema, não obstante, abordado por John Lewis Gaddis (1983, 1992; 2005), René Rémond (1983) e Anne Deighton (1996) numa demonstração de distanciamento da história diplomática e aceite de alguns dos novos paradigmas da Nova História. Assim, a ênfase nas dimensões estratégicas de formulação de políticas, os medos, as percepções de ameaça e a definição de interesses vitais de segurança dos Estados Unidos tornou-se a marca registrada da academia pós-revisionista. A ameaça aos interesses e instituições ocidentais seria real (GWINN, 2009).
No entanto, já no final dos anos 1980, a divisão da historiografia da Guerra Fria em tradicionalismo, revisionismo, e pós-revisionismo, já não era sustentável. A chegada de novas abordagens conceituais, como “corporativismo”, “sistemas-mundo”, e mais tarde a “cultura” ofuscou as linhas de separação entre escolas historiográficas. Mas, foi, sobretudo, o corporativismo que tomou a linha de frente na História. Esse termo foi utilizado para descrever a estrutura capitalista estadunidense, largamente embasado nas relações entre grupos de interesse e sociais que influenciaram as relações dos Estados Unidos com a União Soviética. Dos dois lados haveria, pois, uma preparação para um possível enfrentamento armado, sendo muito uma questão de ação e reação e não de culpabilidade. Essa foi uma importante abordagem trazida por Fred Halliday (1994) e René Girault, Robert Frank e Jacques Thobie (1993) e por Saraiva (2008).
Depois, com o colapso da Cortina de Ferro e da União Soviética, o estudo da Guerra Fria, tornou-se tanto mais fácil como mais difícil. É mais fácil porque a Guerra Fria pode agora ser estudada como um período da história que não está envolvido com decisões políticas futuras. Porém, conforme os medos da Guerra Fria morrem, outros quadros para análise e novas preocupações surgem. Assim, a difusão de novas perspectivas foi acelerada pelo fim da própria Guerra Fria e a posterior liberação dos materiais de arquivo no antigo bloco comunista na década de 1990 (DEIGHTON, 1996).
Como analisar a transição da II Guerra para a Guerra Fria tem sido uma grande preocupação para ambos historiadores e internacionalistas. Os problemas de quando e onde começou a Guerra Fria; se era inevitável; e por que os Estados se comportavam como fizeram, permanecem tão importantes como anteriormente. Do mesmo modo, aquela nova história da Guerra Fria, nos anos 1980, era proclamada (GWINN, 2009). No entanto, essa história nova não constitui ainda uma escola interpretativa, porque isso significaria o estudo da história da Guerra Fria verdadeiramente em âmbito de relações internacionais e verdadeiramente multifacetada em sua abordagem para explicação (GWINN, 2009). Por isso, não iremos avaliá-la aqui de forma independente do pós-revisionismo, e sim como um de seus desdobramentos, como uma resposta às três abordagens anteriores.
POWER POLITICS DAS QUATRO ABORDAGENS HISTÓRICAS
Nesta seção, faremos uma explicação das quatro abordagens historiográficas sobre o início da Guerra Fria para que possamos entendê-las e, posteriormente, avaliá-las e seguir para a conclusão. Faremos na ordem cronológica conforme apresentado na introdução deste trabalho, tendo, assim: a ortodoxia, o revisionismo, o pós-revisionismo e o corporativismo.
A ORTODOXIA
A ortodoxia tira sua autoridade de História a partir da crença na realidade do passado e sua recuperação objetiva, através dos protocolos de evidência empírica, dissolvendo a ligação entre o passado e o presente, dando à História a aparência de ter acesso privilegiado à verdade. Os historiadores pós-modernistas afirmam, da mesma forma que Robert Berkhofer (1995), que a “ideologia do realismo”, na qual historiadores afirmam o seu poder sobre os seus leitores em nome da realidade é uma legitimação das ações do Estado vestfaliano.
Os Estados Unidos herdariam, então, essa concepção “realista” através de autores como George Kennan e Thomas Bailey, os quais tratavam muito do policy-making como um acesso privilegiado à verdade, legitimando-se a partir do discurso da política externa dos Estados Unidos. Eis porque resgatamos Foucault e o porquê do power politics nesta segunda seção: a proximidade do poder dava à ortodoxia americana contornos que as teorias das Relações Internacionais, sobretudo a neorrealista, trataria como realismo político defensivo das grandes potências (MEARSHEIMER, 2001).
É justamente isso que vemos na abordagem ortodoxa. Tal caminho historiográfico começou a ser trilhado ainda em 1946 e 1947 com The Long Telegram e em Sources of Soviet Conduct, escritos pelo embaixador estadunidense em Moscou, George Kennan. Tal telegrama começa com a afirmação de que a União Soviética não previa uma “coexistência pacífica permanente” com o Ocidente. Moscou possuía uma “visão neurótica dos assuntos do mundo” sendo uma manifestação da “sensibilidade instintiva russa de insegurança.” Como resultado, os soviéticos eram profundamente desconfiados de todas as outras nações e acreditavam que sua segurança só poderia ser encontrada em “longo, mas em um embate mortal para destruição total da potência rival.” Kennan estava convencido de que os soviéticos iriam tentar expandir sua esfera de influência, e ele apontou o Irã e a Turquia como os buffer states[1] mais suscetíveis de cair sob o domínio moscovita. Não somente isso, Kennan acreditava que os soviéticos fariam todo o possível para “enfraquecer o poder e a influência das potências ocidentais sobre povos atrasados, ou dependentes coloniais.” Por isso, os “Os Estados Unidos e seus aliados”, concluiu ele, “deveriam que oferecer essa resistência” aos soviéticos.
Thomas Bailey em seu A Diplomatic History of the American People (1950, p.856) não fica muito distante de Kennan e abre seu capítulo sobre a rixa Leste-Oeste com a seguinte frase de Winston Churchill, proferida em Boston, em 1949: “We may well ask, ‘Why have they (the Soviets) deliberately acted for three long years so as to unite the free world against them?” e logo após isso (1950, p.857-8, tradução nossa) Bailey conclui que “a luta sombria entre a Rússia Soviética e as democracias ocidentais trouxe de maneira crua a tentativa repetida, mas fútil de pacificação” e que “os apologistas da URSS insistiram que os soviéticos viraram suas costas à América porque a América virou as suas antes; e que, se Franklin D. Roosevelt não tivesse chegado a um fim prematuro, ele poderia ter sido hábil a cooperar com o Kremlin”.
Contudo, deve-se ter em mente que os apologistas aos quais Bailey se refere serão os revisionistas da próxima subseção e que a morte prematura de Roosevelt é tida como ponto de clivagem ou até mesmo catalisador da refrega Leste-Oeste, pois logo depois dele viria Henry Truman, idealizador da política de contensão e início do primeiro momento da Guerra Fria “quente” (GIRAULT, FRANK, THOBIE, 1993).
Em seguida, devemos destacar o trabalho de Zbigniew Brzezinski (1986, p.18), polaco-americano e membro do Partido Democrata Americano e do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Ele vai ainda mais longe ao afirmar que: “é, portanto, um mito que, em Yalta, o Ocidente tenha aceitado a divisão da Europa Oriental”. Para Brzezinski a verdade é que a Europa do Leste já teria sido concedida, de fato, para Stalin por Roosevelt e Churchill na Conferência de Teerã, de 1943, e em Yalta os líderes da Inglaterra e dos Estados Unidos teriam tentado apenas rever, embora timidamente, essa concessão.
Assim, segundo esse autor (1986, p.18-20) “os homens de Estado ocidentais não conseguiram enfrentar com destemor a rudeza do emergente poderio soviético no pós-guerra e, no choque decorrente entre o poder stalinista e a ingenuidade ocidental, aquele poder prevaleceu” e, com isso, a “colisão soviético-americana teria sido um choque para a maioria dos americanos” que estariam apenas a “tentar estabelecer acordos que buscassem o mínimo de liberdade aos povos da Europa Oriental” e, assim, tem-se que, mesmo quando os Estados Unidos só vissem a União Soviética “como uma ameaça à segurança de seus aliados, uma ameaça que deveria ser tratada com uma política cuidadosamente dosada de contenção militar”. Ou seja, os Estados Unidos, seja por uma perspectiva histórica, seja por uma abordagem de teoria das Relações Internacionais, nesse caso específico, convergentes, estariam apenas se defendendo a partir de suas previsões e expectativas das ações soviéticas.
Finalmente, Brzezinski (1986) retoma o que colocamos em nossa introdução sobre a previsão de Tocqueville: com cada um dos dois gigantes possuindo, derradeiramente, o poder de decidir os destinos do globo. Mas, sendo Washington, nisso tudo uma “vítima” do sistema estabelecido por Moscou. Assim, da mesma forma que Arhtur Schlesinger, (1967), professor em Harvard, e Herbert Feis (1957), Conselheiro do Departamento de Estado, concluímos esta subseção, que os Estados Unidos eram vistos, nessa abordagem, como a parte passiva e defensiva aos problemas do imediato pós-II Guerra, tendo poucos objetivos específicos que não fossem o de encorajar uma ordem internacional baseada na liberdade, autodeterminação dos povos e a adesão ao Estado de Direito e como esta abordagem é influenciada por um discurso oficialista, tendo alguns de seus principais historiadores ligados à história diplomática oficial dos Estados Unidos.
O REVISIONISMO
Aquela abordagem oficialista da história da origem da Guerra Fria, a qual acabamos de tratar, seria bastante criticada, não necessariamente apenas por apologistas da União Soviética, como descreveria Bailey (1950), mas por todo um conjunto de historiadores quem estavam em desacordo com o consenso reinante até então. Esse grupo de historiadores é chamado de revisionista e eles destacam as determinações da economia doméstica e a influência da ideologia na formulação da política externa americana.
Assim, esses revisionistas contestam a perspectiva tradicionalista estadunidense e mostram más interpretações da conduta doméstica e do entendimento das metas internacionais soviéticas. Esses historiadores entendem que Moscou não pode ser responsabilizada pelo início dos conflitos; pois, enquanto os Estados Unidos estavam em pleno vigor demográfico e econômico no pós-II Guerra, a União Soviética amargava uma considerável perda de vida humana e se via em uma situação econômica totalmente desfavorável.
Retomando o que foi colocado na introdução deste estudo, o debate revisionista da Guerra Fria para os americanos “não era apenas sobre o que deveríamos fazer, mas sobre quem éramos” (GWINN, 2009, p.44, tradução própria). Os autores revisionistas defendem, consequentemente, a tese de que a ação soviética era defensiva e apenas respondia aos posicionamentos agressivos adotados pela diplomacia norte-americana. Alguns dos estudiosos dessa vertente são, como já introduzidos, William Williams, Gabriel Kolko e Gar Alperovitz.
Assim, embora a década de 1950 tenha sido vista como um período especialmente desfavorável para a esquerda radical nos Estados Unidos, sobretudo devido ao novo Red Scare e ao McCarthysmo, o prenúncio de um neorradicalismo já era visível no final daquela década. Dois dos antecedentes intelectuais mais influentes para estudiosos da New Left foram o sociólogo C. Wright Mills e historiador William Williams. Não obstante as diferenças de disciplina e de pesquisa, ambos formaram uma perspectiva crítica em relação ao poder e da cultura, a qual lhes permitiu analisar as estruturas internas da sociedade americana a partir do exterior, escapando do poder dado à história diplomática e seu cunho de dominação foucaultniano (GWINN, 2009).
Esse sociólogo, quem muito embora não seja nossa meta de análise, trabalha um ponto importante que, para nós, merece destaque. Mills (1959) critica as metodologias científicas que sustentam um status quo dominante nas ciências sociais nas quais o positivismo e a “ideologia da realidade” traçavam o caminho da História. Apenas a título de comparação, nas Relações Internacionais ainda se buscava consolidar a abordagem histórica versus a abordagem científica, tão caro ao segundo grande debate do campo internacionalista. Em termos kuhnianos, mostra-se a força que a ortodoxia histórica teve ao influenciar o realismo político, ao tentar torná-lo incomensurável com outros paradigmas tanto das Relações Internacionais quanto da História para que se mantivesse o seu estado dominante nos campos de estudo ao ponto de chamar os revisionistas, como põe Bailey, de “apologistas à URSS”.
De maneira similar, Williams (1959; 1961) coloca em The Tragedy of American Diplomacy e The Contours of the American History sua Weltanschauung[2] dos Estados Unidos, destrinchando a essência de como as elites americanas e partes de sua sociedade entendiam sua relação com o mundo (GWINN, 1999). Assim, Williams se torna uma das principais referências para os críticos da história tradicionalista e diplomática americana. Para esse autor (1959) a política exterior americana não pode ser compreendida sem se considerar o processo de expansão territorial, comercial e cultural dos Estados Unidos no período em questão.
Isso é visto como um desafio à sabedoria convencional sobre o desenvolvimento americano até a preeminência mundial em cada turno; negando que a expansão imperial da virada do século XIX ao XX era uma aberração, implodindo o “mito” do isolacionismo daa décadas de 1920 e 1930 e reconfigurando a Segunda Guerra Mundial como “a guerra para a fronteira americana”. Williams viu um fio imperial contínuo para a política externa americana, que sido tinha derivado da filosofia do Open Door Policy, que girava em torno do: para o bem-estar da democracia e da prosperidade dos Estados Unidos era necessário a expansão econômica no exterior e acesso aos mercados estrangeiros (GWINN, 1999).
Logo, isso se bate frontalmente com a visão de Brzezinski do “Ocidente ingênuo” em busca de “mínimo de liberdade aos povos da Europa Oriental”. Os Estados Unidos, nessa visão, novamente em um paradoxo com as teorias de Relações Internacionais, aparentemente demonstra como a historiografia influenciou aquelas teorias. Isso pode levar à reflexão da abordagem crítica de Robert Cox (1996), quem afirma que toda teoria é feita para alguém com algum propósito, muito do que é visto no Open Door e no entendimento dos ortodoxos e sua manutenção do status quo como historiografia reinante no meio diplomático-acadêmico.
Assim, intervindo sobremaneira nos mercados internos de outras nações, objetivando controlar fontes de matérias primas e mercados consumidores, ao final da II Guerra, os Estados Unidos teriam, sob Truman, consolidado uma ação expansionista sob a máscara de um discurso diplomático. Sobre isso, Edward Carr (2001), grande estudioso da Escola Inglesa, afirma que os anglo-saxões são os mais recorrentes nesse tipo de discurso cuja prática real é hipocritamente descolada do discurso oficial.
Além dessa cristalização da Guerra Fria através da Open Door, Gar Alpervitz (1969) em seu Atomic Diplomacy afirma mais além e tem em sua tese a hipótese de que os Estados Unidos teriam lançado Little Boy e Fat Man sobre o Japão na tentativa maior de impressionar os soviéticos. Essa hipótese é bastante controversa, mas, na seara do revisionismo e da New Left, torna-se de certa forma aceitável, quando se toma o neorrealismo ofensivo de John J. Mearsheimer (2001), quem trabalha os Estados não como mantenedores de um status quo, como defendido pelos ortodoxos na posição passiva de Washington, mas vê os Estados como maximizadores ativos do staus quo, capazes de fazer esse tipo de cálculo de poder relativo para atingir os seus objetivos; coadunando, portanto, com a abordagem do Open Door.
Finalmente, temos Gabriel Kolko que, ao lado de Williams, desempenhou um papel fundamental na divulgação argumentos revisionistas. Em The Limits of Power (1972), Kolko argumentou que o objetivo final dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial era o de sustentar e reformar o capitalismo mundial. A própria noção de uma Guerra Fria para Kolko, era o de meramente ofuscar o verdadeiro objetivo da política dos Estados Unidos, a maximização de seu poder, concordando, portanto, ao mesmo tempo com Mearsheimer e Carr. Assim, essa abordagem, tão revolucionária quanto complexa levou a uma resposta que será vista a seguir.
O PÓS-REVISIONISMO E O CORPORATIVISMO
Finalmente, a resposta às duas escolas em conjunto veio com os historiadores pós-revisionistas. Essa abordagem está fortemente ligada ao historiador John Lewis Gaddis (1983; 1992; 2005), quem defende a ideia de que com o começo da desagregação do mundo soviético, havia a possibilidade de se buscar um novo consenso pós-revisionista. Essa lente historiográfica tinha como objetivo um ponto focal mais neutro, deixando para trás a culpabilidade de um dos dois gigantes, presente em ambas as prévias abordagens, ou a “ideologia da verdade” ou “regime da verdade”, dominante na escola ortodoxa. De forma generalizada, os pós-revisionistas buscam análises relacionadas às decisões da elite política dirigente, o estudo da balança de poder, além das estratégias domésticas para promover a segurança nacional frente aos potenciais agressores.
Gaddis (1983, 2005) afirma que os Estados Unidos, após a II Guerra Mundial, haviam se tornado um Estado imperial, mas não inspirado pelo Open Door mercantilista, e sim pela sua resposta não isolacionista e tomada de posição como protetores do “Mundo Livre” ocidental frente ao expansionismo soviético. Dessa forma, Washington assumiria uma posição imperialista como obrigação de resposta às ações soviéticas, sobretudo, ao que Gaddis (2005) chama de “paranoias de insegurança e desconfiança de Stalin”. Não que Gaddis “culpabilize” a União Soviética pelo início da Guerra Fria, mas ele coloca o conflito como resposta automática de dois gigantes expansionistas, como um dilema de segurança, termo bastante comum às Relações Internacionais, sobretudo em períodos de bipolaridade: Moscou por insegurança e Washington por reação às ameaças que a insegurança alheia criava-lhe. Gaddis (2005) se vale muito da citação oitocentista de Tocqueville de que esses dois gigantes teriam o destino do mundo em suas mãos.
Porém, importante ressaltar, por mais que Gaddis proponha uma terceira abordagem, ele elogiou a sabedoria de funcionários norte-americanos do pós-II Guerra na restauração de um equilíbrio de poder global e prevenir a possibilidade de dominação da Eurásia (GADDIS, 1983). Assim, sem invalidar o pós-revisionismo, Gaddis se aproxima mais da ortodoxia do que do revisionismo. O que pode ser evidenciado quando Gaddis dedica seu We Now Know (2005) a George Kennan, diplomata e cânone da ortodoxia historiográfica da Guerra Fria.
Dois outros importantes autores desse período são René Rémond (1983) e Anne Deighton (1996), ambos os autores trabalham as origens da Guerra Fria como não possuindo uma causa única, sendo, portanto, uma “convergência de fatores” (RÉMOND, 1983, p.143) e fatores ideológicos, de tomada de decisão e fatores geoestratégicos. Dessa forma, assim coadunando com as ideias de Clausewitz (2010), esses autores afirmam que a Guerra Fria não foi um ato isolado. Ela não se deflagrou subitamente, não sendo, pois, obra de um instante; ela foi um processo “imposto pelas circunstâncias. […] Os antagonismos tinham sido momentaneamente disfarçados pelas necessidades de luta contra o inimigo comum” na II Guerra; assim, “[e]sse rompimento não constitui surpresa ou novidade” (RÉMOND, 1983, p.143). Dessa forma, os pós-revisionistas ao mesmo tempo reatam com as “previsões” de Tocqueville e rechaçam a ideia da surpresa e da ingenuidade americana, como proposto por Bailey ou Brzezinski.
Finalmente, devemos explicitar as obras de e René Girault, Robert Frank e Jacques Thobie (1993), Fred Halliday (1994) e Saraiva (2008). Os três autores franceses, assim como o brasileiro, salientam que não há uma explicação monolítica e monista, não há uma explicação simplificada que emplaque uma teoria das realidades. Fatores distintos interferem para explicar as orientações que dão as responsabilidades políticas, econômicas, culturais, sociais nos domínios das Relações Internacionais na Guerra Fria. Há uma diferenciação dos franceses que é que eles focam muito na inserção da economia no direcionamento da história da Guerra Fria, o que os aproximam muito de Halliday.
Entretanto, as explicações de Girault, Frank e Thobie (1993) e Saraiva (2008), se apoiam em um eixo estruturante que afirmam que a Guerra Fria se estruturou em quatro princípios essenciais: i) uma verdadeira negociação diplomática é inútil porque se vê a falta de confiança entre os “parceiros” que recusam quaisquer compromissos; ii) a salvaguarda da paz depende do que as potências façam entre si, tanto no domínio militar quanto econômico; iii) o território de cada um dos campos tem seus limites globais que não devem ser fonte de questionamentos entre as potências, os limites territoriais constituem a zona de front; e iv) a tática de manipulação do Terceiro Mundo faz parte das Relações Internacionais, pois ela faz parte das margens do front.
Outro ponto interessante dos corporativistas que os marcam em diferença aos outros historiadores é que eles dividem a Guerra Fria em várias etapas, mostrando justamente que ela é um processo, não uma cadeia causal, como buscam afirmar os revisionistas e os ortodoxos. Dessa forma, vê-se o início da Guerra Fria em fases, como uma “paz parcial”, de 1945 a 1947 e uma “Guerra Fria ‘quente’”, de 1947 a 1955 (GIRAULT, FRANK, THOBIE, 1993; HALLIDAY, 1994, SARAIVA, 2008). Assim, os três autores franceses sintetizam todo o processo com a afirmação de que “a história não é uma simples narração, ela é explicação” (GIRAULT, FRANK, THOBIE, 1993, p.3).
CONCLUSÃO
Como demonstrado acima, existiram nuances na estruturação da história da Guerra Fria que abarcam diferentes métodos, interpretações e relações de poder. Retomamos assim que a explicação histórica ou científica do início desse período da História é uma “expedição” que não encontrará uma explicação ou abordagem histórica única que possa abarcar todos os conjuntos de fatores que influenciaram na acentuação dos atritos bipolares entre Estados Unidos e União Soviética. Nenhuma das quatro abordagens aqui mostradas, seja ela ideológica, decisória, econômica, reativa, culpabilizante, cultural ou geopolítica é, sozinha, uma explicação onisciente das origens da Guerra Fria.
Dado que essa “guerra” é um processo longo e que não possui um único gatilho ou início imediato e que ninguém é capaz de visualizar toda uma ou toda a estrutura social das Relações Internacionais e da História, apenas é admissível que os pesquisadores vejam alguns pontos dessa estrutura por vez. Isso nós conseguimos visualizar nas abordagens pós-revisionistas e corporativistas, mas não na ortodoxa e na revisionista. Sobretudo, na ortodoxa. A estrutura social não permite que a “ideologia da realidade” ou “regime da verdade”, mesmo que fundamentada cientificamente, possa ser aplicada à História, porque, na nossa concepção de História, não é possível que se faça “leis” de origens de determinados processos a partir de inferências causais de alguns pontos particulares ampliáveis e generalizáveis a toda a disciplina.
Dessa forma reafirmamos a dificuldade em se estabelecer relações causais, como afirmado na introdução e, consequentemente, a necessidade de um constante “método Girault”; escrevendo uma história abrangente das Relações Internacionais mais abrangente e com um horizonte mais amplo do que a história diplomática tradicional, que usa de sua força documental para estabelecer seu poder historiográfico. Entretanto, apesar das críticas, salientamos que as quatro abordagens não são excludentes entre si e não são incompatíveis. Não pretendemos criar aqui uma guerra paradigmática kuhniana, mesmo porque ainda há muito material historiográfico e histórico a ser explorado pelo lado leste da Cortina de Ferro.
Consecutivamente, não podemos gerar uma hipótese, como as duas abordagens clássicas de qual dos dois gigantes originou a Guerra Fria? Não é possível criar uma hipótese partindo de algo que não pode ter seu processo traçado de forma completa ou minimamente satisfatória, pois se sabe que há muito a se descobrir e se sabe que a história diplomática influenciou muito do pensamento histórico sobre esse conflito.
Por essa razão, se tivermos que partir de uma abordagem para continuação do estudo da Guerra Fria, para não ficarmos “cultivando nosso próprio jardim”, como colocaria Renouvin, devemos partir do escopo mais amplo o possível e devemos lembrar que, como Girault, Frank, Thobie, a História não deve ser apenas uma simples narração, ela deve ser uma explicação. Fechamos, portanto, afirmando que as abordagens pós-revisionistas e corporativistas são aquelas, sobretudo a corporativista, que buscam não culpar um dos lados ou embater-se mutuamente. Portanto, elas devem ser, em nossa visão as abordagens historiográficas que, por não negarem o legado da ortodoxa e da revisionista, são capazes de ampliar o escopo de visão dos historiadores de relações internacionais por já se apoiarem em trabalhos previamente feitos e aprofundando-os e melhorando-os.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALPEROVITZ, Gar. Atomic Diplomacy: Hiroshima and Potsdam. London: Secker &Warburg, London, 1966.
BAILEY, Thomas. A Diplomatic History of The American People. New York: Appleton-Century Crofts, 1950.
BERKHOFER, Robert J. Beyond the Great Story: History as Text and Discourse. Cambridge: Harvard University Press, 1995.
BRAUDEL, Fernand. Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1958, Volume 13, Numéro 4, pp. 725-753.
_____. Grammaire des Civilisations. Paris: Champs Histoire, 1958.
_____. Le Temps du Monde : Civilisation matérielle, economie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, tome 3. Paris: A. Colin,1979.
BRZEZINSKI, Zibgnew. EUA, URSS: O Grande Desafio. São Paulo: Nórdica, 1986.
CARR, Edward . Vinte Anos de Crise: 1919 – 1939. Brasília, Editora. Universidade de Brasília, 2001
CLAUSEWITZ, Carl. Da Guerra. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2010.
COX, Robert. Power and World Order. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
DEIGHTON, Anne. The Cold War in Europe. 1945-1947: Three Approaches. IN: WOODS, Ngaire. Explaining International Relations Since 1945. Oxford: Oxford University Press, 1996.
FEIS, Herbert. Churchill-Roosevelt-Stalin. Princeton: Princeton University Press, 1957.
FOUCAULT, Michel. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977. Edited by Colin Gordon. London: Harvester, 1980.
FRANK, Robert (org.). Pour l’histoire des relations internationales. Paris: PUF, 2012.
GADDIS, John. “History, Theory, and Common Ground,” International Security 22, no. 1 (Summer 1997): 75-85.
_____. “The Emerging Post-Revisionist Synthesis on the Origins of the Cold War,” Diplomatic History 7, no. 3 (July 1983):171-190.
_____. We Now Know: Rethinking Cold War History. Oxford: Oxford University Press, 2005.
GILPIN, Robert , War and Change in International Politics, Cambridge: Cambridge. University Press, 1981.
GIRAULT, René ; FRANK, Robert ; THOBIE, Jacques. La loi des géants. Paris: Masson, 1993.
____. Etre historien des relations internationales. Paris: Publications de la Sorbonne, 1998.
GWINN, I. A. Towards A Critical Historiography Of Orthodox-Revisionist Debates On The Origins Of The Cold War: Between Disciplinary Power And U.S. National Identity. Birmingham: University Of Birmingham, Master Thesis, 2009.
HALLIDAY, Fred. The Making of the Second Cold War. IN: HOGAN, Michael. Marshall Plan: America, Britain and the Reconstruction of Western Europe, 1947-1952. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
KENNAN, George. American Diplomacy, 1900-1950. London: Seeker & Warburg, 1952.
_____. Memoirs, 1925-1950. Boston: Little, Brown, 1967.
KING, Gary; KEOHANE, Robert; VERBA,Sidney. Designing Social Inquiry. Princeton: Princeton Universuty Press, 1994.
KOLKO, Gabriel; KOLKO, Joyce. The Limits of Power: The World and United States Foreign Policy, 1945-1954. New York: Harper & Row, 1972.
LITTLE, Richard; BUZAN, Barry. International Systems in World History: Remaking the Study of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2001;
MEARSHEIMER, John. The Tragedy of Great Power Politics. New York: Norton, 2001.
MILLS, C. Wright. The power elite. New York: Oxford University Press, 1956.
NOVICK, Peter. That Noble Dream: The “Objectivity Question” and the American Historical Profession. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
RÉMOND, René. História das Relações Internacionais: 1914 aos nossos dias. São Paulo: Cultrix, 1983.
ROCHA, Alexandre. “Robert Frank and the History of International Relations. Reappraisal and manifesto”. Revista Tempo, Vol. 19, n. 35, 2013
SARAIVA, J. F. (Org.). Regional and National Approaches. Brasília: IBRI, 2009.
____. História das Relações Internacionais. São Paulo: Editora Saraiva, 2008
SCHLESINGER, Jr. Arthur. “Origins of the Cold War,” Foreign Affairs 46 (October 1967): 22-52.
TOCQUEVILLE, Alexis. Democracy in America. Indianapolis: Liberty Fund, 1835 (versão eletrônica).
WATSON, Adam. A evolução da sociedade internacional: Uma análise histórica comparativa. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004
WHITE, Hayden. “The Politics of Historical Interpretation: Discipline and De-Sublimation,” Critical Inquiry, v. 9, no. 1, September 1982: 113-137.
WILLIAMS, William Appleman. The Contours of American History. New York: Norton, 1959.
[1] Conceito tomado da obra de Barry Buzan e Ole Wæver: Regions and Power: The structure of International Security. Cambridge University Press: 2003.
[2] Do alemão, visão de mundo.
Possui graduação em Bacharelado em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina(2014) e mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília(2016). Atualmente é Membro de corpo editorial da Portal Relações Internacionais (Portal Eletrônico), Boslsista de Mestrado CNPq da Universidade de Brasília, Programme and Policy SSA da World Food Programme e do Centro Universitário de Brasília. Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em Política Internacional. Atuando principalmente nos seguintes temas:Integração Regional, UNASUL, Segurança Regional, Segurança Pública, Violência e Política Exterior.